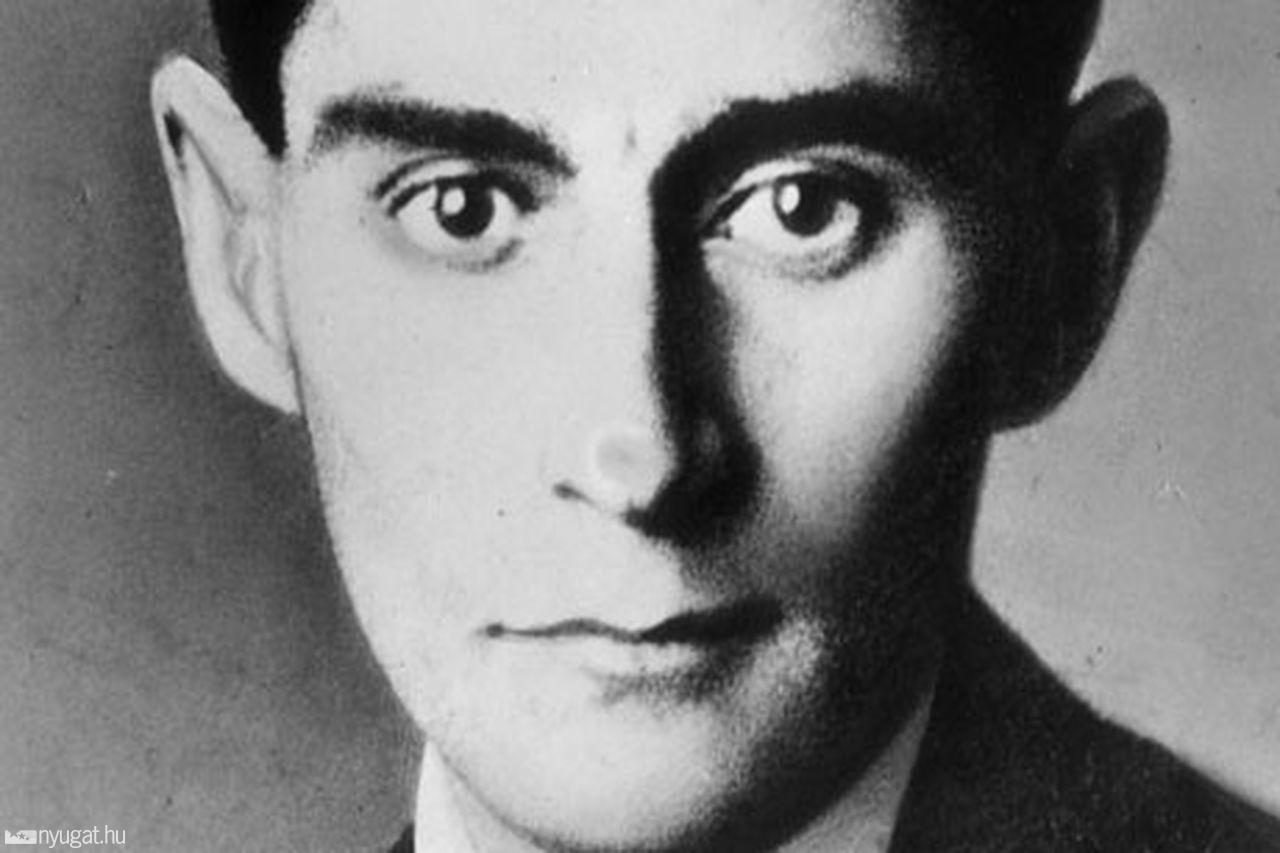Opção cultural

O romance não deixa de ser um documento literário que gera uma discussão sobre a identidade e o folclore, e sobre a própria moralidade — contrariando o autor

A parte mais difícil de ter o segundo filho é fazer com que o primeiro ainda se sinta amado e cuidado

Estarão disponíveis os livros “Dicionário Cínico das Palavras da Moda”, de Ademir Luiz, e “As Casas do Sul e do Norte”, de Solemar Oliveira

A luta contra o materialismo religioso exige um retorno aos princípios fundamentais das religiões e uma renovação do compromisso com a justiça social e o serviço ao próximo

Quando se pensa em algo tão plural e diverso como a existência humana, é difícil imaginar um elemento unificador comum à totalidade dos povos, independente dos aspectos sociais e vivências que os cercam, em todos os cantos do mundo. Apesar de a música, a arte e o futebol serem elementos muito presentes no cotidiano de grande parte das pessoas, ainda assim é complexo considerá-los como algo mais profundo que um ópio diário ou um elemento de fuga através dos sentidos e sentimentos. A religião possui tantas nuances e variações que sua mera existência enquanto conceito universal esbarra em suas próprias particularidades. Qual é, portanto, a linguagem universal à humanidade? Qual a canção que, quando tocada, faz dançar todos os nomes que existiram, existem e existirão sob o céu?
Um dos padrões mais fascinantes da natureza é o trabalho como força motriz para todo e qualquer progresso desenvolvimentista. Formigas e abelhas se distribuem e dividem-se em organizações centradas na força e na estruturação do ato de trabalhar. É somente assim que sobrevivem. Desde a pré-história, a humanidade desenvolveu-se e refinou-se social e tecnologicamente graças à evolução do trabalho. Trabalhar é, mais do que somente algo cotidiano, um elemento essencial para a sobrevivência na Terra. Não existe sobrevivência sem trabalho.
Curioso pensar, também, como não existe opressão surgida sem relacionar-se à divisão do trabalho. Toda forma de ataque e exploração é direta e inevitavelmente relacionada a um elemento estrutural causado em algum ponto pela exploração do trabalho. O racismo é herança dos modos de produção escravistas potencializados pelas Grandes Navegações, assim como o machismo e a misoginia patriarcal originam-se e perpetuam-se, segundo Friedrich Engels, desde a divisão doméstica do trabalho na pré-história. A homofobia surge a partir da predileção por um modelo de família cuja existência é voltada para a lógica de produtividade industrial.
Mais do que somente social, não há opressão que não possua um motivo econômico. Então, por que essas explorações ainda continuam tão presentes, uma vez que aqueles que a sofrem são profundamente mais fortes, numerosos e resistentes do que aqueles que lucram com esses malefícios, sentados em cima de uma estrutura assassina? E qual o valor social daquele que, enfraquecido e maltratado pelo tempo e pelo labor excessivo, não mais pode contribuir para o trabalho social? E quanto aos que não mais estão entre nós, qual valor possuem?
Quando se pensa nas coisas somente sob a ótica do valor, é inevitável enxergar tudo como algo passivo de um mero e oportuno descarte. De que vale uma ampla floresta cujas árvores ocupam um terreno que, se desmatado, poderia alimentar incontáveis pessoas? De que valem os falecidos que ocupam uma planície que, se inundada, servirá para gerar energia para todo um país? De que valem as vidas, os terrenos e as memórias que ousam entrar no inefável trilho do progresso? “O que chamam de progresso é quando o homem pega seu maldito dedo, aponta para a natureza e clama tê-la conquistado”.
Essa é uma frase dita por um dos moradores de Nazaretha, conjunto montanhoso de vales e planícies anteriormente chamado de Vale das Lamentações, onde pode-se escutar as lamúrias de todos aqueles que foram levados pela enchente e, não menos importante, onde centra-se a ação de “Isso não é um enterro, é uma ressurreição”, filme de 2019 dirigido por Lemohang Jeremiah Mosese. Realizador nascido no Lesoto, país enclave na África do Sul, e radicado na Alemanha, possui um cinema profundamente intrigante e autoral que se centra, além das noções de territorialidade e cultura, especialmente em metáforas bíblicas e em noções de martírio em relação aos seus personagens e narrativas. “Mãe, estou sufocando. Esse é meu último filme sobre você”, de 2016, já se apoia profundamente na Via Crucis como metáfora central para estabelecer uma relação transcendental entre maternidade, pátria e colonialismo.
Já em sua obra-prima de 2019, utiliza de uma centralização da noção cristã de martírio para relacionar as noções de ancestralidade e território, opondo-as à opressão econômica, apoiada na muleta do progresso que, em nome do futuro, destrói todo o passado e desidrata as possibilidades do presente. Interessante pensar em como Lemohang utiliza-se de pouquíssimos planos gerais para estabelecer as ações, preferindo os close-ups ou os planos médios que se aproximam através dos zooms, perpetuando os rostos de seus personagens e, consequentemente, suas emoções e vivências. Quando há um plano geral, atua muito mais para estabelecer os territórios selvagens, com a terra sempre ocupando um espaço diminuto no quadro em relação ao céu, o que parece nos dizer que, além de universal, trata-se de um acontecimento que transcende as meras noções de geografia, influenciando na essência do que é ser humano e em sua consequente ligação espiritual com o caminho que perpassa todos aqueles males.
A centralidade dos planos detalhes e o uso de lentes mais abertas, aliada à proporção de tela próxima a um 4:3, cria um mundo, ainda que possua traços culturais e geográficos muito característicos do Lesoto e de seus habitantes, cujas nuances e idiossincrasias poderiam pertencer a qualquer um dos cantos do mundo. A luta de Mantoa, uma anciã brilhantemente interpretada pela mágica Mary Twala, contra um lobby empresarial gigantesco poderia tranquilamente ser transportada para o cerne de “Aquarius”, de Kléber Mendonça Filho, assim como o drama da expropriação perante uma enchente pode ser pensado também sob a ótica da obra literária “O chão sobre as águas”, da escritora goiana Simone Athayde. Para além de sua construção magistral e da valorização da cultura e dos valores locais, a força da obra de Lemohang Jeremiah Mosese está em sua universalidade, em especial ao tratar o não pertencimento como uma questão inerentemente humana.
Em uma obra desse calibre e com uma delicada temática, em especial ao ser protagonizada por uma personagem idosa, é tentador abandonar a estética em detrimento de um teor social pasteurizado ou, pelo contrário, realizar algo socialmente abominável ao olhar somente para a estética. Lemohang, entretanto, é brilhante ao compor os planos de uma forma não somente a descrever muito bem os espaços com suas panorâmicas, mas especialmente ao controlar muito bem o que está em foco e o que está desfocado. Destaca-se como os funcionários da empreiteira, sempre responsáveis por destruições e ruídos externos, não somente jamais tem seus rostos mostrados, como nunca aparecem sequer em foco nos planos, reduzindo-se a meros borrões amarelos. Ainda mais fantástico é como os planos servem de holofote para a oralidade, ponto central da obra, simbolizada pela figura do Narrador e de seu instrumento musical, aflorada por diálogos e monólogos fantásticos que poderiam tranquilamente saírem de livros de poemas.
Assim como, comumente, esperamos que um filme nos guie rumo a uma resolução narrativa, aguardamos da vida a inevitável chegada da morte. Mas e se ela não for o fim? E se todas as pessoas que cruzamos pelo caminho e que não mais podemos tocar nos guiam e apoiam ao longo de toda a caminhada? E se a ressurreição for não através da carne, mas através do martírio cujo caminho serve de inspiração e resistência para as gerações futuras? Assim como Mantoa nunca esteve viva em toda a obra, o Lázaro de “Isso não é um enterro...” não é ressuscitado pelo Messias, mas sim pela noção de coletividade que alimenta todos que o cercam e que, inspirados em sua dança e na luta de sua mártir, avançam rumo à morte certa, mas que é o único caminho através do qual podem permanecer vivos. “Nós acabamos onde começamos. E recomeçamos tudo de novo. Com novos sonhos, novas esperanças, novas ambições e perspectivas. Quem sabe talvez até com um novo Deus?”
- Leia também: Cartas para um mundo em chamas

Fiquei intrigado com o fato de o homem, mesmo morando na rua, pegar as plantas (certamente numa lixeira) e levá-las para “adornar” seu lugarzinho de dormir na calçada suja. Aos seus olhos, as flores certamente serviram de enfeite
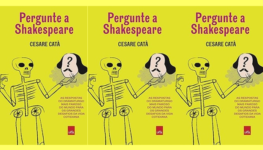
“Macbeth” ajudou-me a viver nesse mundo repleto de encontros e desencontros, em uma sociedade cuja leveza do ser não é sustentável
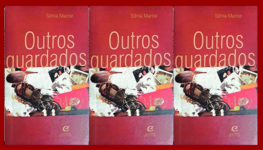
Livro da prosadora e poeta “vai muito além das vivências de uma menina interiorana que migra para a cidade grande, onde estuda e constrói sua vida familiar e profissional”

Cada novo amanhecer, com sua beleza sombria e desoladora, traz apenas uma única certeza: cada plano que fazemos parece ser uma afronta a Deus

Pensar em humanidade é, sobretudo, pensar em dicotomias. Sejam sociais, linguísticas ou econômicas, as bases que sustentam tudo o que conhecemos existem graças ao fato de que somos, enquanto humanos, seres polarizados. Aguardamos pela chegada da noite enquanto nos revigoramos sob os últimos raios de Sol. Queimamo-nos com o toque do gelo e nos refrescamos com um gélido líquido que rasga nossa garganta. Choramos de amor e rimos de ódio. Ansiamos desesperadamente por desbravar o desconhecido quando a beleza do excessivamente conhecido não nos causa nada além de desespero. Organizamo-nos socialmente entre oprimidos e opressores, ainda que essa esteja muito longe de ser uma escolha voluntária. E, acima de tudo, ansiamos por jamais precisarmos escutar a insuportável voz interior que nos sussurra no ouvido todos os dias, através de todas as polaridades.
Enquanto seres sociais e evolutivos, a mais significativa dicotomia para o nosso desenvolvimento aparenta ser, simultaneamente, o desenvolvimento da linguagem e a ocupação dos espaços vazios. Criação e êxodo. De nada adianta vivermos próximos se somos incapazes de linguisticamente nos compreendermos, e de nada adianta entender as dores do próximo se, além do horizonte, existem possibilidades em demasia para que não as desbravemos e convivamos com novas dores de outros próximos. Conforme a evolução tecnológica da humanidade tornou e torna cada vez mais ínfimas as distâncias, mais lotados os antes vazios espaços e mais refinada e universal a linguagem, mais perde-se a noção da importância que a voz interior possui em nossa vivência.
Conforme o primário torna-se sofisticado e o refinado retorna ao primário, há cada vez menos espaço para a solidão em seu sentido literal. Ainda que se busque repousar por meros dois dias, sejam eles úteis ou inúteis, a âncora de nosso novo e admirável mundo nos notifica sobre o quão necessária se faz nossa presença, nosso convívio e, sobretudo, nossa voz. Em uma era onde a vox populi é banalizada, o quão privilegiado é alguém que pode se dar ao luxo de manter-se em silêncio? Como permanecer impassível quando todas as seduções nos sussurram aos ouvidos, pedindo e clamando por nossa voz? O pensador Gilles Deleuze nos disse que, nas sociedades contemporâneas, os instrumentos de controle e opressão, ao invés de reprimir nossa voz e silenciar-nos, nos levam à expressão ininterrupta e incessante, retirando de nossa existência até mesmo a mera possibilidade de não termos nada a dizer.
Capitalismo torna-se inefável e supera até mesmo o fim do mundo, através de sua própria concretização, pois torna a voz exterior infinita enquanto, simultaneamente, sepulta a voz interior. E existe símbolo maior desse modo de organização socioeconômica e síntese dos fenômenos de criação e êxodo do que a selva de concreto onde sonhos são realizados? Enquanto um elemento espacial e multicultural, poucas cidades no mundo foram tão pensadas sob o escopo cinematográfico como Nova York. Seja por autores como Sofia Coppola, John Cassavetes, Spike Lee ou Abel Ferrara, o centro cultural do império americano é, além de tudo, a Roma de nosso tempo: para onde todos os caminhos levam e de onde as maiores barbáries saem. Por que, então, em meio a esse oceano de corpos e vozes, estamos cada vez mais sós?
Pensando a Sétima Arte enquanto expressão da voz interior e síntese das dicotomias humanas, nunca houve, na humilde opinião desse que vos escreve, alguém mais talentoso a fazer cinema do que a belga Chantal Akerman. Aquela que mais belamente transformou nostalgia em melancolia, e vice-versa. Cineasta cujos filmes melhor expressam o que é ser humano em um mundo excessivamente globalizado e contraditório, estabeleceu News From Home, de 1976, a partir de um período em que morou em Nova York após a boa recepção de suas obras por parte de críticas e festivais europeus. Misto entre documentário e filme-ensaio, utiliza como mote central cartas de sua mãe e planos longos e estáticos da Babilônia de nosso tempo enquanto imagem e som unem-se para ressaltar a relação entre palavra e distância.
Através dos planos estáticos, longos e dilatados, Chantal ressalta a natureza enclausurada daquele ponto de vista, em especial devido à possibilidade de comunicação, ainda que haja um oceano entre nós. Mesmo assim, vivendo na Pólis definitiva e sempre tendo notícias de casa, sentimos os planos e a câmera cada vez mais distantes e sós. Mas não é isso algo raro em uma sociedade tão eloquente? Mas não seria justamente uma dicotomia demasiadamente humana transformar o raro em corriqueiro? O quão complexo e difícil para uma mãe é comunicar-se com uma filha tão distante somente através de cartas, sentindo a ausência todos os dias, mas entendendo que tal situação se deve à busca por um sonho ou, em menor escala, um objetivo? Somos seres contraditórios, ainda que nos convençamos diariamente do contrário.
Além de tudo, pensar nessa lógica é pensar no plano final da obra, que equivale à profundidade de uma série de estudos acadêmicos. Observarmos a Metrópoles afastando-se e boiando em meio às águas é, sobretudo, pensar em todos os símbolos sociais que nos cercam e, consequentemente, na vida que vivemos. Em todas as pessoas que cruzamos pelo caminho. Nas emoções que sentimos. No afeto que temos por aqueles que habitam e enriquecem nossos arredores. E, acima de tudo, pensar que, muitas vezes, distanciar-se nada mais é do que um muito bem-vindo até logo.
News From Home é, acima de tudo, uma celebração da vida humana. Vida essa que envolve distâncias, falhas de comunicação e, sobretudo, amor e voz interior. Ainda que haja um oceano a separar-nos, ainda que existam mil e uma pedras no caminho, ainda que falte coragem para externar aquilo que verdadeiramente é sentido. Mas não é a voz interior aquela que verdadeiramente nos representa? Não é nos breves intervalos de silêncio que verdadeiramente nos sentimos vivos? Vivemos porque amamos e, especialmente, por termos uma casa para eternamente retornar. Ainda que Chantal, em seu primeiro trabalho cinematográfico, tenha explodido sua casa, enquanto viva e em atividade, sempre pôde voltar para seu lar, uma vez que a morada são as pessoas que encontramos pelo caminho, e não as paredes que insistem em nos enclausurar.
- Leia também: A banalidade do mal e a cumplicidade do olhar

Dias de Fogo e Sete Léguas de Paraíso são obras que consagram qualquer escritor. Mas há também o poeta, autor de “Quilômetro Um”

A ação criteriosa Amma, além de sua eficiência ambiental, evita desperdício de dinheiro público com o plantio de árvores, que, posteriormente, terão de ser retiradas quando adultas, justamente no momento de desempenharem o seu papel fundamental no meio ambiente

Diogo Alves
A história do cinema é um eterno gênese que se confunde com sua própria busca por aceitação. Entendendo-se como arte qualquer expressão que, acima de tudo e essencialmente, possua existência e experiência estética, uma pintura, uma escultura, um poema e uma peça teatral não possuem qualquer obrigação social, moral ou intelectual a não ser meramente a de exercer uma jornada estética. Portanto, qual é a existência artística de uma inovação tecnológica fruto da revolução industrial cujo objeto final, o retrato fidedigno de um acontecimento, em nada se diferencia daquilo que enxergamos de olhos abertos?
Qual o valor estético de um trem, totalmente em foco, chegando a uma estação no final do século XIX, retratado como mera realidade? Curioso pensar, todavia, que atualmente, alguns dos maiores estetas cinematográficos se baseiam na mera representação do real como ele de fato é. O quão insignificantes são pequenas ficções científicas que em pouco se diferenciam dos teatros de marionetes, vaudevilles e bordeis destinados às classes baixas francesas no início dos anos 1900? Interessante pensar como, em contrapartida, o maior diretor estadunidense das últimas quatro décadas se apropria justamente da dimensão mais circense e primitiva da Sétima Arte. Qual a legitimidade de uma arte que, ao aprofundar-se minimamente além daquilo que nossos olhos testemunham ao encontrarem-se abertos, foi responsável pelo ressurgimento de inúmeras manifestações opressivas em celuloide, louvando valores abjetos como o racismo e o colonialismo?
Para além somente do valor de utilidade, incabível ao pensar-se em arte, algo que o cinema demorou a provar-se como, destaca-se também como a repetição levou à falta de atratividade de algo que capta, para além dos rostos e corpos tão distantes daqueles que observamos em nosso dia a dia, lugares que nunca veremos ou presenciamos em demasia. Jean-Claude Carrière, na introdução ao fantástico “A linguagem secreta do cinema”, nos conta sobre como os colonizadores franceses, no pós-Primeira Guerra Mundial, levavam o cinema à porção norte da África como uma forma de mostrar a mais nova invenção industrial europeia e como uma forma de ressaltar os valores coloniais e raciais desse povo cujo toque é tão destrutivo como o de Midas é reluzente.
Ressalta-se, entretanto, que devido aos valores islâmicos de boa parte dos habitantes do norte africano e, consequentemente, o fato de não poderem representar a face e a forma humana, criações divinas, os levavam a fechar os olhos por completo assim que a luz do projetor tocava a superfície branca da tela. Ainda que tardiamente, o cinema desenvolveu uma base linguística muito sólida, eternamente em movimento e que ajudou a consolidá-lo como expressão artística. Conceitualmente, uma das primeiras funções da linguagem que se aprende é que se não há receptor, todo o resto é em vão. Entretanto, cinema é mais do que mera linguagem. É arte.
E como arte, não há necessidade alguma além da existência estética. O quão bonita é uma paisagem vista através das pálpebras fechadas, com a pele atravessada pelos raios solares, composta pela luz invasora e pela imaginação fruto dos sons arredores? Em nossos sonhos, quantas vezes nos enxergamos presenciando as mais maravilhosas ou sombrias realidades somente para acordarmos e ou nos decepcionarmos ou nos vermos vivos novamente, por mais um longo dia? Não estariam aqueles povos que, ao recusarem-se a ir contra os mandamentos de Deus, mostrando-nos o verdadeiro caminho e a melhor forma para experienciarmos o cinema e a arte?
Escrevo essas palavras pois creio que a Sétima Arte se encontra em uma de suas piores crises estéticas e de linguagem do século XXI. Um filme perde toda a sua magia se, em um universo ficcional, a mais banal das leis da física é desrespeitada. Um personagem perde todo seu carisma se toma uma decisão que fuja um milímetro da longa e retilínea calçada da lógica. Um diretor torna-se um canalha quando um de seus filmes possui uma mensagem (ou não possui mensagem alguma) que desafie minimamente o mais comum dos sensos e o melhor dos costumes.
A profusão e a perpetuação de imagens ao nosso redor não só substituiu o mundo em que vivemos, mas tornou-nos insensíveis e, acima de tudo, insuportáveis. Muito porque nossos olhos estão tão abertos que não possuímos mais pálpebras, mas somente uma membrana tão cristalina como as imagens digitais geradas pelas câmeras cinematográficas que possuímos hoje em dia, e que lentamente estão esvaziando a estética cinematográfica e a maravilha da surpresa. Pedaços de pele esses que, assim como os personagens dos filmes moralistas e demasiadamente bonzinhos que assistimos, recusam a tocarem-se. Luís Buñuel, parceiro recorrente de Carrière, era um grande visionário, mas não creio que em seu “Cão Andaluz” ele imaginava que uma navalha poderia abrir um olho de uma forma tão irrecuperável como a que nos encontramos hoje.
Não creio que se trata de um mal maniqueísta, e muito menos de um problema que requer solução. Defendo somente que a falta de sensibilidade deva ser tratada com uma busca diferente. Com um fechar de olhos. Com um cinema cujas imagens sejam tão cristalinas como os raios de sol que invadem nossas pálpebras cerradas. Com um cinema cujos cenários sejam tão nítidos como as silhuetas sombrias e noturnas de magníficas montanhas recortadas por um céu nublado. Por um cinema com histórias e mensagens tão louváveis como um casal de bandidos juvenis que aprendem a se amar em uma rodovia em meio a assaltos. Por um cinema, como teorizado por Andrei Tarkovski, que se rememore da ausência de regras em sua própria lógica de funcionamento existencial. Por um cinema, como disse Stan Brakhage, um dos maiores cineastas experimentais de todos os tempos, onde pode-se “imaginar um mundo vivo, com objetos incompreensíveis e reluzente com uma infinita variedade de movimento e inumeráveis gradações de cor. Imagine um mundo antes do princípio ser verbo”.[1]
Mais do que somente antes do princípio ser verbo, por um cinema onde tudo é inconsequente e inesperado. Onde histórias e verossimilhanças são irrelevantes, pois o que valem são as emoções que escutamos e sentimos com nossos cristalinos olhos fechados e nossas almas abertas. Abel Gance já dizia que “o cinema é a música da luz”, então que não tenhamos medo de dançar diante da luz e bailar para a sombra. Arte não é vida real, e o cinema é arte. As vinte quatro fotogramas por segundo são alquimia, e acima de tudo, experiência. Irreal, real ou surreal, o que vale a pena, caro leitor, é estar aberto a experienciar as imagens em movimento e deixar-nos guiar por sua magia.
[1] Stan Brakhage, “Metáforas da Visão”. Traduzido pelo autor do original em inglês

Os 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas e uma breve reflexão sobre a economia brasileira durante e depois de seu governo
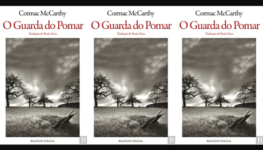
A narrativa não perdoa: a lei substitui as tradições, a rebeldia e os ideais anárquicos encontram seu fim atrás das grades; a liberdade é uma ilusão em constante metamorfose