Por Redação

Dôniara e A Viagem de Ícaro serão exibidos nesta quinta-feira. Filmes tratam da relação do ser humano com a natureza. Entrada é franca

Com missão de desafogar demanda reprimida de 10 mil pedidos na pasta e evitar crise hídrica, secretário adota novo modelo de gestão para dar agilidade à Secima

Presidente da OVG, primeira-dama do Estado destaca importância do serviço prestado pelo Centro de Apoio aos Romeiros na procissão de 22 de junho a 1º de julho

“O Pai da Menina Morta”, este curto romance inclassificável lançado pela editora Todavia, já pode constar facilmente na lista de melhores livros de 2018
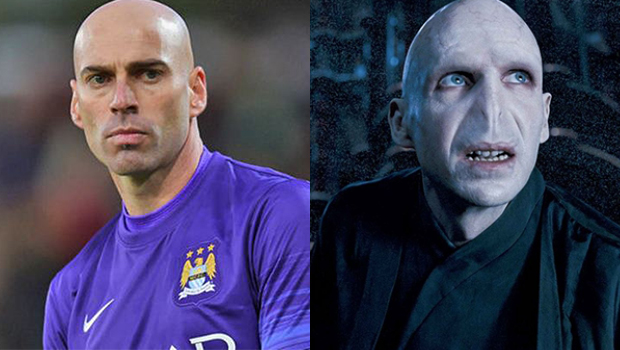
Veículos de comunicação latinos uniram ironia e tristeza ao publicarem o placar do jogo contra a Croácia que foi de 3 a 0

“O fotógrafo tem sempre que estar atento. Se tem dez fotógrafos juntos para cobrir um evento, eu nunca estou entre eles, porque o meu objetivo é buscar outro ângulo”, diz

Luzanir Luíza de Moura Peixoto lança “Conservação e Preservação do Calçamento a Paralelepípedo na Cidade de Piracanjuba-GO”

São oferecidos cursos de formação inicial e continuada (FIC) na unidade, que fica no Setor Leste Universitário

Evento acontece simultaneamente em 60 cidades brasileiras, levando às telonas o melhor da produção cinematográfica na língua de Balzac

Deputado federal do PSD diz acreditar que governador terá tempo e condições de crescer nas pesquisas pelo legado de seu grupo e ações à frente do Estado

Após temporada de seis meses no Rio de Janeiro, com direção de Celina Sodré, Luciano Caldas faz apresentação única de uma releitura do texto de Shakespeare

Entre as demandas do eleitorado do pré-candidato do PSL estão combate à violência e valorização da família
[caption id="attachment_119755" align="alignleft" width="300"] Dado a declarações polêmicas, Bolsonaro ganha cada vez mais popularidade entre o eleitorado | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil[/caption]
Fernanda Garcia
Integridade, segurança, defesa da família e militarização. Essas são algumas das expressões utilizadas por eleitores goianos do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) para defender sua candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano. Em 2014, o parlamentar já dava indícios de que participaria da disputa, ganhando cada vez mais expressão na rota da direita brasileira, que, se antes apenas sussurrava seus ideais conservadores, hoje os expressa com maior força, projetando uma posição que o próprio pré-candidato chamou de “direita, sem vergonha”.
Capitão da reserva do Exército, Jair Bolsonaro nasceu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Há mais de 25 anos na vida pública, ele coleciona sete mandatos como deputado federal, o último, em 2014, sendo o mais votado no Rio na disputa pela Câmara, com 464 mil votos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nesses anos de atuação política, Bolsonaro migrou seu foco dos interesses de militares, sua base eleitoral nos anos de 1990, para uma ampliação de suas propostas, encontrando na segurança pública uma de suas principais bandeiras.
Com apenas dois projetos aprovados ao longo de sua carreira – um estendendo o benefício de isenção do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para itens de informática e outro autorizando o uso da chamada “pílula do câncer” –, o presidenciável tem buscado apresentar em seu último mandato mais propostas que dizem respeito ao combate à violência, um tema tão caro à população. Dos projetos de lei e PECs apresentados neste ano e no anterior, oito são voltados para a segurança.
Dado a declarações polêmicas, Bolsonaro é réu por incitação ao estupro e injúria. Com um discurso fortemente aliado aos valores considerados “tradicionalistas”, o pré-candidato vem ganhando popularidade, a despeito de suas falas radicais, entre o eleitorado, liderando pesquisas de intenções de voto. Entre os cinco eleitores que expuseram ao Jornal Opção o que pensam e porque votam nele, é consenso que Bolsonaro seria um bom gestor por se preocupar com a violência no Brasil e dar menos prioridade para políticas sociais.
Armamento
Jair Bolsonaro é defensor ferrenho do porte de arma de fogo, e a questão ganha projeção nos debates sobre segurança. O político é a favor de uma revisão no Estatuto do Desarmamento e prega o armamento para os “cidadãos de bem”. Eleitor do pré-candidato, o empresário Wesley Melo, 43 anos, acredita que a arma funcionaria como uma prevenção já que “o bandido iria pensar duas vezes antes de agir”. Segundo ele, o indivíduo armado teria mais chances de se defender em situações como assaltos.
Também a favor de um projeto armamentista, a cirurgiã-dentista Jussana Vidica, 49 anos, afirma que as armas não devem ficar apenas nas mãos do “Estado e dos bandidos”. O cidadão deveria ter esse direito garantido a fim de se defender. Para ela, a concessão da arma seria realizada após uma investigação e respondendo a algumas regras como “idade superior a 25 anos”.
Da mesma forma, a jornalista e eleitora Denise Vargas, 47 anos, defende uma avaliação mais criteriosa. De acordo com ela, o assunto é “deturpado” no Brasil e Bolsonaro “não sairia por aí distribuindo armas para todo mundo”. A jornalista cita os Estados Unidos como exemplo, apesar de estudos relacionarem o crescimento da violência ao armamento. Ela argumenta que existiria uma análise prévia individual para liberar ou não a arma e que a política desarmamentista não está sendo efetiva, uma vez que “os bandidos não estão devolvendo suas armas”.
A professora de Direito da Universidade Federal de Goiás, Cláudia Helena Gomes, também eleitora do parlamentar, diz que a questão é mal-interpretada. Segundo ela, “o direito do cidadão de ter uma arma para se defender vem da impossibilidade de o Estado estar presente em todas as situações”. A professora, no entanto, não acredita que a discussão do armamento esteja relacionada a questões de segurança pública. Esta última diria respeito ao Estado e passaria por “outras variáveis”.
Pautas sociais
Os eleitores do Bolsonaro parecem compartilhar do sentimento de que “priorizar minorias” não deveria ser a pauta de um governo. Segundo a professora Cláudia Helena, esse é inclusive um dos motivos pelos quais seu voto não irá de forma alguma para candidatos da esquerda. “As pautas da esquerda de cunho social e moral não combinam com a parcela majoritária da população, que é conservadora”, ressalta.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Jussana Vidica coloca que “quando as pessoas se tornam minoria dentro de uma sociedade, elas precisam respeitar a maioria”. Ela afirma que não tem preconceito contra gays ou negros, mas que não apoia políticas LGBT, por exemplo. “Eles querem que virem lei, e virar lei significa nos engessar e nos obrigar ao que eles impõem”.
Outro ponto levantado é o do “privilégio para as minorias”. Conforme Denise Vargas, todos devem ser tratados de forma igual. As políticas públicas devem “atender a todas as pessoas”, explica. Denise questiona: “O que é inclusão LGBT, afinal? As pessoas devem conquistar seus espaços por mérito e não por opção sexual ou cota disso, cota daquilo”. Continuando, ela diz que “as pessoas são o que são, competentes ou incompetentes, independente de gênero e opção sexual”.
[caption id="attachment_127609" align="alignleft" width="620"]
Dado a declarações polêmicas, Bolsonaro ganha cada vez mais popularidade entre o eleitorado | Foto: Wilson Dias/Agência Brasil[/caption]
Fernanda Garcia
Integridade, segurança, defesa da família e militarização. Essas são algumas das expressões utilizadas por eleitores goianos do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) para defender sua candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano. Em 2014, o parlamentar já dava indícios de que participaria da disputa, ganhando cada vez mais expressão na rota da direita brasileira, que, se antes apenas sussurrava seus ideais conservadores, hoje os expressa com maior força, projetando uma posição que o próprio pré-candidato chamou de “direita, sem vergonha”.
Capitão da reserva do Exército, Jair Bolsonaro nasceu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Há mais de 25 anos na vida pública, ele coleciona sete mandatos como deputado federal, o último, em 2014, sendo o mais votado no Rio na disputa pela Câmara, com 464 mil votos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Nesses anos de atuação política, Bolsonaro migrou seu foco dos interesses de militares, sua base eleitoral nos anos de 1990, para uma ampliação de suas propostas, encontrando na segurança pública uma de suas principais bandeiras.
Com apenas dois projetos aprovados ao longo de sua carreira – um estendendo o benefício de isenção do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para itens de informática e outro autorizando o uso da chamada “pílula do câncer” –, o presidenciável tem buscado apresentar em seu último mandato mais propostas que dizem respeito ao combate à violência, um tema tão caro à população. Dos projetos de lei e PECs apresentados neste ano e no anterior, oito são voltados para a segurança.
Dado a declarações polêmicas, Bolsonaro é réu por incitação ao estupro e injúria. Com um discurso fortemente aliado aos valores considerados “tradicionalistas”, o pré-candidato vem ganhando popularidade, a despeito de suas falas radicais, entre o eleitorado, liderando pesquisas de intenções de voto. Entre os cinco eleitores que expuseram ao Jornal Opção o que pensam e porque votam nele, é consenso que Bolsonaro seria um bom gestor por se preocupar com a violência no Brasil e dar menos prioridade para políticas sociais.
Armamento
Jair Bolsonaro é defensor ferrenho do porte de arma de fogo, e a questão ganha projeção nos debates sobre segurança. O político é a favor de uma revisão no Estatuto do Desarmamento e prega o armamento para os “cidadãos de bem”. Eleitor do pré-candidato, o empresário Wesley Melo, 43 anos, acredita que a arma funcionaria como uma prevenção já que “o bandido iria pensar duas vezes antes de agir”. Segundo ele, o indivíduo armado teria mais chances de se defender em situações como assaltos.
Também a favor de um projeto armamentista, a cirurgiã-dentista Jussana Vidica, 49 anos, afirma que as armas não devem ficar apenas nas mãos do “Estado e dos bandidos”. O cidadão deveria ter esse direito garantido a fim de se defender. Para ela, a concessão da arma seria realizada após uma investigação e respondendo a algumas regras como “idade superior a 25 anos”.
Da mesma forma, a jornalista e eleitora Denise Vargas, 47 anos, defende uma avaliação mais criteriosa. De acordo com ela, o assunto é “deturpado” no Brasil e Bolsonaro “não sairia por aí distribuindo armas para todo mundo”. A jornalista cita os Estados Unidos como exemplo, apesar de estudos relacionarem o crescimento da violência ao armamento. Ela argumenta que existiria uma análise prévia individual para liberar ou não a arma e que a política desarmamentista não está sendo efetiva, uma vez que “os bandidos não estão devolvendo suas armas”.
A professora de Direito da Universidade Federal de Goiás, Cláudia Helena Gomes, também eleitora do parlamentar, diz que a questão é mal-interpretada. Segundo ela, “o direito do cidadão de ter uma arma para se defender vem da impossibilidade de o Estado estar presente em todas as situações”. A professora, no entanto, não acredita que a discussão do armamento esteja relacionada a questões de segurança pública. Esta última diria respeito ao Estado e passaria por “outras variáveis”.
Pautas sociais
Os eleitores do Bolsonaro parecem compartilhar do sentimento de que “priorizar minorias” não deveria ser a pauta de um governo. Segundo a professora Cláudia Helena, esse é inclusive um dos motivos pelos quais seu voto não irá de forma alguma para candidatos da esquerda. “As pautas da esquerda de cunho social e moral não combinam com a parcela majoritária da população, que é conservadora”, ressalta.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Jussana Vidica coloca que “quando as pessoas se tornam minoria dentro de uma sociedade, elas precisam respeitar a maioria”. Ela afirma que não tem preconceito contra gays ou negros, mas que não apoia políticas LGBT, por exemplo. “Eles querem que virem lei, e virar lei significa nos engessar e nos obrigar ao que eles impõem”.
Outro ponto levantado é o do “privilégio para as minorias”. Conforme Denise Vargas, todos devem ser tratados de forma igual. As políticas públicas devem “atender a todas as pessoas”, explica. Denise questiona: “O que é inclusão LGBT, afinal? As pessoas devem conquistar seus espaços por mérito e não por opção sexual ou cota disso, cota daquilo”. Continuando, ela diz que “as pessoas são o que são, competentes ou incompetentes, independente de gênero e opção sexual”.
[caption id="attachment_127609" align="alignleft" width="620"] A cirugiã-dentista Jussana Vidica defende a valorização da família | Professora da UFG, Cláudia Helena afirma que irá votar no deputado federal pois ele “sabe o que impacta na vida do brasileiro”|| Fotos: Divulgação / Facebook[/caption]
Uma das preocupações entre os eleitores Wesley, Jussana e o policial militar Eduardo Reis, 41 anos, é o “resgate” aos valores familiares. Projetos de inclusão e valorização da diversidade são, não raro, associados por eles a preceitos morais. Um dos exemplos citados pela dentista foi a “ideologia de gênero nas escolas”, da qual revelou ser contra.
Em 2011 foi lançado um material com intuito de combater a homofobia nas escolas. A discussão do Escola sem Homofobia, na época chamado de “kit gay” pela bancada evangélica, gerou polêmica e Bolsonaro alegou que os grupos LGBT “incentivaram o homossexualismo (sic.) e a promiscuidade”. Nesse sentido, o policial Eduardo afirma que cada um tem liberdade para fazer suas escolhas, mas se preocupa com a “exposição” de, por exemplo, beijo entre casais gays na programação televisiva.
Economia
Um dos motivos que farão Cláudia Helena votar no Bolsonaro é o fato de ele admitir que não entende profundamente sobre assuntos econômicos. “A humildade”, ela assinala. A professora explica que por isso o presidenciável já anunciou que indicará Paulo Guedes, economista liberal e ex-banqueiro. Guedes tem feito declarações mais ponderadas à imprensa, alegando que Bolsonaro cometeu excessos, “mas tem demonstrado retidão”.
Denise Vargas também compartilha da ideia de que o pré-candidato, se eleito, não governará sozinho e contará com uma equipe especializada para auxiliá-lo. A área econômica, todavia, é pouco abordada entre o restante dos eleitores. Apenas Jussana Vidica discorre ligeiramente sobre o tema explicando que esse seria um tópico secundário em seus critérios de votação. “O que mais me chama a atenção do Bolsonaro é que ele coloca Deus acima de tudo. Não adianta um candidato que fale sobre economia, segurança e educação sem colocar Deus acima de tudo”, diz.
Militarização
Vários elogios à ditadura militar já foram abertamente proferidos por Jair Bolsonaro. Defensor de um projeto desenvolvimentista hereditário do período autoritário, o pré-candidato dá espaço agora para um discurso pró-mercado, faltando quatro meses para as eleições. Em 2016, o político afirmou que o coronel Carlos Brilhante Ustra, reconhecido em primeira instância como torturador da ditadura, é um “herói brasileiro”. Nenhum dos eleitores se auto-declarara intervencionista, no entanto houve ressalvas quanto ao regime militar.
Jussana entende que a intervenção seria “o último recurso”. “Eu defendo sempre a democracia até o último momento, até onde o povo realmente seja tratado democraticamente”, afirma. Wesley, por sua vez, diz que conversa com seus pais e a opinião deles é de que foi “um período bom”. Já Eduardo defende um “endurecimento das leis” e a implantação de uma “disciplina militar”, mas, segundo ele, não um regime ditatorial propriamente.
Para a jornalista Denise, é preciso analisar criticamente a forma como a imprensa tem tratado Bolsonaro. Para ela, a mídia é responsável por uma “caricaturização” do deputado, “deturpando” suas propostas e declarações. Denise afirma que “nem os militares querem fazer intervenção”. Ela diz ainda que “Bolsonaro será eleito democraticamente”, portanto a associação ao regime totalitário seria errônea.
Corrupção
Um elogio recorrente ao presidenciável diz respeito a sua “integridade” e “não envolvimento em escândalos de corrupção”. Segundo Eduardo, Bolsonaro é o candidato mais preparado para dar um jeito na “bagunça em Brasília”. Denise também concorda: “Ele é o único candidato ficha limpa entre os presidenciáveis. Para mim, é um homem íntegro”.
O combate à corrupção também é um dos fatores determinantes para o voto de Wesley. “É um parlamentar que está na Câmara há mais de cinco mandados e não foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção”, diz. Bolsonaro responde a dois processos. Uma das acusações é a de injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS), a quem teria dito que não merecia ser estuprada por “ser feia”. O deputado também é réu por incitação ao estupro em processo movido pela Procuradoria-Geral da República (PRG).
Declarações polêmicas e condutas suspeitas à parte, os eleitores mantêm expectativas positivas e afirmam que não se pode esperar um “candidato perfeito”. Eduardo, o policial militar, admite: “Não sei se irá resolver, mas ele tem diferencial”. l
A cirugiã-dentista Jussana Vidica defende a valorização da família | Professora da UFG, Cláudia Helena afirma que irá votar no deputado federal pois ele “sabe o que impacta na vida do brasileiro”|| Fotos: Divulgação / Facebook[/caption]
Uma das preocupações entre os eleitores Wesley, Jussana e o policial militar Eduardo Reis, 41 anos, é o “resgate” aos valores familiares. Projetos de inclusão e valorização da diversidade são, não raro, associados por eles a preceitos morais. Um dos exemplos citados pela dentista foi a “ideologia de gênero nas escolas”, da qual revelou ser contra.
Em 2011 foi lançado um material com intuito de combater a homofobia nas escolas. A discussão do Escola sem Homofobia, na época chamado de “kit gay” pela bancada evangélica, gerou polêmica e Bolsonaro alegou que os grupos LGBT “incentivaram o homossexualismo (sic.) e a promiscuidade”. Nesse sentido, o policial Eduardo afirma que cada um tem liberdade para fazer suas escolhas, mas se preocupa com a “exposição” de, por exemplo, beijo entre casais gays na programação televisiva.
Economia
Um dos motivos que farão Cláudia Helena votar no Bolsonaro é o fato de ele admitir que não entende profundamente sobre assuntos econômicos. “A humildade”, ela assinala. A professora explica que por isso o presidenciável já anunciou que indicará Paulo Guedes, economista liberal e ex-banqueiro. Guedes tem feito declarações mais ponderadas à imprensa, alegando que Bolsonaro cometeu excessos, “mas tem demonstrado retidão”.
Denise Vargas também compartilha da ideia de que o pré-candidato, se eleito, não governará sozinho e contará com uma equipe especializada para auxiliá-lo. A área econômica, todavia, é pouco abordada entre o restante dos eleitores. Apenas Jussana Vidica discorre ligeiramente sobre o tema explicando que esse seria um tópico secundário em seus critérios de votação. “O que mais me chama a atenção do Bolsonaro é que ele coloca Deus acima de tudo. Não adianta um candidato que fale sobre economia, segurança e educação sem colocar Deus acima de tudo”, diz.
Militarização
Vários elogios à ditadura militar já foram abertamente proferidos por Jair Bolsonaro. Defensor de um projeto desenvolvimentista hereditário do período autoritário, o pré-candidato dá espaço agora para um discurso pró-mercado, faltando quatro meses para as eleições. Em 2016, o político afirmou que o coronel Carlos Brilhante Ustra, reconhecido em primeira instância como torturador da ditadura, é um “herói brasileiro”. Nenhum dos eleitores se auto-declarara intervencionista, no entanto houve ressalvas quanto ao regime militar.
Jussana entende que a intervenção seria “o último recurso”. “Eu defendo sempre a democracia até o último momento, até onde o povo realmente seja tratado democraticamente”, afirma. Wesley, por sua vez, diz que conversa com seus pais e a opinião deles é de que foi “um período bom”. Já Eduardo defende um “endurecimento das leis” e a implantação de uma “disciplina militar”, mas, segundo ele, não um regime ditatorial propriamente.
Para a jornalista Denise, é preciso analisar criticamente a forma como a imprensa tem tratado Bolsonaro. Para ela, a mídia é responsável por uma “caricaturização” do deputado, “deturpando” suas propostas e declarações. Denise afirma que “nem os militares querem fazer intervenção”. Ela diz ainda que “Bolsonaro será eleito democraticamente”, portanto a associação ao regime totalitário seria errônea.
Corrupção
Um elogio recorrente ao presidenciável diz respeito a sua “integridade” e “não envolvimento em escândalos de corrupção”. Segundo Eduardo, Bolsonaro é o candidato mais preparado para dar um jeito na “bagunça em Brasília”. Denise também concorda: “Ele é o único candidato ficha limpa entre os presidenciáveis. Para mim, é um homem íntegro”.
O combate à corrupção também é um dos fatores determinantes para o voto de Wesley. “É um parlamentar que está na Câmara há mais de cinco mandados e não foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção”, diz. Bolsonaro responde a dois processos. Uma das acusações é a de injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS), a quem teria dito que não merecia ser estuprada por “ser feia”. O deputado também é réu por incitação ao estupro em processo movido pela Procuradoria-Geral da República (PRG).
Declarações polêmicas e condutas suspeitas à parte, os eleitores mantêm expectativas positivas e afirmam que não se pode esperar um “candidato perfeito”. Eduardo, o policial militar, admite: “Não sei se irá resolver, mas ele tem diferencial”. l

Segundo diretora-geral, principal foco da instituição tem sido capacitar pessoas e continuar a desenvolver gestão organizacional mais qualificada

Autoridades de Trindade prestaram homenagem à data com ações no Parque Municipal Maria Pires Perillo


