Por Cláudio Ribeiro

A dança do subsolo de Bausch nos traz à mente o Inferno de Dante. Suas repetições infinitas lembram várias cenas da Comédia, tal qual a que se passa no quarto círculo do Inferno: onde os avaros e os pródigos estão divididos em dois grupos opostos e empurrando grandes pesos. Obrigados a percorrer o círculo em movimento contrário um do outro, os dois grupos se chocam eternamente e gritam: "Por que poupas? Por que dilapidas?"
[caption id="attachment_89475" align="aligncenter" width="620"] Bailarinos representando a coreografia de "A Sagração da Primavera" de Pina Bausch[/caption]
Paulo Guicheney
Especial para o Jornal Opção
Pina Bausch e Igor Stravinsky não se conheceram. Pelo menos não no sentido mais comum de "se conhecer". A “Sagração da Primavera”, a obra mais célebre do compositor russo, foi composta em 1913. Pina nasceu em 1940, e sua coreografia da “Sagração” em 1975. Stravinsky morreu em 1971.
Teria o compositor aprovado o trabalho de Bausch? É óbvio que não temos resposta para isso. E qual seria a importância? Nenhuma. Assim como a obra de Bausch, e a obra de qualquer artista que mereça ter seu nome citado, a música de Stravinsky permite várias interpretações, várias leituras. É óbvio também que não qualquer leitura. Mais de 150 coreografias foram criadas desde Nijinsky, e é interessante saber que o próprio Stravinsky não aprovou a primeira versão: "Nijinsky (...) desconhecia o alfabeto musical. Ele jamais compreendeu metros musicais e não tinha uma percepção muito correta de andamento. Pode-se imaginar então o caos rítmico que foi Le Sacre du Printemps (...). E Nijinsky também não fez nenhuma tentativa para compreender minhas próprias ideias coreográficas para Le Sacre. Ele acreditava que a coreografia devia reenfatizar o pulso e o padrão musical através de coordenação constante. Como resultado, isto restringia a dança à duplicação da música e fazia dela uma imitação."
Se a crítica de Stravinsky é válida ou não, temos objeto para infindáveis discussões. Novamente: qual a importância de seu consentimento? Provavelmente, nenhuma. Mais produtivo é pensar a leitura que Bausch fez de sua peça. Uma leitura separada por mais de 60 anos.
Arrisquemos uma fórmula para a coreografia de Bausch: Jovem dança até a morte. O Outro olha e goza, impassível. Não seria uma fórmula para a nossa própria existência? Não poderíamos nos colocar nesse lugar? Desagradável, sim. Mas um lugar provável.
Da música de Stravinsky, desta, como definiu Alex Ross, "música do corpo, ao invés da mente" Bausch extraiu o máximo. Somos todo o tempo jogados de um lado a outro, ofegantes, sujos. Parodiando Schoenberg poderíamos dizer que a: "Dança expressa tudo o que habita em nós..." A dança em Pina Bausch expressa tudo o que de pior nos habita.
Uma dança do subsolo.
Uma possível semelhança com a coreografia de Nijinsky – e aqui vemos um elemento tradicional na poética de Bausch – é que a música também estrutura o todo. Ela é a responsável pela forma. Tal não acontece em “Café Müller” – aqui a música está destituída de seu poder de estruturar o indizível. A música de Purcell em “Café Müller” apenas evoca, machuca. É mais uma voz na polifonia do desespero e do isolamento. Uma personagem acusmática, mas também feminina, na voz angustiada de Dido.
[caption id="attachment_89476" align="alignleft" width="150"]
Bailarinos representando a coreografia de "A Sagração da Primavera" de Pina Bausch[/caption]
Paulo Guicheney
Especial para o Jornal Opção
Pina Bausch e Igor Stravinsky não se conheceram. Pelo menos não no sentido mais comum de "se conhecer". A “Sagração da Primavera”, a obra mais célebre do compositor russo, foi composta em 1913. Pina nasceu em 1940, e sua coreografia da “Sagração” em 1975. Stravinsky morreu em 1971.
Teria o compositor aprovado o trabalho de Bausch? É óbvio que não temos resposta para isso. E qual seria a importância? Nenhuma. Assim como a obra de Bausch, e a obra de qualquer artista que mereça ter seu nome citado, a música de Stravinsky permite várias interpretações, várias leituras. É óbvio também que não qualquer leitura. Mais de 150 coreografias foram criadas desde Nijinsky, e é interessante saber que o próprio Stravinsky não aprovou a primeira versão: "Nijinsky (...) desconhecia o alfabeto musical. Ele jamais compreendeu metros musicais e não tinha uma percepção muito correta de andamento. Pode-se imaginar então o caos rítmico que foi Le Sacre du Printemps (...). E Nijinsky também não fez nenhuma tentativa para compreender minhas próprias ideias coreográficas para Le Sacre. Ele acreditava que a coreografia devia reenfatizar o pulso e o padrão musical através de coordenação constante. Como resultado, isto restringia a dança à duplicação da música e fazia dela uma imitação."
Se a crítica de Stravinsky é válida ou não, temos objeto para infindáveis discussões. Novamente: qual a importância de seu consentimento? Provavelmente, nenhuma. Mais produtivo é pensar a leitura que Bausch fez de sua peça. Uma leitura separada por mais de 60 anos.
Arrisquemos uma fórmula para a coreografia de Bausch: Jovem dança até a morte. O Outro olha e goza, impassível. Não seria uma fórmula para a nossa própria existência? Não poderíamos nos colocar nesse lugar? Desagradável, sim. Mas um lugar provável.
Da música de Stravinsky, desta, como definiu Alex Ross, "música do corpo, ao invés da mente" Bausch extraiu o máximo. Somos todo o tempo jogados de um lado a outro, ofegantes, sujos. Parodiando Schoenberg poderíamos dizer que a: "Dança expressa tudo o que habita em nós..." A dança em Pina Bausch expressa tudo o que de pior nos habita.
Uma dança do subsolo.
Uma possível semelhança com a coreografia de Nijinsky – e aqui vemos um elemento tradicional na poética de Bausch – é que a música também estrutura o todo. Ela é a responsável pela forma. Tal não acontece em “Café Müller” – aqui a música está destituída de seu poder de estruturar o indizível. A música de Purcell em “Café Müller” apenas evoca, machuca. É mais uma voz na polifonia do desespero e do isolamento. Uma personagem acusmática, mas também feminina, na voz angustiada de Dido.
[caption id="attachment_89476" align="alignleft" width="150"] À esquerda, Stravinsky, acompanhado do coreógrafo de "A Sagração da Primavera", Nijinsky[/caption]
A dança do subsolo de Bausch nos traz à mente o Inferno de Dante. Suas repetições infinitas lembram várias cenas da Comédia, tal qual a que se passa no quarto círculo do Inferno: onde os avaros e os pródigos estão divididos em dois grupos opostos e empurrando grandes pesos. Obrigados a percorrer o círculo em movimento contrário um do outro, os dois grupos se chocam eternamente e gritam: "Por que poupas"? "Por que dilapidas?".
Perguntas sem resposta. Koans do desespero. Ou a própria técnica de pergunta-resposta, com a qual Bausch trabalhou desde 1978: 1) Copie o tique de alguém; 2) Faça algo do qual você se envergonhe; 3) Escreva seu nome com movimento; 4) O que você faria com um cadáver? 5) Mova sua parte favorita do corpo; 6) Como você se comporta quando perde alguma coisa?
Perguntas que geram Koans do corpo. Podemos novamente nos arriscar – ter com Pina Bausch é estar sempre no risco – e dizer que toda arte aspira à condição de Koan.
E somos forçados a lembrar Dante mais uma vez, quando na quarta vala do oitavo círculo do Inferno o poeta se comove com a pena dada aos adivinhos: com a cabeça torcida para as costas, impedidos de olhar para frente, eles estão eternamente, a condição do tempo no inferno, condenados a caminhar para trás. Podemos acrescentar uma pergunta ao questionário de Bausch: Como você caminharia se sua cabeça fosse torcida para trás?
Uma pergunta que evoca uma resposta do Inconsciente. "A arte pertence ao inconsciente! O artista deve expressar a si mesmo! Expressar a si mesmo diretamente! Não seu gosto, sua educação, inteligência, conhecimento ou habilidade", diz Schoenberg em uma carta a Kandinsk. Poderia ter sido dito por Pina Bausch.
Não há salvação possível, sabemos disso. A vida, ou melhor dizendo, a morte não perdoa nem mesmo os atores, lembremos do recado de Bergman no “Sétimo Selo”. Mesmo a criação artística falha, no intuito de trazer a felicidade, quando é o corpo que sofre, nos ensina Freud: "(...) a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir mais que um passageiro alheamento às durezas da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer a miséria real".
Mas o que devemos fazer? Tudo falha. Em um momento ou outro tudo falha. É a condição da vida. "A vida torna tudo feio", disse Strindberg. Um consolo é estar a par disso e não ser simplesmente uma vítima da fúria divina. Uma vítima do descaso divino. A obra de Bausch nos conduz por uma via desagradável onde todo tipo de promessa redentora esvanece. Assim, sua obra tem o poder de nos despertar. Poder que nasce da capacidade de, utilizando as palavras do psicanalista Jacques Alain Miller, "nos oferecer o próprio dejeto como objeto de arte"; da capacidade de "(...) estetizar o dejeto, idealizá-lo, ou, como dizemos em psicanálise, sublimá-lo".
Nos palcos mais chiques do mundo sua mensagem é desagradável. A mensagem-peste que insistimos em recalque celebrar. A crítica do The New Yorker, Arlene Croce, desdenhosamente descreve em 1984 a estreia da turnê da “Sagração” nos EUA: "gordinhas... que não se parecem bailarinas." E de maneira ainda mais sintomática, a partir da ideia de Belo completamente desprovido de qualquer dejeto: "ao suar os bailarinos se sujam, e o piso coberto de terra acrescenta um elemento de eca ao 'Sacre', que... fez a Brooklyn Academy... cheirar feito um estábulo".
Outra crítica do The New Yorker, Joan Acocella, acrescenta: "me aborrecia seu desespero tão na moda a respeito de sua sociedade, quando seus espetáculos sobre o assunto eram generosamente financiados pela mesma sociedade que ela culpava." Mas este é um preço que todo artista irá pagar, por mais radical que seja. É o jogo de azar em uma estranha economia da civilização que marginaliza, patrocina, estabelece, canoniza, extermina a obra de arte. Não nessa ordem e não serialmente.
Acocella continua: "Para mim sua visão era solipsista, até mesmo imoral, e o fato de que os artistas alemães ainda estavam de luto pelo papel de seu país na Segunda Guerra não me parecia uma desculpa suficiente. Primeiro os alemães mataram os judeus, e então nós deveríamos nos sentir mal por eles porque isto pesa em suas consciências? E uma culpa tão grande que eles têm que deslocá-la, atribuir à toda a humanidade os pecados dos anos 30 e 40 da Europa do norte?"
O que Acocella não percebe é que não é a culpa pelo Shoah que deve pertencer a todos os povos, mas a ideia de que o homem é fundamentalmente mau, ou que pelo menos, não é fundamentalmente bom. Ou de que se deve sempre esperar o pior do outro, ou que pelo menos, não se deve sempre esperar o melhor do outro. Esta é uma ideia paranóica, alguém poderia objetar. Sim, na medida em que, como diz Miller: "(...) a paranóia é consubstancial ao laço social, (...) é impossível ser alguém sem o apoio de uma paranóia". É temerário acreditar no "'Eu quero o seu bem'. É preciso pouca personalidade para que se possa botar fé nisso", ainda nas palavras de Miller.
Primo Levi e Imre Kertész, para citar dois autores que sentiram na própria carne a instabilidade do "Eu quero seu bem", demonstraram como a desgraça do Shoah é algo que pertence à toda a humanidade, ou seja, ele é um acontecimento de cunho universal, e não um fato restrito aos europeus do norte dos anos 30 e 40. Se esta percepção do abismo humano permeia a obra de Bausch então compreendemos o quão profunda era a visão que ela tinha de nossa existência.
"As dissonâncias que o espantam falam de sua própria condição e somente por isso lhe são insuportáveis", podemos ainda opor Adorno, em um trecho de seu livro sobre Schoenberg e Stravinsky, às afirmações de Acocella.
Seremos ainda nos dias de hoje forçados a lembrar que os piores estados, os mais criminosos, do século XX foram justamente aqueles que proibiram, não apenas não patrocinaram, mas proibiram, exterminaram, os artistas que questionaram o statu quo destes mesmos estados?
Proibir o anormal, proibir o estranho é um convite à barbárie. Pina Bausch se encontra na contramão disso. O que ela faz é jogar em nossa cara os dejetos de nossa existência higienizada, conformada e banal. Os corpos retorcidos, perdidos, com "cheiro a estábulo", condenados a movimentos repetitivos infernais falam de todos nós. São traços que nos constituem, a você e a mim. Não são um simples fruto da simples neurose de uma artista culpada alemã. Eles representam antes, o lugar desagradável que ocupamos no mundo.
"Eu amava dançar porque eu tinha pavor de falar. Quando eu estava me movimentando, eu podia sentir", diz Pina Bausch. Mal sabia ela da força deste mover-se sem palavras.
REFERÊNCIAS
ACOCELLA, J. Pina Bausch's zone of discomfort. Disponível em: http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2012/01/pina-bauschs-zone-of-discomfort.html Acesso em 19 abr 2013
ADORNO, T. W. A filosofia da nova música. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
DANTE ALIGHIERE. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 2009.
FORESMAN, R. "Pina" and paradox. Disponível em: http://www.newyorker.com/online/blogs/backissues/2012/02/pinas-paradoxes.html Acesso em 19 abr 2013.
FREUD, S. O mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
LAWSON, V. Pina, Queen Of The Deep. Disponível em: http://www.ballet.co.uk/magazines/yr_02/feb02/interview_bausch.htm Acesso em 19 abr 2013.
MILLER, J.-A. A salvação pelos dejetos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011.
ROSS, A. The rest is noise. New York: Picador, 2008.
WHITE, E. W. Stravinsky. Porto Alegre: L&PM, 1991.
Paulo Guicheney é bacharel em música e mestre em composição pela Universidade Federal de Goiás (UFG)
***
Confira, na íntegra, a coreografia para “A Sagração da Primavera”, criada por Pina Bausch, em 1975:
https://www.youtube.com/watch?v=nd_ZCuqYdVE&t=475s
À esquerda, Stravinsky, acompanhado do coreógrafo de "A Sagração da Primavera", Nijinsky[/caption]
A dança do subsolo de Bausch nos traz à mente o Inferno de Dante. Suas repetições infinitas lembram várias cenas da Comédia, tal qual a que se passa no quarto círculo do Inferno: onde os avaros e os pródigos estão divididos em dois grupos opostos e empurrando grandes pesos. Obrigados a percorrer o círculo em movimento contrário um do outro, os dois grupos se chocam eternamente e gritam: "Por que poupas"? "Por que dilapidas?".
Perguntas sem resposta. Koans do desespero. Ou a própria técnica de pergunta-resposta, com a qual Bausch trabalhou desde 1978: 1) Copie o tique de alguém; 2) Faça algo do qual você se envergonhe; 3) Escreva seu nome com movimento; 4) O que você faria com um cadáver? 5) Mova sua parte favorita do corpo; 6) Como você se comporta quando perde alguma coisa?
Perguntas que geram Koans do corpo. Podemos novamente nos arriscar – ter com Pina Bausch é estar sempre no risco – e dizer que toda arte aspira à condição de Koan.
E somos forçados a lembrar Dante mais uma vez, quando na quarta vala do oitavo círculo do Inferno o poeta se comove com a pena dada aos adivinhos: com a cabeça torcida para as costas, impedidos de olhar para frente, eles estão eternamente, a condição do tempo no inferno, condenados a caminhar para trás. Podemos acrescentar uma pergunta ao questionário de Bausch: Como você caminharia se sua cabeça fosse torcida para trás?
Uma pergunta que evoca uma resposta do Inconsciente. "A arte pertence ao inconsciente! O artista deve expressar a si mesmo! Expressar a si mesmo diretamente! Não seu gosto, sua educação, inteligência, conhecimento ou habilidade", diz Schoenberg em uma carta a Kandinsk. Poderia ter sido dito por Pina Bausch.
Não há salvação possível, sabemos disso. A vida, ou melhor dizendo, a morte não perdoa nem mesmo os atores, lembremos do recado de Bergman no “Sétimo Selo”. Mesmo a criação artística falha, no intuito de trazer a felicidade, quando é o corpo que sofre, nos ensina Freud: "(...) a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir mais que um passageiro alheamento às durezas da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer a miséria real".
Mas o que devemos fazer? Tudo falha. Em um momento ou outro tudo falha. É a condição da vida. "A vida torna tudo feio", disse Strindberg. Um consolo é estar a par disso e não ser simplesmente uma vítima da fúria divina. Uma vítima do descaso divino. A obra de Bausch nos conduz por uma via desagradável onde todo tipo de promessa redentora esvanece. Assim, sua obra tem o poder de nos despertar. Poder que nasce da capacidade de, utilizando as palavras do psicanalista Jacques Alain Miller, "nos oferecer o próprio dejeto como objeto de arte"; da capacidade de "(...) estetizar o dejeto, idealizá-lo, ou, como dizemos em psicanálise, sublimá-lo".
Nos palcos mais chiques do mundo sua mensagem é desagradável. A mensagem-peste que insistimos em recalque celebrar. A crítica do The New Yorker, Arlene Croce, desdenhosamente descreve em 1984 a estreia da turnê da “Sagração” nos EUA: "gordinhas... que não se parecem bailarinas." E de maneira ainda mais sintomática, a partir da ideia de Belo completamente desprovido de qualquer dejeto: "ao suar os bailarinos se sujam, e o piso coberto de terra acrescenta um elemento de eca ao 'Sacre', que... fez a Brooklyn Academy... cheirar feito um estábulo".
Outra crítica do The New Yorker, Joan Acocella, acrescenta: "me aborrecia seu desespero tão na moda a respeito de sua sociedade, quando seus espetáculos sobre o assunto eram generosamente financiados pela mesma sociedade que ela culpava." Mas este é um preço que todo artista irá pagar, por mais radical que seja. É o jogo de azar em uma estranha economia da civilização que marginaliza, patrocina, estabelece, canoniza, extermina a obra de arte. Não nessa ordem e não serialmente.
Acocella continua: "Para mim sua visão era solipsista, até mesmo imoral, e o fato de que os artistas alemães ainda estavam de luto pelo papel de seu país na Segunda Guerra não me parecia uma desculpa suficiente. Primeiro os alemães mataram os judeus, e então nós deveríamos nos sentir mal por eles porque isto pesa em suas consciências? E uma culpa tão grande que eles têm que deslocá-la, atribuir à toda a humanidade os pecados dos anos 30 e 40 da Europa do norte?"
O que Acocella não percebe é que não é a culpa pelo Shoah que deve pertencer a todos os povos, mas a ideia de que o homem é fundamentalmente mau, ou que pelo menos, não é fundamentalmente bom. Ou de que se deve sempre esperar o pior do outro, ou que pelo menos, não se deve sempre esperar o melhor do outro. Esta é uma ideia paranóica, alguém poderia objetar. Sim, na medida em que, como diz Miller: "(...) a paranóia é consubstancial ao laço social, (...) é impossível ser alguém sem o apoio de uma paranóia". É temerário acreditar no "'Eu quero o seu bem'. É preciso pouca personalidade para que se possa botar fé nisso", ainda nas palavras de Miller.
Primo Levi e Imre Kertész, para citar dois autores que sentiram na própria carne a instabilidade do "Eu quero seu bem", demonstraram como a desgraça do Shoah é algo que pertence à toda a humanidade, ou seja, ele é um acontecimento de cunho universal, e não um fato restrito aos europeus do norte dos anos 30 e 40. Se esta percepção do abismo humano permeia a obra de Bausch então compreendemos o quão profunda era a visão que ela tinha de nossa existência.
"As dissonâncias que o espantam falam de sua própria condição e somente por isso lhe são insuportáveis", podemos ainda opor Adorno, em um trecho de seu livro sobre Schoenberg e Stravinsky, às afirmações de Acocella.
Seremos ainda nos dias de hoje forçados a lembrar que os piores estados, os mais criminosos, do século XX foram justamente aqueles que proibiram, não apenas não patrocinaram, mas proibiram, exterminaram, os artistas que questionaram o statu quo destes mesmos estados?
Proibir o anormal, proibir o estranho é um convite à barbárie. Pina Bausch se encontra na contramão disso. O que ela faz é jogar em nossa cara os dejetos de nossa existência higienizada, conformada e banal. Os corpos retorcidos, perdidos, com "cheiro a estábulo", condenados a movimentos repetitivos infernais falam de todos nós. São traços que nos constituem, a você e a mim. Não são um simples fruto da simples neurose de uma artista culpada alemã. Eles representam antes, o lugar desagradável que ocupamos no mundo.
"Eu amava dançar porque eu tinha pavor de falar. Quando eu estava me movimentando, eu podia sentir", diz Pina Bausch. Mal sabia ela da força deste mover-se sem palavras.
REFERÊNCIAS
ACOCELLA, J. Pina Bausch's zone of discomfort. Disponível em: http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2012/01/pina-bauschs-zone-of-discomfort.html Acesso em 19 abr 2013
ADORNO, T. W. A filosofia da nova música. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
DANTE ALIGHIERE. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 2009.
FORESMAN, R. "Pina" and paradox. Disponível em: http://www.newyorker.com/online/blogs/backissues/2012/02/pinas-paradoxes.html Acesso em 19 abr 2013.
FREUD, S. O mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
LAWSON, V. Pina, Queen Of The Deep. Disponível em: http://www.ballet.co.uk/magazines/yr_02/feb02/interview_bausch.htm Acesso em 19 abr 2013.
MILLER, J.-A. A salvação pelos dejetos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011.
ROSS, A. The rest is noise. New York: Picador, 2008.
WHITE, E. W. Stravinsky. Porto Alegre: L&PM, 1991.
Paulo Guicheney é bacharel em música e mestre em composição pela Universidade Federal de Goiás (UFG)
***
Confira, na íntegra, a coreografia para “A Sagração da Primavera”, criada por Pina Bausch, em 1975:
https://www.youtube.com/watch?v=nd_ZCuqYdVE&t=475s

Leia um dos poemas desse excêntrico escritor soviético, intitulado "Um linchamento"
[caption id="attachment_89410" align="aligncenter" width="620"] Poeta absurdista russo, Daniil Kharms (1905-1942)[/caption]
Confira, abaixo, o poema em prosa “Um linchamento”, do poeta russo Daniil Kharms (1905-1942). Kharms pertenceu à corrente literária soviética correspondente ao dadaísmo da Europa Ocidental, que ficou conhecida na historiografia russa como “absurdista”. A tradução que segue é de Lauro Machado Coelho, extraída da coletânea selecionada pelo próprio tradutor: “Poesia Soviética” (São Paulo: Algol Editora, 2007).
***
UM LINCHAMENTO
Petróv monta em seu cavalo e, dirigindo-se à multidão, faz um discurso a respeito do que acontecerá se, na praça onde hoje há um parque público, for construído um arranha-céu americano. A multidão ouve e, evidentemente, concorda. Petróv faz anotações em sua caderneta. No meio da multidão pode-se distinguir um homem de meia-idade que pergunta a Petróv o que foi que ele anotou em sua caderneta. Petróv responde que isso só diz respeito a ele mesmo. O homem de meia-idade insiste. Uma palavra leva à outra e uma briga começa. A multidão toma o partido do homem de meia-idade e Petróv, para salvar a própria pele, esporeia o cavalo e dá volta na praça. A multidão fica agitada e, na falta de outra vítima, agarra o homem de meia-idade e arranca-lhe a cabeça. A cabeça arrancada rola na calçada e fica presa num ralo de esgoto que está aberto. A multidão, tendo satisfeito as suas paixões, se dispersa.
Poeta absurdista russo, Daniil Kharms (1905-1942)[/caption]
Confira, abaixo, o poema em prosa “Um linchamento”, do poeta russo Daniil Kharms (1905-1942). Kharms pertenceu à corrente literária soviética correspondente ao dadaísmo da Europa Ocidental, que ficou conhecida na historiografia russa como “absurdista”. A tradução que segue é de Lauro Machado Coelho, extraída da coletânea selecionada pelo próprio tradutor: “Poesia Soviética” (São Paulo: Algol Editora, 2007).
***
UM LINCHAMENTO
Petróv monta em seu cavalo e, dirigindo-se à multidão, faz um discurso a respeito do que acontecerá se, na praça onde hoje há um parque público, for construído um arranha-céu americano. A multidão ouve e, evidentemente, concorda. Petróv faz anotações em sua caderneta. No meio da multidão pode-se distinguir um homem de meia-idade que pergunta a Petróv o que foi que ele anotou em sua caderneta. Petróv responde que isso só diz respeito a ele mesmo. O homem de meia-idade insiste. Uma palavra leva à outra e uma briga começa. A multidão toma o partido do homem de meia-idade e Petróv, para salvar a própria pele, esporeia o cavalo e dá volta na praça. A multidão fica agitada e, na falta de outra vítima, agarra o homem de meia-idade e arranca-lhe a cabeça. A cabeça arrancada rola na calçada e fica presa num ralo de esgoto que está aberto. A multidão, tendo satisfeito as suas paixões, se dispersa.

Duas traduções de um soneto "erótico-pornográfico” do “Século de Ouro” espanhol
[caption id="attachment_89379" align="aligncenter" width="620"] Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]
A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.
A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**
Texto original
-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.
-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.
-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.
-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.
-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,
y tú hayas bien, que sabes declararte!
y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,
y con la pija arrecha acometerte.
-Tú sí que gozarás mi paraíso.
-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,
para meterle dentro mi carajo.
-¡Qué rodado lo dices y qué liso!
-Calla, mi vida, calla, que me muero
por culear tiniéndote debajo.
***
Tradução de José Paulo Paes
— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.
— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.
— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.
— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.
— Bem hajas que consigo compreender-te
e mal haja quem peça de tal arte.
Depois, o que farás? — Arregaçar-te
e com a pica alçada acometer-te.
— Tu sim hás de gozar meu paraíso.
— Que paraíso? Eu quero é minha porra
metida bem no fundo do teu racho.
— Com que rodeio o dizes, tão precioso!
— Caluda, amor, que de prazer já morra,
fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.
***
Tradução de Silvério Duque
– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.
– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.
– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.
– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.
– De certo, muito fiz por receber-te,
e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!
– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,
e, com minha pica em riste, vou comer-te.
Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...
– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo
e nele enfiar inteiro o meu caralho.
– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!
– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,
tilintando em teu cu com o meu vergalho.
* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).
** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).
Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]
A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.
A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**
Texto original
-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.
-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.
-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.
-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.
-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,
y tú hayas bien, que sabes declararte!
y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,
y con la pija arrecha acometerte.
-Tú sí que gozarás mi paraíso.
-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,
para meterle dentro mi carajo.
-¡Qué rodado lo dices y qué liso!
-Calla, mi vida, calla, que me muero
por culear tiniéndote debajo.
***
Tradução de José Paulo Paes
— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.
— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.
— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.
— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.
— Bem hajas que consigo compreender-te
e mal haja quem peça de tal arte.
Depois, o que farás? — Arregaçar-te
e com a pica alçada acometer-te.
— Tu sim hás de gozar meu paraíso.
— Que paraíso? Eu quero é minha porra
metida bem no fundo do teu racho.
— Com que rodeio o dizes, tão precioso!
— Caluda, amor, que de prazer já morra,
fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.
***
Tradução de Silvério Duque
– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.
– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.
– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.
– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.
– De certo, muito fiz por receber-te,
e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!
– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,
e, com minha pica em riste, vou comer-te.
Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...
– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo
e nele enfiar inteiro o meu caralho.
– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!
– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,
tilintando em teu cu com o meu vergalho.
* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).
** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).

Muitas goianas têm conseguido se destacar no mundo dos negócios, e, neste Mês da Mulher, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO) oferece um ciclo de eventos específico para elas

Se a esperança é a última que morre e ela era Costa e Silva, podemos dizer que o Ato Institucional número 5 matou essa esperança
[caption id="attachment_88801" align="aligncenter" width="620"] Generais Costa e Silva (à esquerda) e Castelo Branco (à direita) | foto: divulgação[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
Os militares costumam dizer que missão dada é missão cumprida. Qual era a missão daqueles que saíram dos quartéis em 31 de março de 1964 e tomaram o poder no Brasil? Não seria derrubar João Goulart, afastar o perigo comunista do território brasileiro e devolver o poder aos civis em janeiro de 1966? Pois é! Nem toda missão que é dada pode-se cumpri-la. Não tivemos eleições em outubro de 1965 que elegeria o civil que receberia a faixa presidencial do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
A primeira sucessão da ditadura civil-militar faz cinquenta anos este ano. Castelo Branco não cumpriu a missão que lhe foi confiada em 1964. O seu sucessor não seria um civil, mas sim outro militar. O Marechal Arthur da Costa e Silva fora eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Castelo disse naquele dia 15 de março de 1967 que entregava ao seu sucessor um país organizado e em ordem.
O jornal O Globo publicou juntamente com a edição do dia 15 de março um suplemento louvando a tal da Revolução de 1964. De acordo com o editorial daquele dia, o movimento de 31 de março havia mudado os rumos do país. Costa e Silva despertava a esperança em boa parte da imprensa e dos políticos. O jornal carioca fez questão de destacar o local da posse do novo presidente: Teatro Municipal do Rio de Janeiro, local onde outros presidentes também tomaram posse.
Ao recordar os vinte e três presidentes que adentraram naquele recinto cultural, O Globo afirmava que Costa e Silva representava a esperança. Disse o jornal: O sucessor de Castelo Branco, que hoje assume o poder, o Marechal Arthur da Costa e Silva, é velho amigo do Theatro Municipal. Tem comparecido às representações do Theatro. Por isso mesmo, representa, no Poder, uma esperança a mais nos múltiplos sonhos alimentados pelos que lutam pela difusão da Cultura Artística em nosso país. Pelo menos a gente fica sabendo, lendo este texto do Globo, que Costa e Silva não ficava apenas jogando palavras cruzadas nas horas vagas. Ele ia também ao teatro. A gente fica sabendo também que, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal, as posses presidenciais eram mais animadas.
E a imprensa paulista? Será que tinha esperanças no governo Costa e Silva? O Estado de São Paulo de 15 de março de 1967, em seu editorial, não se dedicou ao governo que estava começando, mas sim ao que estava terminando. O Estadão não poupou tinta para criticar o governo Castelo Branco. Referindo-se ao presidente que deixava o poder, está escrito no editorial: considerou s. exa útil à realização da sua tarefa aliar-se com o que havia de mais apodrecido no regime passado. Entre os corruptos mais notórios é que s.exa foi buscar os seus principais assessores. Colocando lado a lado os editoriais dos dois principais jornais do país publicados no dia da primeira sucessão presidencial da ditadura, a gente percebe que, se havia alguma esperança no governo Costa e Silva era por conta dos inúmeros erros do governo Castelo Branco.
Se o pior era o presidente que saía, por que não dar um crédito ao que entrava? Se Castelo não cumpriu a missão que lhe foi conferida pela tal da revolução, por que então não confiá-la ao novo presidente? Dando um spoiler nessa história: se a esperança é a última que morre e ela era Costa e Silva, podemos dizer que o Ato Institucional número 5 matou essa esperança.
Para finalizar essa pílula, vale uma crônica de Brasília que o Estadão publicou semanas antes da posse presidencial. Se hoje nós criticamos as vantagens indevidas que nossos deputados recebem, saiba o nobre leitor que nem sempre foi assim. O deputado Carlos Leprevost (ARENA-PR) informava que os deputados eleitos em 15 de novembro de 1966 estavam sem apartamentos e não encontraram vaga nos hotéis de Brasília.
Os que estavam hospedados foram despejados porque o Itamarati havia reservado todos os quartos dos hotéis para as delegações estrangeiras que participariam da posse de Costa e Silva. Disse Leprevost: Os deputados que deverão estar presentes à posse do novo presidente da República não deveriam ter prioridade na ocupação das referidas unidades dos hotéis? A tal da revolução de 1964 não tinha tempo para pensar em vagas de hotéis.
Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.
Generais Costa e Silva (à esquerda) e Castelo Branco (à direita) | foto: divulgação[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
Os militares costumam dizer que missão dada é missão cumprida. Qual era a missão daqueles que saíram dos quartéis em 31 de março de 1964 e tomaram o poder no Brasil? Não seria derrubar João Goulart, afastar o perigo comunista do território brasileiro e devolver o poder aos civis em janeiro de 1966? Pois é! Nem toda missão que é dada pode-se cumpri-la. Não tivemos eleições em outubro de 1965 que elegeria o civil que receberia a faixa presidencial do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
A primeira sucessão da ditadura civil-militar faz cinquenta anos este ano. Castelo Branco não cumpriu a missão que lhe foi confiada em 1964. O seu sucessor não seria um civil, mas sim outro militar. O Marechal Arthur da Costa e Silva fora eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Castelo disse naquele dia 15 de março de 1967 que entregava ao seu sucessor um país organizado e em ordem.
O jornal O Globo publicou juntamente com a edição do dia 15 de março um suplemento louvando a tal da Revolução de 1964. De acordo com o editorial daquele dia, o movimento de 31 de março havia mudado os rumos do país. Costa e Silva despertava a esperança em boa parte da imprensa e dos políticos. O jornal carioca fez questão de destacar o local da posse do novo presidente: Teatro Municipal do Rio de Janeiro, local onde outros presidentes também tomaram posse.
Ao recordar os vinte e três presidentes que adentraram naquele recinto cultural, O Globo afirmava que Costa e Silva representava a esperança. Disse o jornal: O sucessor de Castelo Branco, que hoje assume o poder, o Marechal Arthur da Costa e Silva, é velho amigo do Theatro Municipal. Tem comparecido às representações do Theatro. Por isso mesmo, representa, no Poder, uma esperança a mais nos múltiplos sonhos alimentados pelos que lutam pela difusão da Cultura Artística em nosso país. Pelo menos a gente fica sabendo, lendo este texto do Globo, que Costa e Silva não ficava apenas jogando palavras cruzadas nas horas vagas. Ele ia também ao teatro. A gente fica sabendo também que, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal, as posses presidenciais eram mais animadas.
E a imprensa paulista? Será que tinha esperanças no governo Costa e Silva? O Estado de São Paulo de 15 de março de 1967, em seu editorial, não se dedicou ao governo que estava começando, mas sim ao que estava terminando. O Estadão não poupou tinta para criticar o governo Castelo Branco. Referindo-se ao presidente que deixava o poder, está escrito no editorial: considerou s. exa útil à realização da sua tarefa aliar-se com o que havia de mais apodrecido no regime passado. Entre os corruptos mais notórios é que s.exa foi buscar os seus principais assessores. Colocando lado a lado os editoriais dos dois principais jornais do país publicados no dia da primeira sucessão presidencial da ditadura, a gente percebe que, se havia alguma esperança no governo Costa e Silva era por conta dos inúmeros erros do governo Castelo Branco.
Se o pior era o presidente que saía, por que não dar um crédito ao que entrava? Se Castelo não cumpriu a missão que lhe foi conferida pela tal da revolução, por que então não confiá-la ao novo presidente? Dando um spoiler nessa história: se a esperança é a última que morre e ela era Costa e Silva, podemos dizer que o Ato Institucional número 5 matou essa esperança.
Para finalizar essa pílula, vale uma crônica de Brasília que o Estadão publicou semanas antes da posse presidencial. Se hoje nós criticamos as vantagens indevidas que nossos deputados recebem, saiba o nobre leitor que nem sempre foi assim. O deputado Carlos Leprevost (ARENA-PR) informava que os deputados eleitos em 15 de novembro de 1966 estavam sem apartamentos e não encontraram vaga nos hotéis de Brasília.
Os que estavam hospedados foram despejados porque o Itamarati havia reservado todos os quartos dos hotéis para as delegações estrangeiras que participariam da posse de Costa e Silva. Disse Leprevost: Os deputados que deverão estar presentes à posse do novo presidente da República não deveriam ter prioridade na ocupação das referidas unidades dos hotéis? A tal da revolução de 1964 não tinha tempo para pensar em vagas de hotéis.
Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.

Quando um escritor é elevado ao status de divindade, todos à sua volta são preteridos, ainda que suas obras possuam valor estético elevado. Isso aconteceu no Brasil, quando João Cabral de Melo Neto se tornou a menina dos olhos da crítica, ao passo que Jorge de Lima, poeta maior, foi praticamente ignorado

Emmanuel Santiago traduziu o célebre poema “The Raven”, “O Corvo”, de Edgar Allan Poe, e resultado ficou para lá de inusitado

Passado o carnaval e a atmosfera quase uníssona de axé, sertanejo universitário e funk que ele congrega, apresentamos uma playlist que se distancia muito de tudo isso. Aperte o Play e confira! https://www.youtube.com/watch?v=rUVPDJiaUlk https://www.youtube.com/watch?v=NUTGr5t3MoY&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk https://www.youtube.com/watch?v=EqFnDWdUBi8 https://www.youtube.com/watch?v=lRLu1-8vi9o https://www.youtube.com/watch?v=fgrczz-mRPo https://www.youtube.com/watch?v=dMK_npDG12Q https://www.youtube.com/watch?v=WLUDxVezNes https://www.youtube.com/watch?v=WXmTEyq5nXc

O poeta, folclorista e ficcionista lançará, no dia 15 de março, no Palácio das Esmeraldas, coletânea em quatro volumes
Waldomiro Bariani Ortencio, nascido em 24 de julho de 1923, em Igarapava, São Paulo, e radicado em Goiás desde os 15 anos de idade, é um dos mais prestigiados estudiosos de cultura popular do Brasil, e também um dos ficcionistas e poetas célebres do estado de Goiás.
Com mais de 50 livros publicados, Bariani, aos 93 anos, lançará uma caixa com quatro livros, no dia 15 de março (quarta-feira), a partir das 19h, no Palácio das Esmeraldas, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central. Dos quatro volumes, três são coletâneas de escritos inéditos.
A publicação saiu pelo selo Trampolim, da Tagore Editora. Os títulos dos quatro livros são: "O crime do mordomo e outros 'crimes'... de humor", 144 páginas. "Chão bruto", 200 páginas. "Conversando com os mitos do folclore brasileiro", 112 páginas. E "Ficção longa de Bariani Ortencio", 224 páginas, organizada pelo professor de antropologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Jadir de Morais Pessoa, e pela mestra historiadora-folclorista Izabel Signoreli.
O box com os quatro exemplares estará a venda por R$ 100, no local, e também no Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio (ICEBO), localizado na Rua 82, nº 565.


Em Ash Wednesday, o grande poeta anglo-americano T. S. Eliot (1888-1965) conseguiu esgarçar a realidade humana por meio da imaginação moral, abrindo caminho para poemas posteriores, como aqueles que compõem os “Quatro Quartetos”. Temos, por assim dizer, uma "caminhada em espiral do Purgatório ao Paraíso"
[caption id="attachment_88443" align="aligncenter" width="620"] T.S. Eliot, autor dos poemas "Terra desolada", "Homens ocos", "Quarta-feira de Cinzas" e "Quatro Quartetos"[/caption]
Antes de lermos “Quarta-feira de Cinzas”, na tradução de Ivan Junqueira, vejamos um dos comentários elucidativos do historiador e crítico americano Russell Kirk (1918-1994) ao poema, presente na obra “A Era de T.S. Eliot”:
"Quarta-Feira de Cinzas" segundo Russell Kirk
[caption id="attachment_88444" align="alignleft" width="150"]
T.S. Eliot, autor dos poemas "Terra desolada", "Homens ocos", "Quarta-feira de Cinzas" e "Quatro Quartetos"[/caption]
Antes de lermos “Quarta-feira de Cinzas”, na tradução de Ivan Junqueira, vejamos um dos comentários elucidativos do historiador e crítico americano Russell Kirk (1918-1994) ao poema, presente na obra “A Era de T.S. Eliot”:
"Quarta-Feira de Cinzas" segundo Russell Kirk
[caption id="attachment_88444" align="alignleft" width="150"] Russell Kirk, biografo de Eliot[/caption]
O feito de Eliot em Ash Wednesday era exatamente expressar a experiência transcendente sob nova forma. Não estava simplesmente renovando velhas formas: o que importava para aqueles que o compreenderam ou quase o compreenderam era o fato dele relacionar a própria experiência do sonho superior, ao “sonho mais sublime”, à realidade percebida pela imaginação moral. Embora não admitisse o impulso profético, falava com autoridade: vira com os olhos da mente, sentira com profunda emoção. Empregando antigos símbolos, renovara-lhes a ligação com o homem contemporâneo. Por intermédio da contrição, a culpa poderia ser purificada ou consumida pelo fogo. A “dúbia face de esperança e desespero” poderia ser deixada para trás. O Verbo ainda poderia ser ouvido no mundo; renunciando aos desejos da carne, Gerontion poderia se tornar Gerontius; bem superior a Grishkin com sua promessa de “beatitudes pneumáticas”, poderia ser detectado um verdadeiro brilho de imortalidade, enquanto a sublime Senhora se persigna.
As visões infernais de Eliot foram aceitas como descrições válidas da realidade do século XX, donde se pode concluir que as visões purgatoriais deveriam ser levadas a sério. Tinha realizado o que eminentes eclesiásticos de sua época não conseguiram: relembrar a sua era que o mito poderia ser verdade, uma expressão simbólica das coisas permanentes da realidade experimentada em todos os tempos. Nas palavras de Voegelin, “Uma verdade cujo símbolo se tornou obscuro e suspeito não pode ser redimida por concessões da experiência que originalmente pôs em perigo os símbolos. O retorno produzirá a própria exegese (...) e a linguagem exegética fará com que os símbolos fiquem novamente translúcidos”.
(KIRK, Russell. A Era de T.S. Eliot – A imaginação moral no século XX. Trad. Mácia Xavier de Brito. São Paulo: É Realizações, 2011. pp. 324-35)
***
QUARTA-FEIRA DE CINZAS (1930)
T. S. Eliot
(Tradução: Ivan Junqueira)
I
Porque não mais espero retornar
Porque não espero
Porque não espero retornar
A este invejando-lhe o dom e àquele o seu projeto
Não mais me empenho no .empenho de tais coisas
(Por que abriria a velha águia suas asas?)
Por que lamentaria eu, afinal,
O esvaído poder do reino trivial?
Porque não mais espero conhecer
A vacilante glória da hora positiva
Porque não penso mais
Porque sei que nada saberei
Do único poder fugaz e verdadeiro
Porque não posso beber
Lá, onde as árvores florescem e as fontes rumorejam,
Pois lá nada retorna à sua forma
Porque sei que o tempo é sempre o tempo
E que o espaço é sempre o espaço apenas
E que o real somente o é dentro de um tempo
E apenas para o espaço que o contém
Alegro-me de serem as coisas o que são
E renuncio à face abençoada
E renuncio à voz
Porque esperar não posso mais
E assim me alegro, por ter de alguma coisa edificar
De que me possa depois rejubilar
E rogo a Deus que de nós se compadeça
E rogo a Deus porque esquecer desejo
Estas coisas que comigo por demais discuto
Por demais explico
Porque não mais espero retornar
Que estas palavras afinal respondam
Por tudo o que foi feito e que refeito não será
E que a sentença por demais não pese sobre nós
Porque estas asas de voar já se esqueceram
E no ar apenas são andrajos que se arqueiam
No ar agora cabalmente exíguo e seco
Mais exíguo e mais seco que o desejo
Ensinai-nos o desvelo e o menosprezo
Ensinai-nos a estar postos em sossego.
Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte
Rogai por nós agora e na hora de nossa morte.
II
Senhora, três leopardos brancos sob um zimbro
Ao frescor do dia repousavam, saciados
De meus braços meu coração meu fígado e do que havia
Na esfera oca do meu crânio. E disse Deus:
Viverão tais ossos? Tais ossos
Viverão? E o que pulsara outrora
Nos ossos (secos agora) disse num cicio:
raças à bondade desta Dama
E à sua beleza, e porque ela
A meditar venera a Virgem,
É que em fulgor resplandecemos. E eu que estou aqui
dissimulado
Meus feitos ofereço ao esquecimento, e consagro meu amor
Aos herdeiros do deserto e aos frutos ressequidos.
Isto é o que preserva
Minhas vísceras a fonte de meus olhos e as partes indigestas
Que os leopardos rejeitaram. A Dama retirou-se
De branco vestida, orando, de branco vestida.
Que a brancura dos ossos resgate o esquecimento.
A vida os excluiu. Como esquecido fui
E preferi que o fosse, também quero esquecer
Assim contrito, absorto em devoção. E disse Deus:
Profetiza ao vento e ao vento apenas, pois somente
O vento escutará. E os ossos cantaram em uníssono
Com o estribilho dos grilos, sussurrando:
Senhora dos silêncios
Serena e aflita
Lacerada e indivisa
Rosa da memória
Rosa do oblívio
Exânime e instigante
Atormentada tranqüila
A única Rosa em que
Consiste agora o jardim
Onde todo amor termina
Extinto o tormento
Do amor insatisfeito
Da aflição maior ainda
Do amor já satisfeito
Fim da infinita
jornada sem termo
Conclusão de tudo
O que não finda
Fala sem palavra
E palavra sem fala
Louvemos a Mãe
Pelo Jardim
Onde todo amor termina.
Cantavam os ossos sob um zimbro, dispersos e alvadios,
Alegramo-nos de estar aqui dispersos,
Pois uns aos outros bem nenhum fazíamos,
Sob uma árvore ao frescor do dia, com a bênção das areias,
Esquecendo uns aos outros e a nós próprios, reunidos
Na quietude do deserto. Eis a terra
Que dividireis conforme a sorte. E partilha ou comunhão
Não importam. Eis a terra. Nossa herança.
III
Na primeira volta da segunda escada
Voltei-me e vi lá embaixo
O mesmo vulto enrodilhado ao corrimão
Sob os miasmas que no fétido ar boiavam
Combatendo o demônio das escadas, oculto
Em dúbia face de esperança e desespero.
Na segunda volta da segunda escada
Deixei-os entrançados, rodopiando lá embaixo;
Nenhuma face mais na escada em trevas,
Carcomida e úmida, como a boca
Imprestável e babugenta de um ancião,
Ou a goela serrilhada de um velho tubarão.
Na primeira volta da terceira escada
Uma túmida ventana se rompia como um figo
E além do espinheiro em flor e da cena pastoril
A silhueta espadaúda de verde e azul vestida
Encantava maio com uma flauta antiga.
Doce é o cabelo em desalinho, os fios castanhos
Tangidos por um sopro sobre os lábios,
Cabelos castanhos e lilases;
Frêmito, música de flauta, pausas e passos
Do espírito a subir pela terceira escada,
Esmorecendo, esmorecendo; esforço
Para além da esperança e do desespero
Galgando a terça escala.
Senhor, eu não sou digno
Senhor, eu não sou digno
mas dizei somente uma palavra.
IV
Quem caminhou entre o violeta e o violeta
Quem caminhou por entre
Os vários renques de verdes diferentes
De azul e branco, as cores de Maria,
Falando sobre coisas triviais
Na ignorância e no saber da dor eterna
Quem se moveu por entre os outros e como eles caminhou
Quem pois revigorou as fontes e as nascentes tornou puras
Tornou fresca a rocha seca e solidez deu às areias
De azul das esporinhas, a azul cor de Maria,
Sovegna vos
Eis os anos que permeiam, arrebatando
Flautas e violinos, restituindo
Aquela que no tempo flui entre o sono e a vigília, oculta
Nas brancas dobras de luz que em torno dela se embainham.
Os novos anos se avizinham, revivendo
Através de uma faiscante nuvem de lágrimas, os anos
resgatando
Com um verso novo antigas rimas. Redimem
O tempo, redimem
A indecifrada visão do sonho mais sublime
Enquanto ajaezados unicórnios a essa de ouro conduzem.
A irmã silenciosa em véus brancos e azuis
Por entre os teixos, atrás do deus do jardim,
Cuja flauta emudeceu, inclina a fronte e persigna-se
Mas sem dizer palavra alguma
Mas a fonte jorrou e rente ao solo o pássaro cantou
Redimem o tempo, redimem o sonho
O indício da palavra inaudita, inexpressa
Até que o vento, sacudindo o teixo,
Acorde um coro de murmúrios
E depois disto nosso exílio
V
Se a palavra perdida se perdeu, se a palavra usada se gastou
Se a palavra inaudita e inexpressa
Inexpressa e inaudita permanece, então
Inexpressa a palavra ainda perdura, o inaudito Verbo,
O Verbo sem palavra, o Verbo
Nas entranhas do mundo e ao mundo oferto;
E a luz nas trevas fulgurou
E contra o Verbo o mundo inquieto ainda arremete
Rodopiando em torno do silente Verbo.
Ó meu povo, que te fiz eu.
Onde encontrar a palavra, onde a palavra
Ressoará? Não aqui, onde o silêncio foi-lhe escasso
Não sobre o mar ou sobre as ilhas,
Ou sobre o continente, não no deserto ou na úmida planície.
Para aqueles que nas trevas caminham noite e dia
Tempo justo e justo espaço aqui não existem
Nenhum sítio abençoado para os que a face evitam
Nenhum tempo de júbilo para os que caminham
A renegar a voz em meio aos uivos do alarido
Rezará a irmã velada por aqueles
Que nas trevas caminham, que escolhem e depois te desafiam,
Dilacerados entre estação e estação, entre tempo e tempo, entre
Hora e hora, palavra e palavra, poder e poder, por aqueles
Que esperam na escuridão? Rezará a irmã velada
Pelas crianças no portão
Por aqueles que se querem imóveis e orar não podem:
Orai por aqueles que escolhem e desafiam
Ó meu povo, que te fiz eu.
Rezará a irmã velada, entre os esguios
Teixos, por aqueles que a ofendem
E sem poder arrepender-se ao pânico se rendem
E o mundo afrontam e entre as rochas negam?
No derradeiro deserto entre as últimas rochas azuis
O deserto no jardim o jardim no deserto
Da secura, cuspindo a murcha semente da maçã.
Ó meu povo.
VI
Conquanto não espere mais voltar
Conquanto não espere
Conquanto não espere voltar
Flutuando entre o lucro e o prejuízo
Neste breve trânsito em que os sonhos se entrecruzam
No crepúsculo encruzilhado de sonhos entre o nascimento e a
morte
( Abençoai-me pai) conquanto agora
Já não deseje mais tais coisas desejar
Da janela debruçada sobre a margem de granito
Brancas velas voam para o mar, voando rumo ao largo
Invioladas asas
E o perdido coração enrija e rejubila-se
No lilás perdido e nas perdidas vozes do mar
E o quebradiço espírito se anima em rebeldia
Ante a arqueada virga-áurea e a perdida maresia
Anima-se a reconquistar
O grito da codorniz e o corrupio da pildra
E o olho cego então concebe
Formas vazias entre as partas de marfim
E a maresia reaviva o odor salgado das areias
Eis o tempo da tensão entre nascimento e morte
O lugar de solidão em que três sonhos se cruzam
Entre rochas azuis
Mas quando as vozes do instigado teixo emudecerem
Que outro teixo sacudido seja e possa responder.
Irmã bendita, santa mãe, espírito da fonte e do jardim,
Não permiti que entre calúnias a nós próprios enganemos
Ensinai-nos o desvelo e o menosprezo
Ensinai-nos a estar postos em sossego
Mesmo entre estas rochas,
Nossa paz em Sua vontade
E mesmo entre estas rochas
Mãe, irmã
E espírito do rio, espírito do mar,
Não permiti que separado eu seja
E que meu grito chegue a Ti.
Russell Kirk, biografo de Eliot[/caption]
O feito de Eliot em Ash Wednesday era exatamente expressar a experiência transcendente sob nova forma. Não estava simplesmente renovando velhas formas: o que importava para aqueles que o compreenderam ou quase o compreenderam era o fato dele relacionar a própria experiência do sonho superior, ao “sonho mais sublime”, à realidade percebida pela imaginação moral. Embora não admitisse o impulso profético, falava com autoridade: vira com os olhos da mente, sentira com profunda emoção. Empregando antigos símbolos, renovara-lhes a ligação com o homem contemporâneo. Por intermédio da contrição, a culpa poderia ser purificada ou consumida pelo fogo. A “dúbia face de esperança e desespero” poderia ser deixada para trás. O Verbo ainda poderia ser ouvido no mundo; renunciando aos desejos da carne, Gerontion poderia se tornar Gerontius; bem superior a Grishkin com sua promessa de “beatitudes pneumáticas”, poderia ser detectado um verdadeiro brilho de imortalidade, enquanto a sublime Senhora se persigna.
As visões infernais de Eliot foram aceitas como descrições válidas da realidade do século XX, donde se pode concluir que as visões purgatoriais deveriam ser levadas a sério. Tinha realizado o que eminentes eclesiásticos de sua época não conseguiram: relembrar a sua era que o mito poderia ser verdade, uma expressão simbólica das coisas permanentes da realidade experimentada em todos os tempos. Nas palavras de Voegelin, “Uma verdade cujo símbolo se tornou obscuro e suspeito não pode ser redimida por concessões da experiência que originalmente pôs em perigo os símbolos. O retorno produzirá a própria exegese (...) e a linguagem exegética fará com que os símbolos fiquem novamente translúcidos”.
(KIRK, Russell. A Era de T.S. Eliot – A imaginação moral no século XX. Trad. Mácia Xavier de Brito. São Paulo: É Realizações, 2011. pp. 324-35)
***
QUARTA-FEIRA DE CINZAS (1930)
T. S. Eliot
(Tradução: Ivan Junqueira)
I
Porque não mais espero retornar
Porque não espero
Porque não espero retornar
A este invejando-lhe o dom e àquele o seu projeto
Não mais me empenho no .empenho de tais coisas
(Por que abriria a velha águia suas asas?)
Por que lamentaria eu, afinal,
O esvaído poder do reino trivial?
Porque não mais espero conhecer
A vacilante glória da hora positiva
Porque não penso mais
Porque sei que nada saberei
Do único poder fugaz e verdadeiro
Porque não posso beber
Lá, onde as árvores florescem e as fontes rumorejam,
Pois lá nada retorna à sua forma
Porque sei que o tempo é sempre o tempo
E que o espaço é sempre o espaço apenas
E que o real somente o é dentro de um tempo
E apenas para o espaço que o contém
Alegro-me de serem as coisas o que são
E renuncio à face abençoada
E renuncio à voz
Porque esperar não posso mais
E assim me alegro, por ter de alguma coisa edificar
De que me possa depois rejubilar
E rogo a Deus que de nós se compadeça
E rogo a Deus porque esquecer desejo
Estas coisas que comigo por demais discuto
Por demais explico
Porque não mais espero retornar
Que estas palavras afinal respondam
Por tudo o que foi feito e que refeito não será
E que a sentença por demais não pese sobre nós
Porque estas asas de voar já se esqueceram
E no ar apenas são andrajos que se arqueiam
No ar agora cabalmente exíguo e seco
Mais exíguo e mais seco que o desejo
Ensinai-nos o desvelo e o menosprezo
Ensinai-nos a estar postos em sossego.
Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte
Rogai por nós agora e na hora de nossa morte.
II
Senhora, três leopardos brancos sob um zimbro
Ao frescor do dia repousavam, saciados
De meus braços meu coração meu fígado e do que havia
Na esfera oca do meu crânio. E disse Deus:
Viverão tais ossos? Tais ossos
Viverão? E o que pulsara outrora
Nos ossos (secos agora) disse num cicio:
raças à bondade desta Dama
E à sua beleza, e porque ela
A meditar venera a Virgem,
É que em fulgor resplandecemos. E eu que estou aqui
dissimulado
Meus feitos ofereço ao esquecimento, e consagro meu amor
Aos herdeiros do deserto e aos frutos ressequidos.
Isto é o que preserva
Minhas vísceras a fonte de meus olhos e as partes indigestas
Que os leopardos rejeitaram. A Dama retirou-se
De branco vestida, orando, de branco vestida.
Que a brancura dos ossos resgate o esquecimento.
A vida os excluiu. Como esquecido fui
E preferi que o fosse, também quero esquecer
Assim contrito, absorto em devoção. E disse Deus:
Profetiza ao vento e ao vento apenas, pois somente
O vento escutará. E os ossos cantaram em uníssono
Com o estribilho dos grilos, sussurrando:
Senhora dos silêncios
Serena e aflita
Lacerada e indivisa
Rosa da memória
Rosa do oblívio
Exânime e instigante
Atormentada tranqüila
A única Rosa em que
Consiste agora o jardim
Onde todo amor termina
Extinto o tormento
Do amor insatisfeito
Da aflição maior ainda
Do amor já satisfeito
Fim da infinita
jornada sem termo
Conclusão de tudo
O que não finda
Fala sem palavra
E palavra sem fala
Louvemos a Mãe
Pelo Jardim
Onde todo amor termina.
Cantavam os ossos sob um zimbro, dispersos e alvadios,
Alegramo-nos de estar aqui dispersos,
Pois uns aos outros bem nenhum fazíamos,
Sob uma árvore ao frescor do dia, com a bênção das areias,
Esquecendo uns aos outros e a nós próprios, reunidos
Na quietude do deserto. Eis a terra
Que dividireis conforme a sorte. E partilha ou comunhão
Não importam. Eis a terra. Nossa herança.
III
Na primeira volta da segunda escada
Voltei-me e vi lá embaixo
O mesmo vulto enrodilhado ao corrimão
Sob os miasmas que no fétido ar boiavam
Combatendo o demônio das escadas, oculto
Em dúbia face de esperança e desespero.
Na segunda volta da segunda escada
Deixei-os entrançados, rodopiando lá embaixo;
Nenhuma face mais na escada em trevas,
Carcomida e úmida, como a boca
Imprestável e babugenta de um ancião,
Ou a goela serrilhada de um velho tubarão.
Na primeira volta da terceira escada
Uma túmida ventana se rompia como um figo
E além do espinheiro em flor e da cena pastoril
A silhueta espadaúda de verde e azul vestida
Encantava maio com uma flauta antiga.
Doce é o cabelo em desalinho, os fios castanhos
Tangidos por um sopro sobre os lábios,
Cabelos castanhos e lilases;
Frêmito, música de flauta, pausas e passos
Do espírito a subir pela terceira escada,
Esmorecendo, esmorecendo; esforço
Para além da esperança e do desespero
Galgando a terça escala.
Senhor, eu não sou digno
Senhor, eu não sou digno
mas dizei somente uma palavra.
IV
Quem caminhou entre o violeta e o violeta
Quem caminhou por entre
Os vários renques de verdes diferentes
De azul e branco, as cores de Maria,
Falando sobre coisas triviais
Na ignorância e no saber da dor eterna
Quem se moveu por entre os outros e como eles caminhou
Quem pois revigorou as fontes e as nascentes tornou puras
Tornou fresca a rocha seca e solidez deu às areias
De azul das esporinhas, a azul cor de Maria,
Sovegna vos
Eis os anos que permeiam, arrebatando
Flautas e violinos, restituindo
Aquela que no tempo flui entre o sono e a vigília, oculta
Nas brancas dobras de luz que em torno dela se embainham.
Os novos anos se avizinham, revivendo
Através de uma faiscante nuvem de lágrimas, os anos
resgatando
Com um verso novo antigas rimas. Redimem
O tempo, redimem
A indecifrada visão do sonho mais sublime
Enquanto ajaezados unicórnios a essa de ouro conduzem.
A irmã silenciosa em véus brancos e azuis
Por entre os teixos, atrás do deus do jardim,
Cuja flauta emudeceu, inclina a fronte e persigna-se
Mas sem dizer palavra alguma
Mas a fonte jorrou e rente ao solo o pássaro cantou
Redimem o tempo, redimem o sonho
O indício da palavra inaudita, inexpressa
Até que o vento, sacudindo o teixo,
Acorde um coro de murmúrios
E depois disto nosso exílio
V
Se a palavra perdida se perdeu, se a palavra usada se gastou
Se a palavra inaudita e inexpressa
Inexpressa e inaudita permanece, então
Inexpressa a palavra ainda perdura, o inaudito Verbo,
O Verbo sem palavra, o Verbo
Nas entranhas do mundo e ao mundo oferto;
E a luz nas trevas fulgurou
E contra o Verbo o mundo inquieto ainda arremete
Rodopiando em torno do silente Verbo.
Ó meu povo, que te fiz eu.
Onde encontrar a palavra, onde a palavra
Ressoará? Não aqui, onde o silêncio foi-lhe escasso
Não sobre o mar ou sobre as ilhas,
Ou sobre o continente, não no deserto ou na úmida planície.
Para aqueles que nas trevas caminham noite e dia
Tempo justo e justo espaço aqui não existem
Nenhum sítio abençoado para os que a face evitam
Nenhum tempo de júbilo para os que caminham
A renegar a voz em meio aos uivos do alarido
Rezará a irmã velada por aqueles
Que nas trevas caminham, que escolhem e depois te desafiam,
Dilacerados entre estação e estação, entre tempo e tempo, entre
Hora e hora, palavra e palavra, poder e poder, por aqueles
Que esperam na escuridão? Rezará a irmã velada
Pelas crianças no portão
Por aqueles que se querem imóveis e orar não podem:
Orai por aqueles que escolhem e desafiam
Ó meu povo, que te fiz eu.
Rezará a irmã velada, entre os esguios
Teixos, por aqueles que a ofendem
E sem poder arrepender-se ao pânico se rendem
E o mundo afrontam e entre as rochas negam?
No derradeiro deserto entre as últimas rochas azuis
O deserto no jardim o jardim no deserto
Da secura, cuspindo a murcha semente da maçã.
Ó meu povo.
VI
Conquanto não espere mais voltar
Conquanto não espere
Conquanto não espere voltar
Flutuando entre o lucro e o prejuízo
Neste breve trânsito em que os sonhos se entrecruzam
No crepúsculo encruzilhado de sonhos entre o nascimento e a
morte
( Abençoai-me pai) conquanto agora
Já não deseje mais tais coisas desejar
Da janela debruçada sobre a margem de granito
Brancas velas voam para o mar, voando rumo ao largo
Invioladas asas
E o perdido coração enrija e rejubila-se
No lilás perdido e nas perdidas vozes do mar
E o quebradiço espírito se anima em rebeldia
Ante a arqueada virga-áurea e a perdida maresia
Anima-se a reconquistar
O grito da codorniz e o corrupio da pildra
E o olho cego então concebe
Formas vazias entre as partas de marfim
E a maresia reaviva o odor salgado das areias
Eis o tempo da tensão entre nascimento e morte
O lugar de solidão em que três sonhos se cruzam
Entre rochas azuis
Mas quando as vozes do instigado teixo emudecerem
Que outro teixo sacudido seja e possa responder.
Irmã bendita, santa mãe, espírito da fonte e do jardim,
Não permiti que entre calúnias a nós próprios enganemos
Ensinai-nos o desvelo e o menosprezo
Ensinai-nos a estar postos em sossego
Mesmo entre estas rochas,
Nossa paz em Sua vontade
E mesmo entre estas rochas
Mãe, irmã
E espírito do rio, espírito do mar,
Não permiti que separado eu seja
E que meu grito chegue a Ti.

Não é tão simples traduzir um soneto de treze versos! Sobretudo se escrito por alguém como H. P. Lovecraft e dedicado a ninguém menos que Edgar Allan Poe
[caption id="attachment_88381" align="aligncenter" width="620"] H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief!
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne
Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:
Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,
O Poeta suscita com o gládio erguido
Seu século espantado por não ter sabido
Que nessa estranha voz a morte se insurgia!
Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia
Um sentido mais puro às palavras da tribo,
Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-
Ído à onda sem honra de uma negra orgia.
Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -
A idéia sob - não esculpir baixo-relevo
Que ao túmulo de Poe luminescente indique,
Calmo bloco caído de um desastre obscuro,
Que este granito ao menos seja eterno dique
Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.
[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]
H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief!
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne
Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:
Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,
O Poeta suscita com o gládio erguido
Seu século espantado por não ter sabido
Que nessa estranha voz a morte se insurgia!
Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia
Um sentido mais puro às palavras da tribo,
Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-
Ído à onda sem honra de uma negra orgia.
Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -
A idéia sob - não esculpir baixo-relevo
Que ao túmulo de Poe luminescente indique,
Calmo bloco caído de um desastre obscuro,
Que este granito ao menos seja eterno dique
Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.
[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]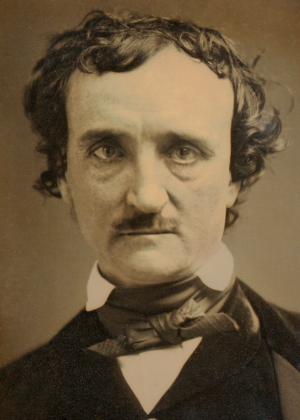 Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]
Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...
Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.
Sem mais delongas...
***
IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D
Eternal brood the shadows on this ground,
Dreaming of centuries that have gone before;
Great elms rise solemnly by slab and mound,
Arch’d high above a hidden world of yore.
Round all the scene a light of memory plays,
And dead leaves whisper of departed days,
Longing for sights and sounds that are no more.
Lonely and sad, a spectre glides along
Aisles where of old his living footsteps fell;
No common glance discerns him, tho’ his song
Peals down thro’ time with a mysterious spell:
Only the few who sorcery’s secret know
Espy amidst these tombs the shade of Poe.
EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA
Eterno é o cismar das sombras no terreiro,
Devaneando o outrora em séculos atrás;
Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,
Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.
Rodeando a cena, atua o lume da memória,
As folhas secas, num cicio, contam a história
Levadas por visões e sons de nunca mais.
Lastimoso e só, um espectro adeja sobre
Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;
Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre
P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:
Os poucos a quem tal feitiço se mostrou
Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.
(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )
Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)
Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]
Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...
Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.
Sem mais delongas...
***
IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D
Eternal brood the shadows on this ground,
Dreaming of centuries that have gone before;
Great elms rise solemnly by slab and mound,
Arch’d high above a hidden world of yore.
Round all the scene a light of memory plays,
And dead leaves whisper of departed days,
Longing for sights and sounds that are no more.
Lonely and sad, a spectre glides along
Aisles where of old his living footsteps fell;
No common glance discerns him, tho’ his song
Peals down thro’ time with a mysterious spell:
Only the few who sorcery’s secret know
Espy amidst these tombs the shade of Poe.
EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA
Eterno é o cismar das sombras no terreiro,
Devaneando o outrora em séculos atrás;
Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,
Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.
Rodeando a cena, atua o lume da memória,
As folhas secas, num cicio, contam a história
Levadas por visões e sons de nunca mais.
Lastimoso e só, um espectro adeja sobre
Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;
Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre
P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:
Os poucos a quem tal feitiço se mostrou
Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.
(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )
Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

“O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas”
[caption id="attachment_88360" align="aligncenter" width="620"]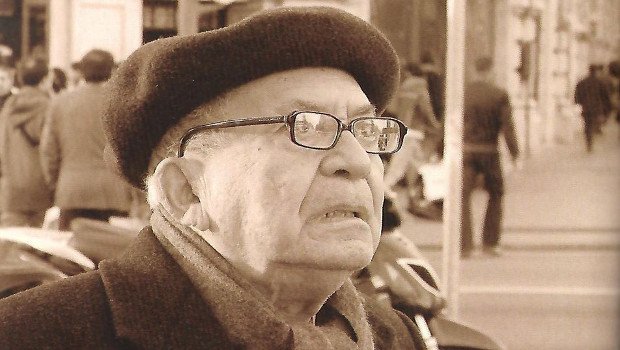 Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:
O DESAFIO
Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce
e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.
Foi onde o sol clareia estações desterradas
e um seio nu afronta a vontade da treva.
Onde a sombra ensombrece os dias sepultados
e no verão persiste um cheiro de jasmim
e uma abelha dourada pousa na corola
da majestosa flor que reina no jardim.
Foi onde fervilhava o rumor das charnecas
e as águas de um riacho fulgiam nas pedras
e a manhã respirava a promessa da vida.
Levantou-se da terra uma roxa alvorada
num claro desafio ao sol esbraseado
e à nuvem emudecida que no céu passava.
Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).
[relacionadas artigos=" 87814 "]
Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).
Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.
[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"]
Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:
O DESAFIO
Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce
e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.
Foi onde o sol clareia estações desterradas
e um seio nu afronta a vontade da treva.
Onde a sombra ensombrece os dias sepultados
e no verão persiste um cheiro de jasmim
e uma abelha dourada pousa na corola
da majestosa flor que reina no jardim.
Foi onde fervilhava o rumor das charnecas
e as águas de um riacho fulgiam nas pedras
e a manhã respirava a promessa da vida.
Levantou-se da terra uma roxa alvorada
num claro desafio ao sol esbraseado
e à nuvem emudecida que no céu passava.
Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).
[relacionadas artigos=" 87814 "]
Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).
Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.
[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Mormaço"[/caption]
Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:
A FALA FINAL
Já falei ao dia, hoje falo à noite.
Falei ao dia e ninguém me escutou.
Os homens passavam apressados
cada um com o seu tédio
seus embrulhos e suspiros.
Falei ao amor e era uma concha
que ressoava longe do mar.
Os anos de minha vida passaram tão rápidos
que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.
Agora só falo à noite e às estrelas.
Só falo ao silêncio e à escuridão.
A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.
Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:
O ESTALIDO
São passos furtivos na escada.
Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra
que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro
ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar
como um sopro da brisa marinha.
Sempre esperei o visitante que não veio.
Deixei inutilmente a porta aberta.
Perguntei e não obtive resposta.
Agora, para mim, tudo é irrelevante.
Para que perguntar? Para que responder?
Após o estalido do fim da escada virá o silêncio
que dispensa a pergunta e a resposta.
O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.
[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Mormaço"[/caption]
Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:
A FALA FINAL
Já falei ao dia, hoje falo à noite.
Falei ao dia e ninguém me escutou.
Os homens passavam apressados
cada um com o seu tédio
seus embrulhos e suspiros.
Falei ao amor e era uma concha
que ressoava longe do mar.
Os anos de minha vida passaram tão rápidos
que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.
Agora só falo à noite e às estrelas.
Só falo ao silêncio e à escuridão.
A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.
Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:
O ESTALIDO
São passos furtivos na escada.
Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra
que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro
ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar
como um sopro da brisa marinha.
Sempre esperei o visitante que não veio.
Deixei inutilmente a porta aberta.
Perguntei e não obtive resposta.
Agora, para mim, tudo é irrelevante.
Para que perguntar? Para que responder?
Após o estalido do fim da escada virá o silêncio
que dispensa a pergunta e a resposta.
O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.
[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Aurora"[/caption]
“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).
Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?
Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:
OS DOIS LADOS
No outro lado da noite alguém gritava.
No outro lado do muro eles se amavam
e espalhavam murmúrios e gemidos.
Todas as portas estavam fechadas.
A vida era um segredo, era um suspiro.
E o amor lavrava doido e revirado.
Amar de um lado só já não bastava?
Era cara e coroa, era em dois lados,
moeda que a si mesma se pagava.
Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.
Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:
(...)
Venho dos pântanos.
No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro
a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.
Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.
Só mereço perdão e tolerância.
Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas
e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.
(...)
O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.
[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Aurora"[/caption]
“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).
Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?
Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:
OS DOIS LADOS
No outro lado da noite alguém gritava.
No outro lado do muro eles se amavam
e espalhavam murmúrios e gemidos.
Todas as portas estavam fechadas.
A vida era um segredo, era um suspiro.
E o amor lavrava doido e revirado.
Amar de um lado só já não bastava?
Era cara e coroa, era em dois lados,
moeda que a si mesma se pagava.
Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.
Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:
(...)
Venho dos pântanos.
No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro
a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.
Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.
Só mereço perdão e tolerância.
Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas
e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.
(...)
O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.
[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Réquiem"[/caption]
O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.
[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Réquiem"[/caption]
O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.
[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"] Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]
Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –
OS OLHOS ABERTOS
Nas minhas mãos abertas cabe a aurora
como um fruto que amadurece na limpidez do verão.
Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos
se acercam e se afastam como proas de navios.
Os meus lábios fechados aboliram a morte
para que pudesses voltar quando o dia renasce
e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens
e escorre das estrelas
e sustenta as luzes do arco-íris.
As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso
a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente
a tua sombra que dança entre as marés
a tua voz usurpada pela noite
e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder
de meus olhos abertos para sempre.
Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.
Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.
Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]
Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –
OS OLHOS ABERTOS
Nas minhas mãos abertas cabe a aurora
como um fruto que amadurece na limpidez do verão.
Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos
se acercam e se afastam como proas de navios.
Os meus lábios fechados aboliram a morte
para que pudesses voltar quando o dia renasce
e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens
e escorre das estrelas
e sustenta as luzes do arco-íris.
As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso
a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente
a tua sombra que dança entre as marés
a tua voz usurpada pela noite
e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder
de meus olhos abertos para sempre.
Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.
Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.

O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital impondo regras à folia
[caption id="attachment_88311" align="aligncenter" width="620"] Cena de carnaval pintada por Jean-Baptiste Debret[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
O acervo do jornal O Estado de São Paulo é uma daquelas coisas que fazem qualquer pesquisador encher os olhos de lágrimas de emoção e não de poeira - até porque as páginas do jornal estão digitalizadas. Tem notícias de 1875 até os dias de hoje. É possível ver como era o carnaval no tempo em que era comum ter escravo no Brasil. O Estadão é tão antigo que, quando foi lançado, São Paulo nem estado era, mas sim província. Por isso, de 1875 até 1889, o jornal se chamava A Província de São Paulo. O nome só foi trocado para o atual logo após a Proclamação da República.
Se hoje o carnaval é vale tudo, como dizia Tim Maia, nem sempre foi assim. O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital no jornal com as regras da folia. Não se podia vestir com trajes indecentes e nem alegorias ofensivas à religião. O Estadão de 17 de fevereiro de 1901 trazia a chamada do diretor da chefia de polícia de São Paulo, João Cândido de Carvalho, atentando para os foliões não descuidarem das fantasias. Caso contrário, ia para a delegacia.
O carnaval que tivesse o diretor João Cândido em serviço poderia ter a certeza de que a lei e a ordem valeriam nos três dias de folia. Além do cuidado com as fantasias dos foliões, até mesmo brinquedos seriam fiscalizados pelo nobre diretor. Língua de sogra, bisnagas e carrapichos eram proibidos. Inocentes brinquedos que hoje usamos para comemorar o carnaval já foram casos de polícia.
Em uma crônica sobre carnaval de 1915, o Estadão trazia o relato de um japonês que esteve em nosso país durante o carnaval. No Brasil, em certa época do ano, a população é acometida subitamente de loucura. Durante três dias ficam inteiramente mentecaptos. No quarto dia, pela manhã, vão ao templo onde o sacerdote lhe faz com cinza uma cruz na testa e eles recuperam a razão. Ao contrário do que diziam os pensadores iluministas, uma cruz na testa podia sim recuperar a razão de uma pessoa.
Quem é religioso pode pular o carnaval? Na década de 1940, o Estadão tinha uma coluna chamada Movimento Religioso, na qual se reservava um espaço para que cada religião se manifestasse. A edição de 11 de fevereiro de 1945 do jornal, na parte católica do movimento, dizia que sim, o religioso poderia pular o carnaval e recordou São Paulo Apóstolo na carta aos Romanos: Sede alegre com os que estão alegres. Só que essa alegria durava pouco já que após os festejos do carnaval, o católico se resguardaria para a quaresma.
Em passeio pelo acervo do Estadão percebe-se as mudanças que o carnaval brasileiro passou ao longo dos tempos. Vemos também que muita coisa continua como a alegria de se aproveitar este tão querido feriado. Que a memória do diretor João Cândido de Carvalho garanta a segurança de quem comemora nas ruas e a paz de quem quer descansar nos três dias de folia.
Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.
Cena de carnaval pintada por Jean-Baptiste Debret[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
O acervo do jornal O Estado de São Paulo é uma daquelas coisas que fazem qualquer pesquisador encher os olhos de lágrimas de emoção e não de poeira - até porque as páginas do jornal estão digitalizadas. Tem notícias de 1875 até os dias de hoje. É possível ver como era o carnaval no tempo em que era comum ter escravo no Brasil. O Estadão é tão antigo que, quando foi lançado, São Paulo nem estado era, mas sim província. Por isso, de 1875 até 1889, o jornal se chamava A Província de São Paulo. O nome só foi trocado para o atual logo após a Proclamação da República.
Se hoje o carnaval é vale tudo, como dizia Tim Maia, nem sempre foi assim. O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital no jornal com as regras da folia. Não se podia vestir com trajes indecentes e nem alegorias ofensivas à religião. O Estadão de 17 de fevereiro de 1901 trazia a chamada do diretor da chefia de polícia de São Paulo, João Cândido de Carvalho, atentando para os foliões não descuidarem das fantasias. Caso contrário, ia para a delegacia.
O carnaval que tivesse o diretor João Cândido em serviço poderia ter a certeza de que a lei e a ordem valeriam nos três dias de folia. Além do cuidado com as fantasias dos foliões, até mesmo brinquedos seriam fiscalizados pelo nobre diretor. Língua de sogra, bisnagas e carrapichos eram proibidos. Inocentes brinquedos que hoje usamos para comemorar o carnaval já foram casos de polícia.
Em uma crônica sobre carnaval de 1915, o Estadão trazia o relato de um japonês que esteve em nosso país durante o carnaval. No Brasil, em certa época do ano, a população é acometida subitamente de loucura. Durante três dias ficam inteiramente mentecaptos. No quarto dia, pela manhã, vão ao templo onde o sacerdote lhe faz com cinza uma cruz na testa e eles recuperam a razão. Ao contrário do que diziam os pensadores iluministas, uma cruz na testa podia sim recuperar a razão de uma pessoa.
Quem é religioso pode pular o carnaval? Na década de 1940, o Estadão tinha uma coluna chamada Movimento Religioso, na qual se reservava um espaço para que cada religião se manifestasse. A edição de 11 de fevereiro de 1945 do jornal, na parte católica do movimento, dizia que sim, o religioso poderia pular o carnaval e recordou São Paulo Apóstolo na carta aos Romanos: Sede alegre com os que estão alegres. Só que essa alegria durava pouco já que após os festejos do carnaval, o católico se resguardaria para a quaresma.
Em passeio pelo acervo do Estadão percebe-se as mudanças que o carnaval brasileiro passou ao longo dos tempos. Vemos também que muita coisa continua como a alegria de se aproveitar este tão querido feriado. Que a memória do diretor João Cândido de Carvalho garanta a segurança de quem comemora nas ruas e a paz de quem quer descansar nos três dias de folia.
Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.

Eis mais uma Playlist Opção: temos desde a nova do Linkin Park até Massive Attack e Tricky, passando por Stone Temple Pilots, Beatles e muito mais. Confira! https://www.youtube.com/watch?v=lp00DMy3aVw https://www.youtube.com/watch?v=mdrAdcxFB9c https://www.youtube.com/watch?v=LlDC361onUs https://www.youtube.com/watch?v=Lr5ltqQf1QA https://www.youtube.com/watch?v=o0qyP1bA-ME https://www.youtube.com/watch?v=QMhkdatUUPA https://www.youtube.com/watch?v=ElvLZMsYXlo https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4GM https://www.youtube.com/watch?v=oAmnkPUFMHg https://www.youtube.com/watch?v=hNByRhoycdc https://www.youtube.com/watch?v=D5drYkLiLI8

“O homem derivado de suas águas está só e sozinho ele fala a esmo. Talvez fale movido apenas pelo prazer da errância e, por isso mesmo, ele fala como quem está literalmente à deriva"
[caption id="attachment_87924" align="aligncenter" width="620"] Escritor goiano Wesley Godoi Peres | Foto: reprodução Facebook[/caption]
Tiago Ribeiro Nunes
Especial para o Jornal Opção
Em Água Anônima (Goiânia: AGEPEL, 2002), livro de estreia de Wesley Peres, são traçados, em azul, os primeiros contornos da obsessão literária por “fixar as vertigens nas palavras”, com afirma o poeta Manoel de Barros, na quarta-capa do livro. Ao leitor dos poemas ali reunidos, não passará despercebida a assiduidade do termo. Serão dez, ao todo, as ocorrências desse significante ou de variações suas.
Ao longo das três partes que formam o livro (Água, Lábios e Lábios de Água), sua distribuição é todavia desigual: duas na primeira parte, cinco na segunda e três na terceira. Mais equilibrado é certamente o efeito expressivo das imagens que veiculam o azul. Transportado para uma frase ou para um conjunto de frases, ele coloca em contato elementos dessemelhantes ou mesmo contrários entre si. Dessa reunião inesperada resultam estranhamentos. Suprimido o princípio lógico da não contradição, as paisagens cotidianas resvalam subitamente naquilo que nunca se viu. Assim, por exemplo, o mar se volatiza em azul e a impressão desse cheiro sentido em cor se reverbera polifônica, renovando um olhar já demasiadamente habituado à repetição de todos os dias: “Há um azul cheiro de mar agora/ há um cortante e horizontal chilrar/ sobre o meu olho prenhe de manhãs”.
[caption id="attachment_87927" align="alignleft" width="300"]
Escritor goiano Wesley Godoi Peres | Foto: reprodução Facebook[/caption]
Tiago Ribeiro Nunes
Especial para o Jornal Opção
Em Água Anônima (Goiânia: AGEPEL, 2002), livro de estreia de Wesley Peres, são traçados, em azul, os primeiros contornos da obsessão literária por “fixar as vertigens nas palavras”, com afirma o poeta Manoel de Barros, na quarta-capa do livro. Ao leitor dos poemas ali reunidos, não passará despercebida a assiduidade do termo. Serão dez, ao todo, as ocorrências desse significante ou de variações suas.
Ao longo das três partes que formam o livro (Água, Lábios e Lábios de Água), sua distribuição é todavia desigual: duas na primeira parte, cinco na segunda e três na terceira. Mais equilibrado é certamente o efeito expressivo das imagens que veiculam o azul. Transportado para uma frase ou para um conjunto de frases, ele coloca em contato elementos dessemelhantes ou mesmo contrários entre si. Dessa reunião inesperada resultam estranhamentos. Suprimido o princípio lógico da não contradição, as paisagens cotidianas resvalam subitamente naquilo que nunca se viu. Assim, por exemplo, o mar se volatiza em azul e a impressão desse cheiro sentido em cor se reverbera polifônica, renovando um olhar já demasiadamente habituado à repetição de todos os dias: “Há um azul cheiro de mar agora/ há um cortante e horizontal chilrar/ sobre o meu olho prenhe de manhãs”.
[caption id="attachment_87927" align="alignleft" width="300"] "Água Anônima", livro de estreia de Wesley Peres[/caption]
Já em O infinito e seus arredores, a proliferação de imagens fluidas continua até desaguar na pergunta contida na pergunta: “quantas horas faz em você/ quando o violino de som amarelo/ flutua a concha de formas de uma mulher/ que me pergunta: Deus é azul?” (p. 95). Na imagem sonhada, o poeta viola, a um só tempo, a sintaxe comum e o mandamento religioso - infração sacrílega dos absolutos. Mais adiante, dois outros poemas e duas outras imagens escritas em azul: o curvilíneo “e azul cheiro de sal vermelho” (p. 103) da amada assim como os “peixes embolhados [que] rasgam o azul e vestem uma cordilheira de pássaros” (p. 137). Revela-se, em ambos os casos, um exercício consciente de transgressão imposto à política da percepção balizada pelos códigos cotidianos.
Com recursos emprestados principalmente da poética de Manoel de Barros, a Peres interessa fazer ressoar “o som azul da maçã” (p. 157) e apontar sutilmente o “azul da distância” (p. 161). Importa esgarçar o tecido do discurso comum a fim de “recuperar o caráter fluido e provisório da língua”, como apregoa Georges Steiner, no texto “O poeta e o silêncio”, contido em Linguagem e silêncio: ensaios sobre a crise da palavra (São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Trad. Gilda Stuart e Felipe Rajabally, p. 46). Interesse mudado em poema, temos Arqueologia da linguagem: “Vazio/ com suas formas azuis/ de sonho decaído/ o rumo incerto da carne dos deuses/ em decomposição/ assim nasce do homem/ o centro de sua invenção/ assim nasce sua morte/ a sua infinitude/ pousada entre o vôo da matéria explodida/ e o ventre esférico dos desejos perdidos./ O homem está no contrário de seu contrário pensado” (Água anônima, op. cit., p. 35).
O poeta revolve a linguagem, exuma suas origens. Revisitada em sua aurora, a palavra revela sua força disseminadora, geradora de princípios e de transcendências. No todo da imagem que surge com o poema, nem mesmo o vazio primordial chega a ser obstáculo frente à potência proliferadora do verbo. Assim como enuncia o poeta, as formas azuis do nada primal são íntimas dos sonhos e das metafísicas religiosas. Infectado pelo verbo, o homem reage tecendo suas narrativas. Acossado pela mortalidade, é compreensível que na palavra ele queira sonhar o infinito. Tal como fica sugerido no remate do poema, o homem se faz unicamente pelo enxerto da coisa pensante na substância viva. Dessa conjunção resultam sua vocação para os engendramentos e um desejo não mais conformado aos protocolos instintuais mas condenado a errância. Por meio do gesto poético realizado em seu livro primeiro, Peres materializa literariamente o paradoxo da soberania segundo o qual, “o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento”, já dizia Carl Schmitt: está dentro porque, tal como os outros, também o poeta encontra-se submetido ao regime geral da linguagem; encontra-se fora porque sua arte permite transgredir legitimamente as leis da palavra.
Muito embora o comparecimento do significante-mestre azul e de suas variações não obedeça a princípios estritamente uniformes em todo Água Anônima, vale ressaltar sua importância no contexto geral dessa obra cujo intuito primeiro parece ser operar sobre a linguagem a fim de restituir à palavra seu “poder de encantação”. Objetivo certamente fundado na tese segundo a qual, pelo trabalho do poeta, a linguagem poderia ser levada, como diz Octavio Paz em O arco e a lira, a reconquistar “seus valores plásticos e sonoros”, mas também “os afetivos” e os “significativos”. É para esse ponto que convergem os escritos que formam o estágio embrionário da produção de Wesley Peres, período que compreende os seus dois primeiros livros publicados, a saber: Água Anônima (2002) e Rio Revoando (2003). Ambos testemunham a mesma inquietação fundamental, a mesma necessidade imperativa de “enxertar uma nova geografia à palavra em demolição” (Rio revoando. São Paulo: Com-Arte, 2003, p. 2).
Não por acaso, aquilo que há de mais bem realizado no primeiro livro acaba reaparecendo no segundo: Água Anônima flui sem reservas para o Rio revoando. Entretanto, apesar dessa repetição, em Rio revoando realiza-se uma mudança estilística sutil, mas extremamente
importante no contexto da obra de Peres. Ali veremos aparecer, entremeados aos demais poemas, alguns aglomerados discursivos nos quais a linguagem se espessa. Tomemos o primeiro deles, Carta de um Homem Derivado de Suas Águas - naquilo que não se repete ainda o azul, nosso fio de Ariadne: “dos anjos desejo apenas os seios azuis escorrendo a língua alada salivando o pistilo da morte e da vida” (Rio revoando. Op. Cit. p. 16).
O homem derivado de suas águas está só e sozinho ele fala a esmo. Talvez fale movido apenas pelo prazer da errância e, por isso mesmo, ele fala como quem está literalmente à deriva. É possível ainda que fale para tentar vencer na palavra a monotonia dos códigos fixos, afinal, “embora não haja nada de novo sob o sol, tudo se renova e se rediz quando a realidade se repropõe, [...] a cada um de nós, indivíduos irrepetíveis que somos”, já dizia Alfredo Bosi (“Meditatio mortis: sobre um livro de Reventós, poeta catalão”. In: Entre a literatura e a história. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 66). Fala para se visitar e, nesse percurso, descobrir-se incomunicável. “Entre um ser e um outro há um abismo, uma descontinuidade”, como quer Bataille (O erotismo. São Paulo: Arx, 2004, p. 22), entre ele e Camila, uma vertiginosa incompreensão. E se, “a palavra é uma ponte mediante a qual o homem tenta superar a distância que o separa da realidade exterior” (Paz, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC NAIFY, 2012. Trad. Ari Roitman e Paulina Wacht, p. 43), é exatamente ao entregar-se a ela, ao fazer a experiência do discurso, que ele poderá concluir que a distância é a sua casa.
Assim afastados, os amantes esperam por um encontro que teima em não se realizar. Ambos anseiam por aquilo que insiste em não acontecer: o aguardado retorno da ausência-ela, a mínima estabilização para o caos-ele. Ainda que endereçados um ao outro, eles se vêem fadados a repetir o mesmo destino: naquilo que se procuram só fazem se perder. Seres líquidos, em contínuo fluir. Que ele falasse sobre si e sobre si apenas, ela talvez tenha lhe rogado em algum momento do passado. Ao que ele, agora, lhe responde: “Bem, Camila, pediu que eu lhe escrevesse uma carta e que, nesta, eu me dissesse. Não lhe escrevi, mas talvez a
tenha escrito ao tentar me dizer. Sei que o pedido era que eu falasse de mim e apenas de mim, sem, como você mesma expressou, usar o subterfúgio de falar também de você. Lembre-se, esta carta não é para você, porém, na verdade, a sua carta está dentro desta carta” (Rio revoando, op. cit., p. 29). Encerrada a carta, o seguinte pós-escrito: “P.S.: Seja feita a vossa vontade. A seguir, algumas poucas linhas [...]: eu falando de mim, só de mim, mesmo que eu não saiba quem fala, serei eu, falando só de mim”. Promessa cumprida ao pé da letra.
[caption id="attachment_87929" align="alignleft" width="300"]
"Água Anônima", livro de estreia de Wesley Peres[/caption]
Já em O infinito e seus arredores, a proliferação de imagens fluidas continua até desaguar na pergunta contida na pergunta: “quantas horas faz em você/ quando o violino de som amarelo/ flutua a concha de formas de uma mulher/ que me pergunta: Deus é azul?” (p. 95). Na imagem sonhada, o poeta viola, a um só tempo, a sintaxe comum e o mandamento religioso - infração sacrílega dos absolutos. Mais adiante, dois outros poemas e duas outras imagens escritas em azul: o curvilíneo “e azul cheiro de sal vermelho” (p. 103) da amada assim como os “peixes embolhados [que] rasgam o azul e vestem uma cordilheira de pássaros” (p. 137). Revela-se, em ambos os casos, um exercício consciente de transgressão imposto à política da percepção balizada pelos códigos cotidianos.
Com recursos emprestados principalmente da poética de Manoel de Barros, a Peres interessa fazer ressoar “o som azul da maçã” (p. 157) e apontar sutilmente o “azul da distância” (p. 161). Importa esgarçar o tecido do discurso comum a fim de “recuperar o caráter fluido e provisório da língua”, como apregoa Georges Steiner, no texto “O poeta e o silêncio”, contido em Linguagem e silêncio: ensaios sobre a crise da palavra (São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Trad. Gilda Stuart e Felipe Rajabally, p. 46). Interesse mudado em poema, temos Arqueologia da linguagem: “Vazio/ com suas formas azuis/ de sonho decaído/ o rumo incerto da carne dos deuses/ em decomposição/ assim nasce do homem/ o centro de sua invenção/ assim nasce sua morte/ a sua infinitude/ pousada entre o vôo da matéria explodida/ e o ventre esférico dos desejos perdidos./ O homem está no contrário de seu contrário pensado” (Água anônima, op. cit., p. 35).
O poeta revolve a linguagem, exuma suas origens. Revisitada em sua aurora, a palavra revela sua força disseminadora, geradora de princípios e de transcendências. No todo da imagem que surge com o poema, nem mesmo o vazio primordial chega a ser obstáculo frente à potência proliferadora do verbo. Assim como enuncia o poeta, as formas azuis do nada primal são íntimas dos sonhos e das metafísicas religiosas. Infectado pelo verbo, o homem reage tecendo suas narrativas. Acossado pela mortalidade, é compreensível que na palavra ele queira sonhar o infinito. Tal como fica sugerido no remate do poema, o homem se faz unicamente pelo enxerto da coisa pensante na substância viva. Dessa conjunção resultam sua vocação para os engendramentos e um desejo não mais conformado aos protocolos instintuais mas condenado a errância. Por meio do gesto poético realizado em seu livro primeiro, Peres materializa literariamente o paradoxo da soberania segundo o qual, “o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento”, já dizia Carl Schmitt: está dentro porque, tal como os outros, também o poeta encontra-se submetido ao regime geral da linguagem; encontra-se fora porque sua arte permite transgredir legitimamente as leis da palavra.
Muito embora o comparecimento do significante-mestre azul e de suas variações não obedeça a princípios estritamente uniformes em todo Água Anônima, vale ressaltar sua importância no contexto geral dessa obra cujo intuito primeiro parece ser operar sobre a linguagem a fim de restituir à palavra seu “poder de encantação”. Objetivo certamente fundado na tese segundo a qual, pelo trabalho do poeta, a linguagem poderia ser levada, como diz Octavio Paz em O arco e a lira, a reconquistar “seus valores plásticos e sonoros”, mas também “os afetivos” e os “significativos”. É para esse ponto que convergem os escritos que formam o estágio embrionário da produção de Wesley Peres, período que compreende os seus dois primeiros livros publicados, a saber: Água Anônima (2002) e Rio Revoando (2003). Ambos testemunham a mesma inquietação fundamental, a mesma necessidade imperativa de “enxertar uma nova geografia à palavra em demolição” (Rio revoando. São Paulo: Com-Arte, 2003, p. 2).
Não por acaso, aquilo que há de mais bem realizado no primeiro livro acaba reaparecendo no segundo: Água Anônima flui sem reservas para o Rio revoando. Entretanto, apesar dessa repetição, em Rio revoando realiza-se uma mudança estilística sutil, mas extremamente
importante no contexto da obra de Peres. Ali veremos aparecer, entremeados aos demais poemas, alguns aglomerados discursivos nos quais a linguagem se espessa. Tomemos o primeiro deles, Carta de um Homem Derivado de Suas Águas - naquilo que não se repete ainda o azul, nosso fio de Ariadne: “dos anjos desejo apenas os seios azuis escorrendo a língua alada salivando o pistilo da morte e da vida” (Rio revoando. Op. Cit. p. 16).
O homem derivado de suas águas está só e sozinho ele fala a esmo. Talvez fale movido apenas pelo prazer da errância e, por isso mesmo, ele fala como quem está literalmente à deriva. É possível ainda que fale para tentar vencer na palavra a monotonia dos códigos fixos, afinal, “embora não haja nada de novo sob o sol, tudo se renova e se rediz quando a realidade se repropõe, [...] a cada um de nós, indivíduos irrepetíveis que somos”, já dizia Alfredo Bosi (“Meditatio mortis: sobre um livro de Reventós, poeta catalão”. In: Entre a literatura e a história. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 66). Fala para se visitar e, nesse percurso, descobrir-se incomunicável. “Entre um ser e um outro há um abismo, uma descontinuidade”, como quer Bataille (O erotismo. São Paulo: Arx, 2004, p. 22), entre ele e Camila, uma vertiginosa incompreensão. E se, “a palavra é uma ponte mediante a qual o homem tenta superar a distância que o separa da realidade exterior” (Paz, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC NAIFY, 2012. Trad. Ari Roitman e Paulina Wacht, p. 43), é exatamente ao entregar-se a ela, ao fazer a experiência do discurso, que ele poderá concluir que a distância é a sua casa.
Assim afastados, os amantes esperam por um encontro que teima em não se realizar. Ambos anseiam por aquilo que insiste em não acontecer: o aguardado retorno da ausência-ela, a mínima estabilização para o caos-ele. Ainda que endereçados um ao outro, eles se vêem fadados a repetir o mesmo destino: naquilo que se procuram só fazem se perder. Seres líquidos, em contínuo fluir. Que ele falasse sobre si e sobre si apenas, ela talvez tenha lhe rogado em algum momento do passado. Ao que ele, agora, lhe responde: “Bem, Camila, pediu que eu lhe escrevesse uma carta e que, nesta, eu me dissesse. Não lhe escrevi, mas talvez a
tenha escrito ao tentar me dizer. Sei que o pedido era que eu falasse de mim e apenas de mim, sem, como você mesma expressou, usar o subterfúgio de falar também de você. Lembre-se, esta carta não é para você, porém, na verdade, a sua carta está dentro desta carta” (Rio revoando, op. cit., p. 29). Encerrada a carta, o seguinte pós-escrito: “P.S.: Seja feita a vossa vontade. A seguir, algumas poucas linhas [...]: eu falando de mim, só de mim, mesmo que eu não saiba quem fala, serei eu, falando só de mim”. Promessa cumprida ao pé da letra.
[caption id="attachment_87929" align="alignleft" width="300"] "Rio Revoando", o segundo livro publicado por Peres[/caption]
Nas linhas que vêm em seguida ele continua à deriva, segue falando “mesmo que [esse] eu não saiba quem fala” (Idem, p. 29). No todo da carta, a voz que se desdobra recusa terminantemente o vis-à-vis imaginário (base comum para os discursos calcados na força coesiva do eu consciente) a fim de assumir-se sempre outra. Por meio dela são traçados os contornos de um Eu dessimétrico a si mesmo e, por isso mesmo, em condição de refazer em sua experiência com o discurso a descoberta de Rimbaud: “Eu é um outro” - descobrimento também transmitido em carta, remetida pelo poeta francês ao amigo Paul Demeny. Um Eu estranhamente familiar e familiarmente estranho, eutro (Lopes apud Peres. A escrita literária como autobioficção: parletre, escrita, sinthoma. Brasília: Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, 2012.), em cuja voz se exprime a condição singular desse animal visitado pela linguagem que é o homem.
A falta de um centro de gravidade que estabilizasse esse Eu polifônico em uma identidade fixa limita com a insanidade: “Muitos confirmam a minha loucura, Camila, mas não me orgulho disso, não aceito elogios fáceis, enlouquecer é sempre uma construção de vagar, é aceitar que o tempo é um, e para sempre, imovimento alucinado da matéria, promovendo encontros que não se repetirão, caso sejam sutis o bastante para não serem percebidos” (Rio revoando, op. cit., p. 26). Para esse homem à deriva, feita slogan, a loucura soa tão imprópria quanto qualquer outra referência identitária. Categorizada, a doença mental não passa de um otimismo do saber conceitual frente à instabilidade da vida. E, como ele bem desconfia, a vida “não se faz nem com ideias nem com palavras” (Rio revoando, op. cit., p. 22). Por isso ele insiste, requisitando coragem para “romper com todos os lastros, todas as encostas, todos os sussurros infundidos em nós” (Rio revoando, op. cit., p. 21).
Disso resulta que, para ele, esse esforço de nomeação que visa conter as invasões do instante seja visto apenas como sinal de fraqueza: “ausência de coragem, dar um nome, possuir, devo tomar cuidado, Deus começou assim e acabou sofrendo de eternidade” (Rio revoando, op. cit., p. 27). Nas águas do rio-discurso, o conceito comunica com a eternidade. Ambos visceralmente repudiados pelo homem que se sabe provisório, afinal, não lhe são indiferentes os nexos que ligam a morte ao exercício conceitual: operação em razão da qual a coisa viva e perecível se faz substituir pela palavra inerte, apesar de sempre durável. Admite-se ali apenas o paradoxo da “eternidade embrulhada no instante” (Rio revoando, op. cit., p. 27), aquela por meio da qual se poderia negar a estabilidade do conceito e dizer sim para o acontecimento imprevisto. É sem um Eu que ele fala de si, de si apenas. O polifônico signatário performatiza em seu discurso o estado de ser à deriva que é o desse corpo vivo submetido às leis da palavra, cujo derivar mostra-se irremediavelmente intransitivo.
Tiago Ribeiro Nunes é professor adjunto do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão
"Rio Revoando", o segundo livro publicado por Peres[/caption]
Nas linhas que vêm em seguida ele continua à deriva, segue falando “mesmo que [esse] eu não saiba quem fala” (Idem, p. 29). No todo da carta, a voz que se desdobra recusa terminantemente o vis-à-vis imaginário (base comum para os discursos calcados na força coesiva do eu consciente) a fim de assumir-se sempre outra. Por meio dela são traçados os contornos de um Eu dessimétrico a si mesmo e, por isso mesmo, em condição de refazer em sua experiência com o discurso a descoberta de Rimbaud: “Eu é um outro” - descobrimento também transmitido em carta, remetida pelo poeta francês ao amigo Paul Demeny. Um Eu estranhamente familiar e familiarmente estranho, eutro (Lopes apud Peres. A escrita literária como autobioficção: parletre, escrita, sinthoma. Brasília: Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, 2012.), em cuja voz se exprime a condição singular desse animal visitado pela linguagem que é o homem.
A falta de um centro de gravidade que estabilizasse esse Eu polifônico em uma identidade fixa limita com a insanidade: “Muitos confirmam a minha loucura, Camila, mas não me orgulho disso, não aceito elogios fáceis, enlouquecer é sempre uma construção de vagar, é aceitar que o tempo é um, e para sempre, imovimento alucinado da matéria, promovendo encontros que não se repetirão, caso sejam sutis o bastante para não serem percebidos” (Rio revoando, op. cit., p. 26). Para esse homem à deriva, feita slogan, a loucura soa tão imprópria quanto qualquer outra referência identitária. Categorizada, a doença mental não passa de um otimismo do saber conceitual frente à instabilidade da vida. E, como ele bem desconfia, a vida “não se faz nem com ideias nem com palavras” (Rio revoando, op. cit., p. 22). Por isso ele insiste, requisitando coragem para “romper com todos os lastros, todas as encostas, todos os sussurros infundidos em nós” (Rio revoando, op. cit., p. 21).
Disso resulta que, para ele, esse esforço de nomeação que visa conter as invasões do instante seja visto apenas como sinal de fraqueza: “ausência de coragem, dar um nome, possuir, devo tomar cuidado, Deus começou assim e acabou sofrendo de eternidade” (Rio revoando, op. cit., p. 27). Nas águas do rio-discurso, o conceito comunica com a eternidade. Ambos visceralmente repudiados pelo homem que se sabe provisório, afinal, não lhe são indiferentes os nexos que ligam a morte ao exercício conceitual: operação em razão da qual a coisa viva e perecível se faz substituir pela palavra inerte, apesar de sempre durável. Admite-se ali apenas o paradoxo da “eternidade embrulhada no instante” (Rio revoando, op. cit., p. 27), aquela por meio da qual se poderia negar a estabilidade do conceito e dizer sim para o acontecimento imprevisto. É sem um Eu que ele fala de si, de si apenas. O polifônico signatário performatiza em seu discurso o estado de ser à deriva que é o desse corpo vivo submetido às leis da palavra, cujo derivar mostra-se irremediavelmente intransitivo.
Tiago Ribeiro Nunes é professor adjunto do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão


