Por Adalberto de Queiroz

Poeta Carlos Drummond de Andrade, em sua receita de ano novo, constata que há muitos que insistem em sonhar com o champanhe e a birita para desvelar o que só o interior pode revelar: a fórmula de um bom Ano Novo

Grandes representantes da inspiração divina mostram ao mundo que “o amor é mais sublime do que o mero pensamento. O pensamento absoluto é amar; ele não é um pensamento insensível e sim criativo, porque é amor”

Livro de Wladimir Saldanha eleva o tom da lírica a um patamar poucas vezes visto nos católicos poetas desde o trio Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Schmidt
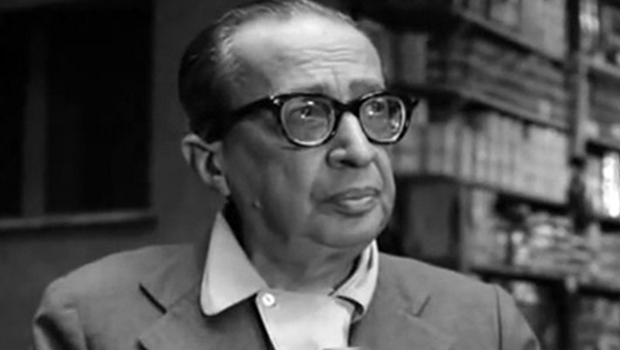
Poeta Manuel Bandeira, ao passar o fim de ano em sanatório na Suíça, escreveu um poema que, como toda sua obra, ainda alcança o leitor, mais de cem anos depois, rompendo o Tempo, sendo continuamente lido

Sabe o cronista estar diante de um grande, mas sequer sabe tirar da poética deste escritor no vigor criativo da sua quarentena de anos o sumo do saber acumulado

O poeta romano, como todos os grandes da poesia, anunciou-se muito cedo, deixando uma obra profunda; não só Eneida, mas sobretudo os saborosos versos da sua juventude fazem-nos vibrar
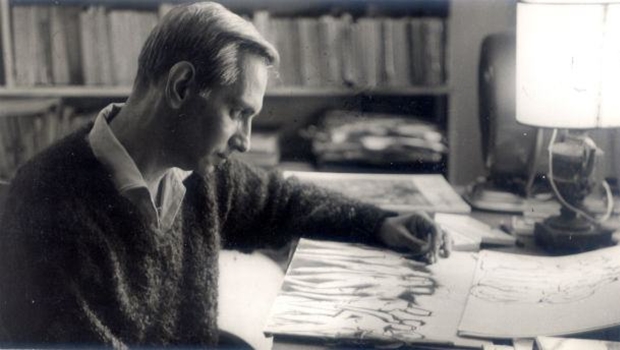
Escritor mineiro ainda não teve trazidos à tona o conhecimento aprofundado e o amplo debate de sua vida e obra; até hoje, na véspera dos 50 anos de sua morte, críticos e pesquisadores preferem apropriar-se do autor para defenderem suas próprias teses

O poeta italiano, considerado anti-Pascal, é um incrédulo, um negativista, um descrente, mas sua poesia toca em algum lugar na alma do cristão que se torna impossível não gostar dele, tanto quanto é impossível descrever esse gosto em poucas palavras
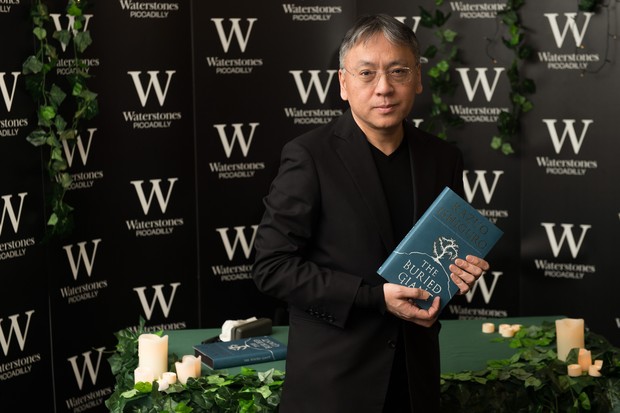
Os livros do nipo-britânico sustentam-se como literatura de qualidade, para além das ideias? “O Gigante Adormecido” é um romance que fica de pé

Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão — a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor
[caption id="attachment_108303" align="alignleft" width="620"]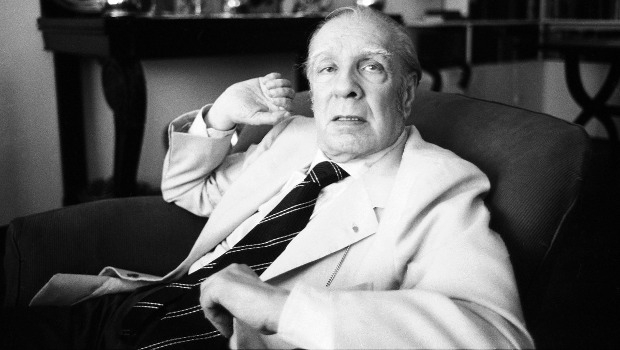 Jorge Luis Borges[/caption]
A cegueira de Borges, tal como em Homero, Milton, Joyce – e outros escritores –, pode ter sido decisiva para a produção diferenciada do escritor argentino que se fez conhecido e reconhecido no cânone da literatura ocidental. Harold Bloom chega a dizer que Jorge Luis Borges foi para o conto “a maior influência sobre o gênero (“short stories”) na segunda metade do século XX ”. E assim, o conto – conclui Bloom: “agora tende a ser tchekhoviano ou borgiano e, nalguns casos, influenciado por ambos”.
Não inferior seria a importância e a influência de Borges na Poesia. O poeta, o ensaísta, o palestrante, o homem público, para quem a cegueira não chegou como um raio, um acidente inusitado, mas como uma doença progressiva, como um “lento entardecer”; variante pessoal significativa, a cegueira em Borges teve uma dimensão existencial que o coloca em paz consigo mesmo.
Sua cegueira progressiva foi como um lento crepúsculo, fazendo com que Borges se tornasse mais compreensivo e com pequeno grau de revolta (e dor) que poderiam ter-lhe afetado mais decisivamente se vítima de uma cegueira gerada, por exemplo, por um acidente. Ao contrário, a cegueira o apazigua, a ponto de avaliá-la como um dom. Deus teria, segundo o poeta e contista argentino, trazido ao mesmo tempo os livros e as sombras, mas, ao enfrentar (com valentia) a cegueira, esta “não foi um desespero nem tampouco uma infelicidade total”. E mais: Borges tornou-se um poeta mais “musical”, trocando o mundo visível pelo mundo auditivo.
Não ter sentido a cegueira como uma punição, deu a Borges a vantagem do que chama de “ter adotado um novo modo de viver” (uma espécie de dom) e se inscreve entre escritores ilustres que ficaram cegos, como Homero, Milton, William Prescott, Rafael Baralt e James Joyce – que, cegos ou quase cegos, geraram obras imortais na literatura.
Ao assumir a diretoria da Biblioteca Nacional da Argentina, Borges o fez como quem segue o Destino, pois era o terceiro dos presidentes cegos da entidade, depois de José Mármol e Paul Groussac. Bastou a Borges que a coincidência de sua nomeação formasse uma tríade de cegos, para que enxergasse no evento uma conotação divina ou teológica – “se dois é uma mera coincidência, três é uma confirmação — e confirmação de ordem ternária, quer dizer, divina ou teológica[i]”.
De fato, foram cegos José Mármol, (1817-1871) – poeta, lembrado sobretudo por “Amália: um romance argentino”; Groussac, que, por sua vez, nasceu na França (1848) e faleceu em Buenos Aires (1929) – cujas obras principais, originam-se de seu ofício de professor e bibliotecário (“La Biblioteca” e “Annales”), além dos estudos sobre a história da Argentina.
“Devo à cegueira muitos versos e o aprendizado de idiomas” – diz Borges numa conferência que ficou famosa (“La Ceguera”) e que ainda pode ser vista na rede, através do YouTube. Além disso, há “Elogio da Sombra”, um livro que é como uma evidência objetiva de que o cego está apaziguado com o escritor e vice-versa.
Um cego[ii]
Não sei qual é a face que me fita
Quando observo a face de algum espelho;
No seu reflexo espreita-me esse velho
Com ira muda, fatigada, aflita.
Lento na sombra, com as mãos exploro
Meus invisíveis traços. O mais belo
Fulgor me atinge. Vi o teu cabelo
Que é já de cinza ou é ainda de ouro.
Repito que perdi unicamente
A superfície sempre vã das coisas.
O consolo é de Milton e é valente,
Mas eu penso nas letras e nas rosas,
Penso que se pudesse ver a cara
Saberia quem sou na tarde rara.
Já se sabe que o autor argentino tinha na biblioteca sua visão pessoal do paraíso. Aos 70 anos, o autor de “Ficções” escreve um poema exemplar sobre sua relação com os livros e os dons. Sabendo que não poderia senão reconhecer as lombadas e sentir-lhes a presença – a quantidade de livros de uma biblioteca parecia a Borges algo sensível –, ao andar pelo espaço das estantes, conforme o comprovou em experiências de viagens ao exterior.
Mircea Eliade bem pode subsidiar o leitor a melhor traduzir a experiência borgeana de produzir arte escrita – contos e poemas. Em “Imagens e Símbolos[iii]” ele afirma que “o pensamento simbólico não é domínio exclusivo da criança, do poeta ou do desequilibrado: ele é consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspetos da realidade — os mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da ´psiquê´; eles respondem a uma necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser”.
[...]
Sobre o homem decidido e cego que toma esse caminho, ocorre o que Eliade definiu assim:
“ Fugindo à sua historicidade o homem não abdica da sua qualidade de ser humano para se perder na «animalidade»; ele reencontra a linguagem e por vezes a experiência de um «paraíso perdido». Os sonhos, os sonhos acordados, as imagens das suas nostalgias, dos seus desejos, dos seus entusiasmos, etc., são outras tantas forças que projetam o ser humano historicamente condicionado num mundo espiritual infinitamente mais rico do que o mundo fechado do seu «momento histórico».
[caption id="attachment_108304" align="alignleft" width="620"]
Jorge Luis Borges[/caption]
A cegueira de Borges, tal como em Homero, Milton, Joyce – e outros escritores –, pode ter sido decisiva para a produção diferenciada do escritor argentino que se fez conhecido e reconhecido no cânone da literatura ocidental. Harold Bloom chega a dizer que Jorge Luis Borges foi para o conto “a maior influência sobre o gênero (“short stories”) na segunda metade do século XX ”. E assim, o conto – conclui Bloom: “agora tende a ser tchekhoviano ou borgiano e, nalguns casos, influenciado por ambos”.
Não inferior seria a importância e a influência de Borges na Poesia. O poeta, o ensaísta, o palestrante, o homem público, para quem a cegueira não chegou como um raio, um acidente inusitado, mas como uma doença progressiva, como um “lento entardecer”; variante pessoal significativa, a cegueira em Borges teve uma dimensão existencial que o coloca em paz consigo mesmo.
Sua cegueira progressiva foi como um lento crepúsculo, fazendo com que Borges se tornasse mais compreensivo e com pequeno grau de revolta (e dor) que poderiam ter-lhe afetado mais decisivamente se vítima de uma cegueira gerada, por exemplo, por um acidente. Ao contrário, a cegueira o apazigua, a ponto de avaliá-la como um dom. Deus teria, segundo o poeta e contista argentino, trazido ao mesmo tempo os livros e as sombras, mas, ao enfrentar (com valentia) a cegueira, esta “não foi um desespero nem tampouco uma infelicidade total”. E mais: Borges tornou-se um poeta mais “musical”, trocando o mundo visível pelo mundo auditivo.
Não ter sentido a cegueira como uma punição, deu a Borges a vantagem do que chama de “ter adotado um novo modo de viver” (uma espécie de dom) e se inscreve entre escritores ilustres que ficaram cegos, como Homero, Milton, William Prescott, Rafael Baralt e James Joyce – que, cegos ou quase cegos, geraram obras imortais na literatura.
Ao assumir a diretoria da Biblioteca Nacional da Argentina, Borges o fez como quem segue o Destino, pois era o terceiro dos presidentes cegos da entidade, depois de José Mármol e Paul Groussac. Bastou a Borges que a coincidência de sua nomeação formasse uma tríade de cegos, para que enxergasse no evento uma conotação divina ou teológica – “se dois é uma mera coincidência, três é uma confirmação — e confirmação de ordem ternária, quer dizer, divina ou teológica[i]”.
De fato, foram cegos José Mármol, (1817-1871) – poeta, lembrado sobretudo por “Amália: um romance argentino”; Groussac, que, por sua vez, nasceu na França (1848) e faleceu em Buenos Aires (1929) – cujas obras principais, originam-se de seu ofício de professor e bibliotecário (“La Biblioteca” e “Annales”), além dos estudos sobre a história da Argentina.
“Devo à cegueira muitos versos e o aprendizado de idiomas” – diz Borges numa conferência que ficou famosa (“La Ceguera”) e que ainda pode ser vista na rede, através do YouTube. Além disso, há “Elogio da Sombra”, um livro que é como uma evidência objetiva de que o cego está apaziguado com o escritor e vice-versa.
Um cego[ii]
Não sei qual é a face que me fita
Quando observo a face de algum espelho;
No seu reflexo espreita-me esse velho
Com ira muda, fatigada, aflita.
Lento na sombra, com as mãos exploro
Meus invisíveis traços. O mais belo
Fulgor me atinge. Vi o teu cabelo
Que é já de cinza ou é ainda de ouro.
Repito que perdi unicamente
A superfície sempre vã das coisas.
O consolo é de Milton e é valente,
Mas eu penso nas letras e nas rosas,
Penso que se pudesse ver a cara
Saberia quem sou na tarde rara.
Já se sabe que o autor argentino tinha na biblioteca sua visão pessoal do paraíso. Aos 70 anos, o autor de “Ficções” escreve um poema exemplar sobre sua relação com os livros e os dons. Sabendo que não poderia senão reconhecer as lombadas e sentir-lhes a presença – a quantidade de livros de uma biblioteca parecia a Borges algo sensível –, ao andar pelo espaço das estantes, conforme o comprovou em experiências de viagens ao exterior.
Mircea Eliade bem pode subsidiar o leitor a melhor traduzir a experiência borgeana de produzir arte escrita – contos e poemas. Em “Imagens e Símbolos[iii]” ele afirma que “o pensamento simbólico não é domínio exclusivo da criança, do poeta ou do desequilibrado: ele é consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspetos da realidade — os mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da ´psiquê´; eles respondem a uma necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser”.
[...]
Sobre o homem decidido e cego que toma esse caminho, ocorre o que Eliade definiu assim:
“ Fugindo à sua historicidade o homem não abdica da sua qualidade de ser humano para se perder na «animalidade»; ele reencontra a linguagem e por vezes a experiência de um «paraíso perdido». Os sonhos, os sonhos acordados, as imagens das suas nostalgias, dos seus desejos, dos seus entusiasmos, etc., são outras tantas forças que projetam o ser humano historicamente condicionado num mundo espiritual infinitamente mais rico do que o mundo fechado do seu «momento histórico».
[caption id="attachment_108304" align="alignleft" width="620"] Borges na Biblioteca Nacional da Argentina[/caption]
Borges foi um desses seres que fez um voo importante para fora do seu “momento histórico” e se dizia pouco preocupado com as datas, pois “as circunstâncias das datas não importam – só os fatos como os recordamos” e a partir desse olhar de sobrevoo sobre a história do Homem, um argentino do século XX, orgulhoso descendente de ingleses, tarde veio a estudar o idioma anglo-saxão e a poesia de seus ancestrais.
Ainda firmado em Eliade, que cita o pensador francês Gaston Bachelard, garantindo que a criação baseia-se sobretudo na poesia e nos sonhos e, subsidiariamente, no folclore, poderíamos facilmente mostrar como sonhos e imagens poéticas prolongam os simbolismos sagrados e as mitologias arcaicas.
Indiferente à galhofa, ou ao esgar de quem quer que fosse, ele era capaz de sair gritando junto com suas alunas e colegas de estudo do idioma anglo-saxão: “Lundeburgh/Londresburgo/Romaburgh/Romaburgo” – para significar que “a alta luz de Roma havia caído sobre as ilhas boreais de seus ancestrais” e esta luz era a mesma que povoava seus sonhos e seus escritos naquele momento.
O próprio Borges já afirmara no “Livro dos Sonhos” (1976) que “Coleridge deixara escrito que as imagens da vigília inspiram sentimentos, ao passo que nos sonhos os sentimentos inspiram as imagens (...) Se um tigre entrasse neste quarto, sentiríamos medo; se sentimentos medo no sonho, engendramos um tigre...”
(...)
Junho, 1968[iv]
Na tarde de ouro
ou numa serenidade cujo símbolo
poderia ser a tarde de ouro,
o homem dispõe os livros
nas prateleiras que aguardam
e sente o pergaminho, o couro, a tela
e o prazer que dão
a previsão de um hábito
e o estabelecimento de uma ordem.
Stevenson e outro escocês, Andrew Lang,
reatarão aqui, magicamente,
a lenta discussão que interromperam
os mares e a morte
e a Reyes não desagradará decerto
a proximidade de Virgílio.
(Ordenar bibliotecas é exercer,
de modo silencioso e modesto,
a arte da crítica.)
O homem, que está cego,
sabe que já não poderá decifrar
os belos volumes que manuseia
e que não o ajudarão a escrever
o livro que o justificará perante os outros,
mas na tarde que é talvez de ouro
sorri perante o curioso destino
e sente essa felicidade peculiar
das velhas coisas amadas.
Sobre a “arte antiga e rudimentar da leitura”, poucos dela se aproximaram com tal paixão, criando sobre esta uma mitologia tão notável como a deste escritor argentino.
A leitura foi para Borges, em dado momento, uma oitiva. Alguém lia para ele seus livros prediletos, levando-o a “reler” textos antigos, por intermédio de leituras feitas pela mãe ou por sua secretária – até Alberto Manguel leu para el...
Assim, o leitor-ouvinte passava por uma espécie de sonho e de aprendizado dantesco do real sentido das palavras. Ler uma a uma todas as palavras, como se deve, obrigatoriamente, fazer diante de um idioma desconhecido que se está estudando, tentando dominar, ler e reler no idioma nativo, mas sempre entender as nuances do que se leu. Esta parece ser a fórmula mágica do “fingidor” Borges que, segundo João Alexandre Barbosa[v], nos leva sempre a ler Borges pensando em outros escritores, fazendo analogias com outros textos (texto chama texto que chama texto); como se ler um texto fosse ler todos ou estar lendo outros textos, com ironia, ele “transfere para o leitor uma carga paródica e de fingimento” – aquela “verdade desestabilizada” de que falei na primeira parte deste ensaio. Ou, como sugere Bloom, ler Borges é como adentrar a “um labirinto vivo da literatura imaginativa”, tanto nos contos, quanto nos poemas, guiados pela mão de um gnóstico ascético e leitor voraz.
Destarte, Borges analisa uma quadra do soneto do Quixote (de Lotário para Clóris), aqui na tradução dos viscondes de Castilho e Azevedo.
“Da umbrosa noite no silêncio, quando
Meigo sono refaz os mais viventes,
Só eu vou meus martírios inclementes
Aos céus e à minha Clóris numerando”.
Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão – a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor. Da análise feita para o Quixote não me ocuparei agora, mas asseguro que o leitor comum ficará sempre em dívida com o crítico, tanto quanto com o escritor Borges, pelos desafios que nos propõe, pelas inumeráveis cifras que ele nos faz descobrir, das leituras novas que são propostas, pelos enigmas a dirimir.
Há, no entanto, uma medida de espanto que o autor nos causa por ter lido infinitamente mais e tão mais profundamente do que nós – pelo menos no caso deste cronista –, em que sempre nos surpreende quando se sabe que, ao praticar a arte da escrita, este argentino-universal passou em muito a média de leitura de nosso tempo, seja pelo tempo de meditação e solidão que a cegueira o doou, seja pelo Amor, este, sim, ingrediente fundamental aos que praticam a literatura, tanto como autor, como leitor apaixonado. Devo a Borges o conhecimento de Bioy Casares, Chesterton, Blake, De Quincey, Léon Bloy e tantos outros. Devo-lhe as melhores interpretações do Quixote, de Pascal, de Carlyle, de Coleridge, de J.W. Dunne, de Keats e tantos outros bons escritores.
Sua aproximação amorosa dessa coisa “leviana, calada e sagrada” que Oscar Wilde chamava Poesia lhe permitiu seguir à risca o que Dante (Canto V, Paraíso) chamava de o verdadeiro aprendizado: ter de memória inúmeros textos amados – seja no idioma nativo (espanhol), em inglês (anglo-saxão), francês e alemão. Dante já dissera: “Abre ora a mente pra o que te elucido, /e o guarda, que não faz erudição, /sem o reter, ter somente entendido” .
A lição, como sabemos, vem de São Tomás de Aquino, para quem só o Amor pode expandir a capacidade da memória, pois esta é uma potência intelectiva da alma.
Desse leitor ideal, retiro de “Elogio da Sombra”, esses versos que testemunham que Borges tomou a cegueira como um dom e continuou lendo e meditando, sonhando acordado. Um leitor exemplar. Borges é a figura d´O leitor por excelência, entre tantos.
Um leitor
Que outros se jactem das páginas que escreveram;
a mim me orgulham as que li.
Não fui um filólogo,
não pesquisei as declinações, os modos, a laboriosa
mutação das letras, o de que se endurece em te,
a equivalência do ge e do ka,
mas ao longo de meus anos tenho professado
a paixão da linguagem.
Minhas noites estão cheias de Virgílio;
ter sabido e ter esquecido o latim
é uma possessão, porque o esquecimento
é uma das formas da memória, seu impreciso porão,
o outro lado secreto da moeda.
Quando em meus olhos se apagaram
as vãs aparências amadas,
os rostos e a página,
entreguei-me ao estudo da linguagem de ferro
que usaram meus antepassados para cantar
espadas e solidões,
e agora, através de sete séculos,
desde a Última Tule,
tua voz me alcança, Snorri Sturluson.
O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina precisa
e o faz em busca de um conhecimento preciso;
em minha idade, toda tarefa é uma aventura
que limita com a noite.
Não acabarei de decifrar as antigas línguas do Norte,
não afundarei as mãos ávidas no ouro de Sigurd;
a tarefa que empreendo é ilimitada
e há de acompanhar-me até o fim,
não menos misteriosa que o universo
e que eu, o aprendiz.
— “Alles Nähe werde fern” (Tudo que é próximo se afasta) – disse J.W. Goethe. Borges nos ensina que, tal como o sol se põe ao fim do dia, na vida tudo pode se esmaecer, fugir, afastar-se... o que está próximo bem pode daqui a pouco desaparecer; como este ensaio que se finda; como a vida do maior escritor argentino do século XX – um ser que soube “tirar da circunstância miserável de nossa vida, coisas eternas”, ele que se afastou deixando-nos coisas que desejamos sejam eternas – diante dele, o melhor é descer das estantes as formas em celulose chamadas livros, que ainda podemos ler sem temor, enquanto nossos olhos o permitem.
NOTAS
[i] Citado no artigo de Isabella Lígia Moraes: “A noite escura da alma: misticismo e cegueira em John Milton e Jorge Luis Borges”, cf. link da revista Capitu online, consultado em 16/10/2017:
https://revistacapitu.com.br/a-noite-escura-da-alma-misticismo-e-cegueira-em-john-milton-e-jorge-luis-borges-8831a34a34f4
[ii] Tradução de Fernando Pinto do Amaral, em “Obras Completas III”, 1975-1985, Editorial Teorema, 1998.
[iii] ELIADE, Mircea. “Imagens e símbolos”, Editorial Arcadia, 1979, p.
[iv] "Elogio da sombra" (1969) - tradução de Carlos Nejar e Alfredo Jacques.
[v] BARBOSA, João Alexandre. “Alguma crítica”, Ateliê Editorial, 2002.
Borges na Biblioteca Nacional da Argentina[/caption]
Borges foi um desses seres que fez um voo importante para fora do seu “momento histórico” e se dizia pouco preocupado com as datas, pois “as circunstâncias das datas não importam – só os fatos como os recordamos” e a partir desse olhar de sobrevoo sobre a história do Homem, um argentino do século XX, orgulhoso descendente de ingleses, tarde veio a estudar o idioma anglo-saxão e a poesia de seus ancestrais.
Ainda firmado em Eliade, que cita o pensador francês Gaston Bachelard, garantindo que a criação baseia-se sobretudo na poesia e nos sonhos e, subsidiariamente, no folclore, poderíamos facilmente mostrar como sonhos e imagens poéticas prolongam os simbolismos sagrados e as mitologias arcaicas.
Indiferente à galhofa, ou ao esgar de quem quer que fosse, ele era capaz de sair gritando junto com suas alunas e colegas de estudo do idioma anglo-saxão: “Lundeburgh/Londresburgo/Romaburgh/Romaburgo” – para significar que “a alta luz de Roma havia caído sobre as ilhas boreais de seus ancestrais” e esta luz era a mesma que povoava seus sonhos e seus escritos naquele momento.
O próprio Borges já afirmara no “Livro dos Sonhos” (1976) que “Coleridge deixara escrito que as imagens da vigília inspiram sentimentos, ao passo que nos sonhos os sentimentos inspiram as imagens (...) Se um tigre entrasse neste quarto, sentiríamos medo; se sentimentos medo no sonho, engendramos um tigre...”
(...)
Junho, 1968[iv]
Na tarde de ouro
ou numa serenidade cujo símbolo
poderia ser a tarde de ouro,
o homem dispõe os livros
nas prateleiras que aguardam
e sente o pergaminho, o couro, a tela
e o prazer que dão
a previsão de um hábito
e o estabelecimento de uma ordem.
Stevenson e outro escocês, Andrew Lang,
reatarão aqui, magicamente,
a lenta discussão que interromperam
os mares e a morte
e a Reyes não desagradará decerto
a proximidade de Virgílio.
(Ordenar bibliotecas é exercer,
de modo silencioso e modesto,
a arte da crítica.)
O homem, que está cego,
sabe que já não poderá decifrar
os belos volumes que manuseia
e que não o ajudarão a escrever
o livro que o justificará perante os outros,
mas na tarde que é talvez de ouro
sorri perante o curioso destino
e sente essa felicidade peculiar
das velhas coisas amadas.
Sobre a “arte antiga e rudimentar da leitura”, poucos dela se aproximaram com tal paixão, criando sobre esta uma mitologia tão notável como a deste escritor argentino.
A leitura foi para Borges, em dado momento, uma oitiva. Alguém lia para ele seus livros prediletos, levando-o a “reler” textos antigos, por intermédio de leituras feitas pela mãe ou por sua secretária – até Alberto Manguel leu para el...
Assim, o leitor-ouvinte passava por uma espécie de sonho e de aprendizado dantesco do real sentido das palavras. Ler uma a uma todas as palavras, como se deve, obrigatoriamente, fazer diante de um idioma desconhecido que se está estudando, tentando dominar, ler e reler no idioma nativo, mas sempre entender as nuances do que se leu. Esta parece ser a fórmula mágica do “fingidor” Borges que, segundo João Alexandre Barbosa[v], nos leva sempre a ler Borges pensando em outros escritores, fazendo analogias com outros textos (texto chama texto que chama texto); como se ler um texto fosse ler todos ou estar lendo outros textos, com ironia, ele “transfere para o leitor uma carga paródica e de fingimento” – aquela “verdade desestabilizada” de que falei na primeira parte deste ensaio. Ou, como sugere Bloom, ler Borges é como adentrar a “um labirinto vivo da literatura imaginativa”, tanto nos contos, quanto nos poemas, guiados pela mão de um gnóstico ascético e leitor voraz.
Destarte, Borges analisa uma quadra do soneto do Quixote (de Lotário para Clóris), aqui na tradução dos viscondes de Castilho e Azevedo.
“Da umbrosa noite no silêncio, quando
Meigo sono refaz os mais viventes,
Só eu vou meus martírios inclementes
Aos céus e à minha Clóris numerando”.
Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão – a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor. Da análise feita para o Quixote não me ocuparei agora, mas asseguro que o leitor comum ficará sempre em dívida com o crítico, tanto quanto com o escritor Borges, pelos desafios que nos propõe, pelas inumeráveis cifras que ele nos faz descobrir, das leituras novas que são propostas, pelos enigmas a dirimir.
Há, no entanto, uma medida de espanto que o autor nos causa por ter lido infinitamente mais e tão mais profundamente do que nós – pelo menos no caso deste cronista –, em que sempre nos surpreende quando se sabe que, ao praticar a arte da escrita, este argentino-universal passou em muito a média de leitura de nosso tempo, seja pelo tempo de meditação e solidão que a cegueira o doou, seja pelo Amor, este, sim, ingrediente fundamental aos que praticam a literatura, tanto como autor, como leitor apaixonado. Devo a Borges o conhecimento de Bioy Casares, Chesterton, Blake, De Quincey, Léon Bloy e tantos outros. Devo-lhe as melhores interpretações do Quixote, de Pascal, de Carlyle, de Coleridge, de J.W. Dunne, de Keats e tantos outros bons escritores.
Sua aproximação amorosa dessa coisa “leviana, calada e sagrada” que Oscar Wilde chamava Poesia lhe permitiu seguir à risca o que Dante (Canto V, Paraíso) chamava de o verdadeiro aprendizado: ter de memória inúmeros textos amados – seja no idioma nativo (espanhol), em inglês (anglo-saxão), francês e alemão. Dante já dissera: “Abre ora a mente pra o que te elucido, /e o guarda, que não faz erudição, /sem o reter, ter somente entendido” .
A lição, como sabemos, vem de São Tomás de Aquino, para quem só o Amor pode expandir a capacidade da memória, pois esta é uma potência intelectiva da alma.
Desse leitor ideal, retiro de “Elogio da Sombra”, esses versos que testemunham que Borges tomou a cegueira como um dom e continuou lendo e meditando, sonhando acordado. Um leitor exemplar. Borges é a figura d´O leitor por excelência, entre tantos.
Um leitor
Que outros se jactem das páginas que escreveram;
a mim me orgulham as que li.
Não fui um filólogo,
não pesquisei as declinações, os modos, a laboriosa
mutação das letras, o de que se endurece em te,
a equivalência do ge e do ka,
mas ao longo de meus anos tenho professado
a paixão da linguagem.
Minhas noites estão cheias de Virgílio;
ter sabido e ter esquecido o latim
é uma possessão, porque o esquecimento
é uma das formas da memória, seu impreciso porão,
o outro lado secreto da moeda.
Quando em meus olhos se apagaram
as vãs aparências amadas,
os rostos e a página,
entreguei-me ao estudo da linguagem de ferro
que usaram meus antepassados para cantar
espadas e solidões,
e agora, através de sete séculos,
desde a Última Tule,
tua voz me alcança, Snorri Sturluson.
O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina precisa
e o faz em busca de um conhecimento preciso;
em minha idade, toda tarefa é uma aventura
que limita com a noite.
Não acabarei de decifrar as antigas línguas do Norte,
não afundarei as mãos ávidas no ouro de Sigurd;
a tarefa que empreendo é ilimitada
e há de acompanhar-me até o fim,
não menos misteriosa que o universo
e que eu, o aprendiz.
— “Alles Nähe werde fern” (Tudo que é próximo se afasta) – disse J.W. Goethe. Borges nos ensina que, tal como o sol se põe ao fim do dia, na vida tudo pode se esmaecer, fugir, afastar-se... o que está próximo bem pode daqui a pouco desaparecer; como este ensaio que se finda; como a vida do maior escritor argentino do século XX – um ser que soube “tirar da circunstância miserável de nossa vida, coisas eternas”, ele que se afastou deixando-nos coisas que desejamos sejam eternas – diante dele, o melhor é descer das estantes as formas em celulose chamadas livros, que ainda podemos ler sem temor, enquanto nossos olhos o permitem.
NOTAS
[i] Citado no artigo de Isabella Lígia Moraes: “A noite escura da alma: misticismo e cegueira em John Milton e Jorge Luis Borges”, cf. link da revista Capitu online, consultado em 16/10/2017:
https://revistacapitu.com.br/a-noite-escura-da-alma-misticismo-e-cegueira-em-john-milton-e-jorge-luis-borges-8831a34a34f4
[ii] Tradução de Fernando Pinto do Amaral, em “Obras Completas III”, 1975-1985, Editorial Teorema, 1998.
[iii] ELIADE, Mircea. “Imagens e símbolos”, Editorial Arcadia, 1979, p.
[iv] "Elogio da sombra" (1969) - tradução de Carlos Nejar e Alfredo Jacques.
[v] BARBOSA, João Alexandre. “Alguma crítica”, Ateliê Editorial, 2002.

O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones". Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente
[caption id="attachment_107796" align="aligncenter" width="620"] Jorge Luis Borges e sua mãe, Leonor Acevedo[/caption]
O nome do argentino Jorge Luis Borges está inscrito na literatura universal como o de quem compôs uma obra desafiadora e complexa porque, principalmente, gerada a partir de sua vida em meio aos livros, donde deriva o emaranhado de cifras, referências e enigmas. Pouco teria Borges experimentado do mundo como paisagem exterior. Sua cegueira progressiva, iniciada na infância, agravou-se aos 38 anos e tornou-se completa aos 56 (tendo falecido aos 87), ficando o poeta impedido de cumprir a agenda de um homem de ação.
“Como a maior parte de meus familiares haviam sido soldados, até o meu tio paterno que chegou a oficial da Marinha –, eu sabia que nunca poderia sê-lo e, muito cedo em minha vida, senti-me envergonhado de ser uma pessoa destinada aos livros e não à vida de ação” (Autobiografia)
Conservador declarado, Borges não deve ser visto, no entanto, como militante do Partido Conservador (ao que chegou a se filiar), e, por conseguinte, desprezado pelos leitores de esquerda, não deve estar sujeito às análises sócio-políticas, mas sim às literárias. Ou, mais apropriado ainda: deve ser lido como são lidos Proust, Kafka, ou, como se deveria ler Coleridge e Léon Bloy — como disse o amigo que na dedicatória do presente apresentou Borges como “uma civilização — mais do que um país [Argentina], talvez um império”. Adequado, pois o próprio Borges sentia-se cidadão do mundo e, não sem razão, o destino o levou a falecer em Genebra.
Ora, se “somos versículos, palavras ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que existe no mundo; ou melhor dito: é o mundo...” (conforme Léon Bloy, citado pelo próprio Borges) — ele, Borges, é um capítulo único e desafiador desse livro coletivo que se escreve com sofreguidão abaixo do Equador.
Borges nasceu em 1899, embora para muitos, incluindo Carpeaux, valha a mentira que o jovem autor contara ao editor da revista “Nosotros”, Alfredo Bianchi: “nasci em 1900!” Tal mentira é leve para um escritor que falsificou histórias e fabricou uma miríade de lendas com o seu saber enciclopédico e seu humor peculiar, principalmente quando escrevendo em parceria com o amigo Bioy Casares (criando o pseudônimo de Bustos Domecq, escreveram “La leche cuajada de La Martona”, 1935). Esta iniciativa publicitária, tida como ação involuntária, serviu de ponto de partida à colaboração literária entre Borges e Bioy Casares, que levaria à publicação de contos, traduções, críticas de livros e à organização da coleção de contos policiais "El Séptimo Círculo".
[caption id="attachment_107798" align="aligncenter" width="620"]
Jorge Luis Borges e sua mãe, Leonor Acevedo[/caption]
O nome do argentino Jorge Luis Borges está inscrito na literatura universal como o de quem compôs uma obra desafiadora e complexa porque, principalmente, gerada a partir de sua vida em meio aos livros, donde deriva o emaranhado de cifras, referências e enigmas. Pouco teria Borges experimentado do mundo como paisagem exterior. Sua cegueira progressiva, iniciada na infância, agravou-se aos 38 anos e tornou-se completa aos 56 (tendo falecido aos 87), ficando o poeta impedido de cumprir a agenda de um homem de ação.
“Como a maior parte de meus familiares haviam sido soldados, até o meu tio paterno que chegou a oficial da Marinha –, eu sabia que nunca poderia sê-lo e, muito cedo em minha vida, senti-me envergonhado de ser uma pessoa destinada aos livros e não à vida de ação” (Autobiografia)
Conservador declarado, Borges não deve ser visto, no entanto, como militante do Partido Conservador (ao que chegou a se filiar), e, por conseguinte, desprezado pelos leitores de esquerda, não deve estar sujeito às análises sócio-políticas, mas sim às literárias. Ou, mais apropriado ainda: deve ser lido como são lidos Proust, Kafka, ou, como se deveria ler Coleridge e Léon Bloy — como disse o amigo que na dedicatória do presente apresentou Borges como “uma civilização — mais do que um país [Argentina], talvez um império”. Adequado, pois o próprio Borges sentia-se cidadão do mundo e, não sem razão, o destino o levou a falecer em Genebra.
Ora, se “somos versículos, palavras ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que existe no mundo; ou melhor dito: é o mundo...” (conforme Léon Bloy, citado pelo próprio Borges) — ele, Borges, é um capítulo único e desafiador desse livro coletivo que se escreve com sofreguidão abaixo do Equador.
Borges nasceu em 1899, embora para muitos, incluindo Carpeaux, valha a mentira que o jovem autor contara ao editor da revista “Nosotros”, Alfredo Bianchi: “nasci em 1900!” Tal mentira é leve para um escritor que falsificou histórias e fabricou uma miríade de lendas com o seu saber enciclopédico e seu humor peculiar, principalmente quando escrevendo em parceria com o amigo Bioy Casares (criando o pseudônimo de Bustos Domecq, escreveram “La leche cuajada de La Martona”, 1935). Esta iniciativa publicitária, tida como ação involuntária, serviu de ponto de partida à colaboração literária entre Borges e Bioy Casares, que levaria à publicação de contos, traduções, críticas de livros e à organização da coleção de contos policiais "El Séptimo Círculo".
[caption id="attachment_107798" align="aligncenter" width="620"] Borges e seu amigo, o também escritor Adolfo Bioy Casares[/caption]
Sim, Borges pode ter mentido, admitem os biógrafos Helft e Pauls, autores de uma interessante “biografia ilustrada” (“Nove ensaios ilustrados[i]”). É como se o velho bibliotecário dissesse, principalmente em “A história universal da infâmia”: “posso ter mentido, mas tudo que disse tem uma fonte e é nessa zona de verdade desestabilizada onde o pecado da mentira é mais abstrato e mais perturbador”. Ou, da fonte original: “a verdade não se diz; se delata, sempre parcialmente, naquilo que se diz”.
Segundo Otto Maria Carpeaux, Borges passou rapidamente do “futurismo”, a poesia radical de Huidobro (1918), à criação de um sistema próprio de escrita. Para isso, Borges“integrou os elementos irracionalistas do criacionismo num sistema filosófico cuja tese principal é o caráter cíclico do Tempo e, portanto, a reversibilidade de todos os acontecimentos. Mas em vez de um tratado de metafísica, escreveu contos filosóficos, as “ficciones” altamente fantásticas, engenhosamente construídas e baseadas em notas eruditas diabolicamente inventadas, com a ajuda de toda a erudição fabulosa de que Borges dispõe realmente. É uma arte das mais requintadas, algo fria e desumana, sempre fascinante: obra significativa do século XX. Sua influência internacional se confundirá, em parte com a obra de Kafka[ii]”.
Interessa sobremodo ao leitor de Borges um título como este de Jorge Schwartz (“Borges Babilônico: Uma Enciclopédia"), um volume de 580 páginas, que levou mais de 20 anos para ser coligido com a ajuda de 60 especialistas, com mil verbetes sobre o argentino mais universal de que se tem notícia nas letras. Certamente, não pretendo aqui o enciclopédico pelo tom “dubitativo e conversado” de minha crônica, como afirma o próprio J.L.B. em “A penúltima versão da realidade. [iii]”
O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones[iv]”. Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente.
De lá, já colhi “A flor de Coleridge”, de onde se aprende que é perdoável que por um período de aprendizado sigamos o conselho de Rodrigo Gurgel – copiar nossos escritores prediletos, imitá-los até que o estilo desses em nós impregnado, nos revele o nosso próprio estilo:
“Aqueles que copiam minunciosamente um escritor fazem-no de modo impessoal, fazem-no por confundir esse escritor com a literatura, fazem-no por supor que se afastar dele em um ponto é afastar-se da razão e a ortodoxia. Durante muitos anos, eu acreditei que a quase infinita literatura estava em um homem. Esse homem foi Carlyle, foi Johannes Becher, foi Whitman, foi Rafael Cansinos-Asséns, foi De Quincey” (Jorge Luis Borges, em Outras inquisições).
[caption id="attachment_107808" align="alignleft" width="260"]
Borges e seu amigo, o também escritor Adolfo Bioy Casares[/caption]
Sim, Borges pode ter mentido, admitem os biógrafos Helft e Pauls, autores de uma interessante “biografia ilustrada” (“Nove ensaios ilustrados[i]”). É como se o velho bibliotecário dissesse, principalmente em “A história universal da infâmia”: “posso ter mentido, mas tudo que disse tem uma fonte e é nessa zona de verdade desestabilizada onde o pecado da mentira é mais abstrato e mais perturbador”. Ou, da fonte original: “a verdade não se diz; se delata, sempre parcialmente, naquilo que se diz”.
Segundo Otto Maria Carpeaux, Borges passou rapidamente do “futurismo”, a poesia radical de Huidobro (1918), à criação de um sistema próprio de escrita. Para isso, Borges“integrou os elementos irracionalistas do criacionismo num sistema filosófico cuja tese principal é o caráter cíclico do Tempo e, portanto, a reversibilidade de todos os acontecimentos. Mas em vez de um tratado de metafísica, escreveu contos filosóficos, as “ficciones” altamente fantásticas, engenhosamente construídas e baseadas em notas eruditas diabolicamente inventadas, com a ajuda de toda a erudição fabulosa de que Borges dispõe realmente. É uma arte das mais requintadas, algo fria e desumana, sempre fascinante: obra significativa do século XX. Sua influência internacional se confundirá, em parte com a obra de Kafka[ii]”.
Interessa sobremodo ao leitor de Borges um título como este de Jorge Schwartz (“Borges Babilônico: Uma Enciclopédia"), um volume de 580 páginas, que levou mais de 20 anos para ser coligido com a ajuda de 60 especialistas, com mil verbetes sobre o argentino mais universal de que se tem notícia nas letras. Certamente, não pretendo aqui o enciclopédico pelo tom “dubitativo e conversado” de minha crônica, como afirma o próprio J.L.B. em “A penúltima versão da realidade. [iii]”
O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones[iv]”. Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente.
De lá, já colhi “A flor de Coleridge”, de onde se aprende que é perdoável que por um período de aprendizado sigamos o conselho de Rodrigo Gurgel – copiar nossos escritores prediletos, imitá-los até que o estilo desses em nós impregnado, nos revele o nosso próprio estilo:
“Aqueles que copiam minunciosamente um escritor fazem-no de modo impessoal, fazem-no por confundir esse escritor com a literatura, fazem-no por supor que se afastar dele em um ponto é afastar-se da razão e a ortodoxia. Durante muitos anos, eu acreditei que a quase infinita literatura estava em um homem. Esse homem foi Carlyle, foi Johannes Becher, foi Whitman, foi Rafael Cansinos-Asséns, foi De Quincey” (Jorge Luis Borges, em Outras inquisições).
[caption id="attachment_107808" align="alignleft" width="260"] "El factor Borges", de Helft Nicolás e Alan Pauls[/caption]
Naturalmente, tateando, lendo com dificuldade e/ou ouvindo livros lidos por secretárias (entre essas, sua mãe), à medida que a cegueira avança, o escritor encontra seu próprio estilo à custa de muita leitura e alguma cópia, até ser considerado um autor enciclopédico. Seu amor à biblioteca e às enciclopédias vem da infância: “meu pai tinha uma grande biblioteca, principalmente composta de livros ingleses, e me autorizou a escolher o que quisesse, que não me recomendaria nada e que, se um livro me causasse tédio, que o deixasse e partisse para outro. ” Com a mãe (Leonor Acevedo), travou uma aliança, que designou por “sociedade edipiana de uma eficácia impecável” (Helft/Pauls) – ela lia para o filho já sofrendo da cegueira, ele a educava. Daí se extrai uma estranha imagem que a parceria mãe e filho forjou: “um escritor cego, prematuramente envelhecido, de fama mundial, que guia pelo mundo das letras a uma mulher mais velha, frágil e irredutível a um só tempo, ambos suspensos a um tempo fora do Tempo”.
A ação em Borges é, assim, uma ação literária de um conservador que treina a mente para os aforismos, as frases lapidares e uma sabedoria silenciosa, mesmo quando faz uso de emissões radiofônicas ou televisivas[v] – superando sua dificuldade de falar (“los problemas de Borges para hablar fueron tan célebres y tan persistentes como los de sus ojos” – cf. Helft/Pauls). Entanto, fala, à rádio, à TV, aos documentários cinematográficos, com certo pudor e certo alheamento de si mesmo, quando fala de Borges, fala mais de outros – Spinoza, Stevenson, Whitman, Bloy...Herman Hesse: “todo homem inclui toda a Humanidade”.
Compreender toda essa multidão e essa miríade de conhecimentos, eis a tarefa a que se propôs o argentino Jorge Luis Borges, avesso às paixões imediatas do jogo, do fútil e do passageiro – apegado a uma Eternidade que, no entanto, negava ou discutia cartesianamente, às vezes, ancorando-se em Spencer e Spinoza para circundá-la. Em “A duração do Inferno”, Borges confessa que “nenhum outro assunto da teologia tem igual fascinação e poder” – lembrando-nos dos infernos de Gibbon, Dante, Quevedo, Torres Villaroel e Baudelaire, concluindo que “há eternidade de céu e de inferno porque a dignidade do livre arbítrio assim o necessita; ou temos a faculdade de construir para sempre ou a individualidade é ilusória. A virtude desse raciocínio não é lógica, é muito mais: é inteiramente dramática. [...] Teu destino é coisa veraz, nos dizem; condenação eterna e salvação eterna estão no teu minuto; essa responsabilidade é tua honra. É um sentimento parecido com o de Bunyan:
“Deus não brincou ao converter-me; o demônio não brincou ao tentar-me; nem eu brinquei ao mergulhar em um abismo sem fundo, quando as aflições do Inferno se apoderaram de mim e tampouco devo brincar agora ao contar. (Grace abounding to the chief of sinners, the preface).[vi]
Desejando continuar reforçando a seriedade de Bunyan, citada por Borges, aos amigos agnósticos que dizem não acreditar no Paraíso, eu costumo responder que ele existe e consta de XXXIII Cantos, conforme a poesia de Dante. Ora, esse não é o caso aplicável ao escritor argentino, para quem a especulação parece a este cronista mais um temor de enfrentamento da questão da fé, que Bloy, para citar um dos escritores favoritos de Borges já o fazia com a dúvida cristã impregnada à sua cabeça universal. Em um artigo dedicado a J.W. Dunne, Borges afirma:
“Os teólogos definem a eternidade como a simultânea e lúcida posse de todos os instantes do tempo e declaram-na um dos atributos divinos. Dunne, surpreendentemente, supõe que a eternidade já nos pertence e que isso é corroborado pelos sonhos de cada noite. Nestes, segundo ele, confluem o passado imediato e o imediato porvir. Na vigília percorremos o tempo sucessivo a uma velocidade uniforme, no sonho abarcamos uma área que pode ser vastíssima. Sonhar é coordenar os vislumbres dessa contemplação e com eles urdir uma história, ou uma série de histórias. Vemos a imagem de uma esfinge e a de uma botica e inventamos que uma botica se transforma em esfinge. No homem que amanhã conheceremos colocamos a boca de um rosto que nos olhou ontem à noite... (Schopenhauer escreveu que “a vida e os sonhos são folhas de um mesmo livro e que as ler em ordem é viver; folheá-las, sonhar. ”). Dunne garante que na morte aprenderemos o feliz manejo da eternidade. Recuperaremos todos os instantes de nossa vida e os combinaremos como bem entendermos. Deus, e nossos amigos, e Shakespeare colaborarão conosco. Diante de uma tese tão esplêndida, qualquer falácia cometida pelo autor resulta insignificante. ”
A apreciação que Borges tinha por Léon Bloy é notável – ele, Bloy, que é um desses escritores que a crítica e os livreiros decidem fazerem-se esquecidos por uma quadra e os leitores o “descobrem”, como neste caso em que vem sendo cada vez mais lembrado, aliás, já merecendo traduções e reedições em português do Brasil. Pois bem, é de Bloy a citação com que encerro esta primeira crônica sobre Borges[vii]:
“Léon Bloy escreveu: "Não há na terra um ser humano capaz de declarar quem é. Ninguém sabe o que veio fazer neste mundo, a que correspondem seus atos, seus sentimentos, suas ideias, nem qual é seu nome verdadeiro, seu imorredouro Nome no registro da Luz... A história é um imenso texto litúrgico no qual os jotas e os pontos não valem menos que os versículos ou capítulos inteiros, mas a importância de uns e de outros é indeterminável e está profundamente oculta" (L´Âme de Napoléon, 1912). O mundo, segundo Mallarmé, existe para um livro; segundo Bloy, somos versículos, ou palavras, ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que há no mundo: melhor dizendo, é o mundo.”
Do capítulo deste universal “livro mágico” intitulado Borges, deixo essas minguadas referências e, aos meus cinco leitores, a recomendação entusiasmada que o leiam em português, ou em espanhol, e que o possam decifrar, saboreando o ritmo da língua original do autor ou as boas traduções que temos na língua de Camões.
É como vem se tornando um hábito – um velho hábito destemido, frente ao ritmo de 140 caracteres da atualidade, findo com dois poemas de Borges, traduzidos pelos poeta gaúcho Carlos Nejar[viii] e Manoel Bandeira:
LABIRINTO (Borges, na tradução de Carlos Nejar)
Não haverá nunca uma porta. Estás dentro
E o alcácer abarca o universo
E não tem um anverso nem reverso
Nem externo muro nem secreto centro.
Não esperes que o rigor de teu caminho
Que teimosamente se bifurca em outro,
Que obstinadamente se bifurca em outro,
Tenha fim. É de ferro teu destino
Como teu juiz. Não aguardes a investida
Do touro que é um homem e cuja estranha
Forma plural dá horror à maranha
De interminável pedra entretecida.
Não existe. Nada esperes. Nem sequer
No negro crepúsculo a fera.
PÁTIO (Borges, na tradução de Manuel Bandeira)
Com a tarde
Cansaram-se as duas ou três cores do pátio.
A grande franqueza da lua cheia
Já não entusiasma o seu habitual firmamento.
Hoje que o céu está frisado,
Dirá a crendice que morreu um anjinho
Pátio, céu canalizado.
O pátio é a janela
Por onde Deus olha as almas.
O pátio é o declive
Por onde se derrama o céu na casa.
Serena
A eternidade espera na encruzilhada das estrelas.
Lindo é viver na amizade obscura
De um saguão, de uma aba de telhado e
de uma cisterna.
NOTAS
[i] HELFT, Nicolás e PAULS, Alan. “El factor Borges. Nueve ensayos ilustrados”, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1ª. Ed., 2000. 159 p.
[ii] CARPEAUX, Otto Maria. “História da Literatura Ocidental”, vol. 8, p. 2079.
[iii] BORGES, J. Luis. “Discussão”. Tradução de Claudio Fornari., 3ª. Ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994, p.9
[iv] BORGES, Jorge Luis. “Inquisiones. Oras Inquisiciones, 3ª. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ed. Debolsillo, 2016, 389 p.
[v] Neste link, Borges é entrevistado por Antonio Carrizo, quando da celebração dos 80 anos do Autor. Link consultado em 12/10/17 https://www.youtube.com/watch?v=dUZJGhPqspQ
[vi] Cit. Por Borges em Discussão, p.70 (vide ref. iii acima).
[vii] BORGES, J.Luis. cf. ref. iv, p.288, tradução minha – artigo de 1951 intitulado “Del culto de los libros”.
[viii] BORGES, Jorge Luís. Elogio da sombra. Poemas. Tradução Carlos Nejar e Alfredo Jacques.
"El factor Borges", de Helft Nicolás e Alan Pauls[/caption]
Naturalmente, tateando, lendo com dificuldade e/ou ouvindo livros lidos por secretárias (entre essas, sua mãe), à medida que a cegueira avança, o escritor encontra seu próprio estilo à custa de muita leitura e alguma cópia, até ser considerado um autor enciclopédico. Seu amor à biblioteca e às enciclopédias vem da infância: “meu pai tinha uma grande biblioteca, principalmente composta de livros ingleses, e me autorizou a escolher o que quisesse, que não me recomendaria nada e que, se um livro me causasse tédio, que o deixasse e partisse para outro. ” Com a mãe (Leonor Acevedo), travou uma aliança, que designou por “sociedade edipiana de uma eficácia impecável” (Helft/Pauls) – ela lia para o filho já sofrendo da cegueira, ele a educava. Daí se extrai uma estranha imagem que a parceria mãe e filho forjou: “um escritor cego, prematuramente envelhecido, de fama mundial, que guia pelo mundo das letras a uma mulher mais velha, frágil e irredutível a um só tempo, ambos suspensos a um tempo fora do Tempo”.
A ação em Borges é, assim, uma ação literária de um conservador que treina a mente para os aforismos, as frases lapidares e uma sabedoria silenciosa, mesmo quando faz uso de emissões radiofônicas ou televisivas[v] – superando sua dificuldade de falar (“los problemas de Borges para hablar fueron tan célebres y tan persistentes como los de sus ojos” – cf. Helft/Pauls). Entanto, fala, à rádio, à TV, aos documentários cinematográficos, com certo pudor e certo alheamento de si mesmo, quando fala de Borges, fala mais de outros – Spinoza, Stevenson, Whitman, Bloy...Herman Hesse: “todo homem inclui toda a Humanidade”.
Compreender toda essa multidão e essa miríade de conhecimentos, eis a tarefa a que se propôs o argentino Jorge Luis Borges, avesso às paixões imediatas do jogo, do fútil e do passageiro – apegado a uma Eternidade que, no entanto, negava ou discutia cartesianamente, às vezes, ancorando-se em Spencer e Spinoza para circundá-la. Em “A duração do Inferno”, Borges confessa que “nenhum outro assunto da teologia tem igual fascinação e poder” – lembrando-nos dos infernos de Gibbon, Dante, Quevedo, Torres Villaroel e Baudelaire, concluindo que “há eternidade de céu e de inferno porque a dignidade do livre arbítrio assim o necessita; ou temos a faculdade de construir para sempre ou a individualidade é ilusória. A virtude desse raciocínio não é lógica, é muito mais: é inteiramente dramática. [...] Teu destino é coisa veraz, nos dizem; condenação eterna e salvação eterna estão no teu minuto; essa responsabilidade é tua honra. É um sentimento parecido com o de Bunyan:
“Deus não brincou ao converter-me; o demônio não brincou ao tentar-me; nem eu brinquei ao mergulhar em um abismo sem fundo, quando as aflições do Inferno se apoderaram de mim e tampouco devo brincar agora ao contar. (Grace abounding to the chief of sinners, the preface).[vi]
Desejando continuar reforçando a seriedade de Bunyan, citada por Borges, aos amigos agnósticos que dizem não acreditar no Paraíso, eu costumo responder que ele existe e consta de XXXIII Cantos, conforme a poesia de Dante. Ora, esse não é o caso aplicável ao escritor argentino, para quem a especulação parece a este cronista mais um temor de enfrentamento da questão da fé, que Bloy, para citar um dos escritores favoritos de Borges já o fazia com a dúvida cristã impregnada à sua cabeça universal. Em um artigo dedicado a J.W. Dunne, Borges afirma:
“Os teólogos definem a eternidade como a simultânea e lúcida posse de todos os instantes do tempo e declaram-na um dos atributos divinos. Dunne, surpreendentemente, supõe que a eternidade já nos pertence e que isso é corroborado pelos sonhos de cada noite. Nestes, segundo ele, confluem o passado imediato e o imediato porvir. Na vigília percorremos o tempo sucessivo a uma velocidade uniforme, no sonho abarcamos uma área que pode ser vastíssima. Sonhar é coordenar os vislumbres dessa contemplação e com eles urdir uma história, ou uma série de histórias. Vemos a imagem de uma esfinge e a de uma botica e inventamos que uma botica se transforma em esfinge. No homem que amanhã conheceremos colocamos a boca de um rosto que nos olhou ontem à noite... (Schopenhauer escreveu que “a vida e os sonhos são folhas de um mesmo livro e que as ler em ordem é viver; folheá-las, sonhar. ”). Dunne garante que na morte aprenderemos o feliz manejo da eternidade. Recuperaremos todos os instantes de nossa vida e os combinaremos como bem entendermos. Deus, e nossos amigos, e Shakespeare colaborarão conosco. Diante de uma tese tão esplêndida, qualquer falácia cometida pelo autor resulta insignificante. ”
A apreciação que Borges tinha por Léon Bloy é notável – ele, Bloy, que é um desses escritores que a crítica e os livreiros decidem fazerem-se esquecidos por uma quadra e os leitores o “descobrem”, como neste caso em que vem sendo cada vez mais lembrado, aliás, já merecendo traduções e reedições em português do Brasil. Pois bem, é de Bloy a citação com que encerro esta primeira crônica sobre Borges[vii]:
“Léon Bloy escreveu: "Não há na terra um ser humano capaz de declarar quem é. Ninguém sabe o que veio fazer neste mundo, a que correspondem seus atos, seus sentimentos, suas ideias, nem qual é seu nome verdadeiro, seu imorredouro Nome no registro da Luz... A história é um imenso texto litúrgico no qual os jotas e os pontos não valem menos que os versículos ou capítulos inteiros, mas a importância de uns e de outros é indeterminável e está profundamente oculta" (L´Âme de Napoléon, 1912). O mundo, segundo Mallarmé, existe para um livro; segundo Bloy, somos versículos, ou palavras, ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que há no mundo: melhor dizendo, é o mundo.”
Do capítulo deste universal “livro mágico” intitulado Borges, deixo essas minguadas referências e, aos meus cinco leitores, a recomendação entusiasmada que o leiam em português, ou em espanhol, e que o possam decifrar, saboreando o ritmo da língua original do autor ou as boas traduções que temos na língua de Camões.
É como vem se tornando um hábito – um velho hábito destemido, frente ao ritmo de 140 caracteres da atualidade, findo com dois poemas de Borges, traduzidos pelos poeta gaúcho Carlos Nejar[viii] e Manoel Bandeira:
LABIRINTO (Borges, na tradução de Carlos Nejar)
Não haverá nunca uma porta. Estás dentro
E o alcácer abarca o universo
E não tem um anverso nem reverso
Nem externo muro nem secreto centro.
Não esperes que o rigor de teu caminho
Que teimosamente se bifurca em outro,
Que obstinadamente se bifurca em outro,
Tenha fim. É de ferro teu destino
Como teu juiz. Não aguardes a investida
Do touro que é um homem e cuja estranha
Forma plural dá horror à maranha
De interminável pedra entretecida.
Não existe. Nada esperes. Nem sequer
No negro crepúsculo a fera.
PÁTIO (Borges, na tradução de Manuel Bandeira)
Com a tarde
Cansaram-se as duas ou três cores do pátio.
A grande franqueza da lua cheia
Já não entusiasma o seu habitual firmamento.
Hoje que o céu está frisado,
Dirá a crendice que morreu um anjinho
Pátio, céu canalizado.
O pátio é a janela
Por onde Deus olha as almas.
O pátio é o declive
Por onde se derrama o céu na casa.
Serena
A eternidade espera na encruzilhada das estrelas.
Lindo é viver na amizade obscura
De um saguão, de uma aba de telhado e
de uma cisterna.
NOTAS
[i] HELFT, Nicolás e PAULS, Alan. “El factor Borges. Nueve ensayos ilustrados”, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1ª. Ed., 2000. 159 p.
[ii] CARPEAUX, Otto Maria. “História da Literatura Ocidental”, vol. 8, p. 2079.
[iii] BORGES, J. Luis. “Discussão”. Tradução de Claudio Fornari., 3ª. Ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994, p.9
[iv] BORGES, Jorge Luis. “Inquisiones. Oras Inquisiciones, 3ª. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ed. Debolsillo, 2016, 389 p.
[v] Neste link, Borges é entrevistado por Antonio Carrizo, quando da celebração dos 80 anos do Autor. Link consultado em 12/10/17 https://www.youtube.com/watch?v=dUZJGhPqspQ
[vi] Cit. Por Borges em Discussão, p.70 (vide ref. iii acima).
[vii] BORGES, J.Luis. cf. ref. iv, p.288, tradução minha – artigo de 1951 intitulado “Del culto de los libros”.
[viii] BORGES, Jorge Luís. Elogio da sombra. Poemas. Tradução Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

Estando na Galeria do Uffizi, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli
[caption id="attachment_107155" align="alignleft" width="620"] "Nascimento de Vênus", pintura de Sandro Botticelli[/caption]
Sabe-se que a crônica de viagem tem uma tradição e estudá-la, como de resto a todos os clássicos, é um dever do cronista (e do escritor em geral), segundo o velho Machado de Assis: “estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio comum”, para concluir que “escrever como [Miguel Eanes] Azurara ou Fernão Mendes seria hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo.[i] ”
Insisto, no entanto, em um ponto que já estivera presente na crônica de Machado (Notícia da atual literatura brasileira, 1873) – se à época, “feitas as exceções devidas não se leem muito os clássicos no Brasil ”; hoje, passados 143 anos, simplesmente, não se lê no Brasil – simples assim; tendo a preguiça de ler levado os cronistas ao texto telegráfico à la Twitter – ao que, prefiro os clássicos e os antigos – retroativo até mesmo ao Eanes e sua Crônica da conquista da Guiné, celebrada por Cristóvão Tezza, no romance “O professor”.
Portanto, parafraseando Machado, concedo “Ao leitor, as batatas...” e também os cafés, os molhos, as massas finas, os quadros vistos, as iguarias todas, todos os vinhos não bebidos pelo cronista – que apesar de não degustá-los mais, é capaz de imaginá-los, estando abstêmio, capta seu frescor, suas notas frutadas e seus aromas; ao leitor, o sumo dos livros lidos na língua de Giacomo Leopardi, o cansaço de longas caminhadas e o repouso merecido, a sombra e o sol da Toscana, todas as “mágicas que a Graça do Senhor faz são Poesia” (Jorge de Lima) – poesia de que a Toscana foi grande beneficiária; os campos, os ciprestes italianos; tudo, enfim, da Beleza que inunda os mágicos caminhos dessa pródiga região italiana. Que estes, no entanto, sejam servidos à moda italiana.
Antipasto: esta crônica é como um campo arado à espera de chuva na Toscana, o espaço pronto para receber as sementes – as ideias, as provocações. Esta crônica é o espaço em que se misturam o Sagrado e o profano como um cantuccio que deve ser saboreado embebendo-o no vino santo – mas isso já seria a conclusão, não nos adiantemos no tempo da crônica e da refeição.
Respirando o ar da Toscana, refaço a subida da estradinha de chão, ladeada por ciprestes que nos levava, minha mulher e eu a ser recebidos com fidalguia pelo casal Giuseppe e Antonella, na propriedade agrícola San Fedele, próximo à cidade de Siena. A Toscana, que já apresentara suas cartas em Milão e Florença, deveria ter em Siena apenas um rito de passagem, mas que passagem saborosa, como um antepasto a uma bela refeição regional. Os ciprestes verdes em contraste com a terra amarela da região nos fazem viajar duplamente, pois que espiritualmente regamos o canteiro das memórias para a chegada de novas sensações e sabores – o que incluiu a coleta de funghi porcini na floresta quatrocentona da San Fedele.
Primo piato: porque o ato de viajar é algo que envolve o desconforto dos deslocamentos (principalmente os intercontinentais), mas também muita alegria espiritual, é preciso se preparar para a viagem. Em geral, chega-se faminto ao (e do) destino. Neste ponto, eu me ponho em desacordo com Xavier de Maistre, no isolamento (obrigatório no caso dele), mas concorde à sua conclusão quando pontua que “Minha alma é de tal modo aberta a toda sorte de ideias, de gostos e de sentimentos; recebe tão avidamente tudo o que se lhe apresenta! […] Não há gozo mais atraente, no meu entender, do que o de seguir a pista das próprias ideias (…) ”
O grande problema começa quando me salta à memória a frase de José Guilherme Merquior, para quem o homem comum é capaz de uma ou duas ideias originais. Assim, pois, há que se dar atenção aos que se instruem no rapto das ideias – o roubo da Beleza, louvado por Ortega y Gasset, para quem “Deus pôs a beleza no mundo para que fosse roubada. ”
Secondo piato. Ora, por não se tratar de rapto de mulher, coisa mais complexa e atemporal, declaro-me submisso a Ortega, e sua taxativa citação: “a beleza foi feita para ser roubada” – título da bela seleta de ensaios do pensador espanhol organizada pelo professor Ricardo Araújo, da UnB; o que fica bastante bem provado no estudo de caso de Machado de Assis, como um plagiário, estudo este organizado pelo professor João Cezar de Castro Rocha, que nos provou com sua seleta de textos em torno de Machado de Assis que não há vilania no autor como um plagiário[ii].
Nossa ideia inicial para esta viagem era fixar-nos em uma região e percorrê-la nos dias disponíveis com a mais sincera abertura a descobrir-lhes as pistas do gozo deste prolongado período “sabático” que vivemos.
Naturalmente, quem vai à Toscana, tem o mandatório encontro marcado com Boticelli e Leonardo. Ao primeiro, compareci embevecido e saí ainda mais emocionado apreciador.
Com o segundo, fiquei ainda mais bem impressionado com as lições que ele tão bem aprendeu como discípulo do mestre Andrea del Verrocchio. Abandonei a um canto o meu Ortega e seu ensaio sobre Leonardo e a Mona Lisa, receoso de que isso levaria a crônica a outro destino. E como não cogitava de rapto de mulher, mas de sabores, de momentos tão voláteis eis que me não me aventurava a reescrever o ensaio do mestre espanhol. Simplesmente, ia como caminhante, pelos campos da Toscana, na companhia de Santa Caterina de Sena e de outro espanhol – o poeta Antonio Machado.
Não compareci ao que Milão mais me prometera, por anos a fio. Infelizmente, as medidas de restrição de acesso que limitam os visitantes a no máximo vinte e cinco (por período de visitas), me impediram de ver a “Santa Ceia” de Leonardo, na histórica parede do antigo refeitório dos frades, na igreja Santa Maria da Graça em Milão, cuja recuperação recente era anunciada com entusiasmo (afinal exigira 22 longos anos!), isso tudo depois das que fizeram Bellotti (1720) e Mazza (1770).
A obra do mestre Leonardo não morreu, como previra Ortega, tampouco foi “perdida como uma pérola ferida” como queria Gabriel D´Annunzio em “Ode per la morte di un capolavoro”.
E porque havia Boticelli e a Galeria do Uffizi, com sua arte maior e sua coleção inesquecível, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera (ou A Primavera) e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli.
Dessas duas importantes obras, estive bem próximo e me emocionei ao lembrar de uma conversa que mantive com Pietro Maria Bardi, a quem tive a honra de conhecer e conviver durante a avaliação do acervo da Pinacoteca da Caixa Econômica Federal, no Museu da entidade, em Brasília, nos idos dos anos 1980.
Ele, Bardi, que me presentou com o seu “Sodalício com Assis Chateaubriand”, teria dito sobre Boticelli o que não me apresso a reescrever: “Este pintor é uma expressão típica do ambiente em que viveu: católico e pagão a um tempo, ocioso e asceta, gozador da fantástica mesa dos Médici e chorão da humilde seita de Savonarola, apreciador de disputas teológicas e pintor de Vênus muito nuas e, ao mesmo tempo, das mais castas madonas, Botticelli carrega no seu íntimo a crise de seu século. Pensai que Botticelli teria podido pintar “A Primavera” e a “Adoração dos Reis Magos” fora de Florença, fora da cidade em que as orgias principescas formavam um todo com a alegria popular, a luta religiosa acirrada, a poesia no seu auge, o espírito da renascença borbulhante? Cada um dos florentinos do século XV ofereceu a Botticelli, pelos caminhos milagrosos ao longo dos quais o espírito se manifesta nos seus tecidos misteriosos, algo de imperceptível: as recordações evanescentes estranhas da tonalidade duma cor, o sentido duma forma, de uma atmosfera, de uma atitude, de uma fisionomia, de uma melodia, percepção dos limites que na natureza separam o necessário do supérfluo. A obra de arte na nasce por si mesma como fato egoisticamente íntimo (…) "
Pois bem, ele, Bardi, me dissera que sobre este quadro um estudo das espécies florais retratadas pelo pintor toscano recenseara mais de duas centenas. Não o comprovei nem vi prova que o refute. Fico, pois, com esse número na memória, até que encontro a referência de cinco centenas!
Dolce & Café. Come-se muito bem na Toscana – come-se muito e o paradoxo francês parece aplicar-se aos toscanos, pois são na sua maioria esbeltos. O cronista volta com uma esposa pronta a repetir as receitas aprendidas na Scuola de Cucina de Lella (Siena) e um apetite voraz de alguém que quer manter a forma de sexagenário magro.
Depois de três semanas longe de casa, volto ao lar onde me esperam livros diversos – dois Eças; um Borges, um Camilo e o livro de poemas “A estante” – de Felipe Fortuna. Aguardam-me os campos ressecados do cerrado goiano e as rotinas que foram suspensas com a viagem, recebem-me com afagos os que nos amam: filhas, genros e netos. Eu e minha mulher felizes com os afetos, não nos sentindo mais “em férias”, mas sim no gozo de um “ano sabático” que se deseja permanente.
As novidades da volta, os aspectos oníricos que embalam quase toda viagem, se esvanecem quando se confrontam com a realidade. Se a arte de viajar – como eu disse alhures, repetindo Xavier de Maistre consistisse em viajar em torno do próprio quarto (ou à roda do meu quarto, na tradução de Marques Rebelo), pois bem, fosse isso verdade absoluta – mesmo para os punidos com a prisão domiciliar (no caso de Maistre por conta de um duelo!), ainda assim, repito o que disse há dois anos atrás, as companhias aéreas estariam em maus lençóis e os guias de viagem seriam desnecessários e nós, amantes da viagem, em grande perda espiritual, mas isso já é assunto para a próxima quinta-feira aqui neste espaço.
Dito isso, deixo meus cinco leitores com um trecho da tradução Italo Eugênio Mauro para dois trechos dos Cantos IV e V do Paraíso de Dante n´ A Divina Comédia [iii]que adaptados me parecem a esse manjar que não se troca por outros bens.
“Entre dois pratos iguais, atraentes
e a igual distância, antes morreria
de fome, um homem, de lhes pôr os dentes;
e entre dois lobos não se moveria
um cordeiro, temendo o duplo apuro,
e, dois chacais, um cão estacaria.
Por meu silêncio assim não me censuro,
ante as dúvidas minhas colocado,
nem me louvo por tê-lo mais seguro.
Calava eu, mas, do meu afã, pintado
tinha no rosto o semblante fiel,
mais quente que se fora pronunciado.
E fez Beatriz o que usara Daniel,
Nabucodonosor livrando da ira
que injustamente o tornara cruel.
[...]
“Do principal estás ora informado,
mas, pois que a Igreja nisso dá dispensa,
o que ao meu dito soa desencontrado,
ainda é essencial à mesa a tua presença,
porque o farto manjar que hás ingerido
ajuda quer pra que seu ganho vença.
Abre ora a mente pra o que te elucido,
e o guarda, que não faz erudição,
sem o reter, ter somente entendido.
[...]
“Pensa, leitor, se o que ora delineio
não procedesse, quão te iria causar,
por mais saber, angustioso anseio. ”
NOTAS
[i] ASSIS, Machado de. Machado de Assis: crítica, notícia da atual literatura brasileira. São Paulo: Agir, 1959. p. 28 - 34: Instinto de nacionalidade. (1ª ed. 1873).
[ii] The Author as Plagiarist. The case of Machado e Assis (Center for Portuguese Sudies and Culture, University of Massachusetts Dartmouth, 2015). Link consultado em 07/10/17: https://www.academia.edu/26051439/The_Author_as_Plagiarist_-_The_Case_of_Machado_de_Assis
[iii] ALIGHIERI, Dante. “A divina comédia: paraíso”. Tradução e notas de Italo Eugenio Mauro. São Paulo; Ed. 34, 1998. Cantos IV e V, p. 31; 38 e 41.
"Nascimento de Vênus", pintura de Sandro Botticelli[/caption]
Sabe-se que a crônica de viagem tem uma tradição e estudá-la, como de resto a todos os clássicos, é um dever do cronista (e do escritor em geral), segundo o velho Machado de Assis: “estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio comum”, para concluir que “escrever como [Miguel Eanes] Azurara ou Fernão Mendes seria hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo.[i] ”
Insisto, no entanto, em um ponto que já estivera presente na crônica de Machado (Notícia da atual literatura brasileira, 1873) – se à época, “feitas as exceções devidas não se leem muito os clássicos no Brasil ”; hoje, passados 143 anos, simplesmente, não se lê no Brasil – simples assim; tendo a preguiça de ler levado os cronistas ao texto telegráfico à la Twitter – ao que, prefiro os clássicos e os antigos – retroativo até mesmo ao Eanes e sua Crônica da conquista da Guiné, celebrada por Cristóvão Tezza, no romance “O professor”.
Portanto, parafraseando Machado, concedo “Ao leitor, as batatas...” e também os cafés, os molhos, as massas finas, os quadros vistos, as iguarias todas, todos os vinhos não bebidos pelo cronista – que apesar de não degustá-los mais, é capaz de imaginá-los, estando abstêmio, capta seu frescor, suas notas frutadas e seus aromas; ao leitor, o sumo dos livros lidos na língua de Giacomo Leopardi, o cansaço de longas caminhadas e o repouso merecido, a sombra e o sol da Toscana, todas as “mágicas que a Graça do Senhor faz são Poesia” (Jorge de Lima) – poesia de que a Toscana foi grande beneficiária; os campos, os ciprestes italianos; tudo, enfim, da Beleza que inunda os mágicos caminhos dessa pródiga região italiana. Que estes, no entanto, sejam servidos à moda italiana.
Antipasto: esta crônica é como um campo arado à espera de chuva na Toscana, o espaço pronto para receber as sementes – as ideias, as provocações. Esta crônica é o espaço em que se misturam o Sagrado e o profano como um cantuccio que deve ser saboreado embebendo-o no vino santo – mas isso já seria a conclusão, não nos adiantemos no tempo da crônica e da refeição.
Respirando o ar da Toscana, refaço a subida da estradinha de chão, ladeada por ciprestes que nos levava, minha mulher e eu a ser recebidos com fidalguia pelo casal Giuseppe e Antonella, na propriedade agrícola San Fedele, próximo à cidade de Siena. A Toscana, que já apresentara suas cartas em Milão e Florença, deveria ter em Siena apenas um rito de passagem, mas que passagem saborosa, como um antepasto a uma bela refeição regional. Os ciprestes verdes em contraste com a terra amarela da região nos fazem viajar duplamente, pois que espiritualmente regamos o canteiro das memórias para a chegada de novas sensações e sabores – o que incluiu a coleta de funghi porcini na floresta quatrocentona da San Fedele.
Primo piato: porque o ato de viajar é algo que envolve o desconforto dos deslocamentos (principalmente os intercontinentais), mas também muita alegria espiritual, é preciso se preparar para a viagem. Em geral, chega-se faminto ao (e do) destino. Neste ponto, eu me ponho em desacordo com Xavier de Maistre, no isolamento (obrigatório no caso dele), mas concorde à sua conclusão quando pontua que “Minha alma é de tal modo aberta a toda sorte de ideias, de gostos e de sentimentos; recebe tão avidamente tudo o que se lhe apresenta! […] Não há gozo mais atraente, no meu entender, do que o de seguir a pista das próprias ideias (…) ”
O grande problema começa quando me salta à memória a frase de José Guilherme Merquior, para quem o homem comum é capaz de uma ou duas ideias originais. Assim, pois, há que se dar atenção aos que se instruem no rapto das ideias – o roubo da Beleza, louvado por Ortega y Gasset, para quem “Deus pôs a beleza no mundo para que fosse roubada. ”
Secondo piato. Ora, por não se tratar de rapto de mulher, coisa mais complexa e atemporal, declaro-me submisso a Ortega, e sua taxativa citação: “a beleza foi feita para ser roubada” – título da bela seleta de ensaios do pensador espanhol organizada pelo professor Ricardo Araújo, da UnB; o que fica bastante bem provado no estudo de caso de Machado de Assis, como um plagiário, estudo este organizado pelo professor João Cezar de Castro Rocha, que nos provou com sua seleta de textos em torno de Machado de Assis que não há vilania no autor como um plagiário[ii].
Nossa ideia inicial para esta viagem era fixar-nos em uma região e percorrê-la nos dias disponíveis com a mais sincera abertura a descobrir-lhes as pistas do gozo deste prolongado período “sabático” que vivemos.
Naturalmente, quem vai à Toscana, tem o mandatório encontro marcado com Boticelli e Leonardo. Ao primeiro, compareci embevecido e saí ainda mais emocionado apreciador.
Com o segundo, fiquei ainda mais bem impressionado com as lições que ele tão bem aprendeu como discípulo do mestre Andrea del Verrocchio. Abandonei a um canto o meu Ortega e seu ensaio sobre Leonardo e a Mona Lisa, receoso de que isso levaria a crônica a outro destino. E como não cogitava de rapto de mulher, mas de sabores, de momentos tão voláteis eis que me não me aventurava a reescrever o ensaio do mestre espanhol. Simplesmente, ia como caminhante, pelos campos da Toscana, na companhia de Santa Caterina de Sena e de outro espanhol – o poeta Antonio Machado.
Não compareci ao que Milão mais me prometera, por anos a fio. Infelizmente, as medidas de restrição de acesso que limitam os visitantes a no máximo vinte e cinco (por período de visitas), me impediram de ver a “Santa Ceia” de Leonardo, na histórica parede do antigo refeitório dos frades, na igreja Santa Maria da Graça em Milão, cuja recuperação recente era anunciada com entusiasmo (afinal exigira 22 longos anos!), isso tudo depois das que fizeram Bellotti (1720) e Mazza (1770).
A obra do mestre Leonardo não morreu, como previra Ortega, tampouco foi “perdida como uma pérola ferida” como queria Gabriel D´Annunzio em “Ode per la morte di un capolavoro”.
E porque havia Boticelli e a Galeria do Uffizi, com sua arte maior e sua coleção inesquecível, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera (ou A Primavera) e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli.
Dessas duas importantes obras, estive bem próximo e me emocionei ao lembrar de uma conversa que mantive com Pietro Maria Bardi, a quem tive a honra de conhecer e conviver durante a avaliação do acervo da Pinacoteca da Caixa Econômica Federal, no Museu da entidade, em Brasília, nos idos dos anos 1980.
Ele, Bardi, que me presentou com o seu “Sodalício com Assis Chateaubriand”, teria dito sobre Boticelli o que não me apresso a reescrever: “Este pintor é uma expressão típica do ambiente em que viveu: católico e pagão a um tempo, ocioso e asceta, gozador da fantástica mesa dos Médici e chorão da humilde seita de Savonarola, apreciador de disputas teológicas e pintor de Vênus muito nuas e, ao mesmo tempo, das mais castas madonas, Botticelli carrega no seu íntimo a crise de seu século. Pensai que Botticelli teria podido pintar “A Primavera” e a “Adoração dos Reis Magos” fora de Florença, fora da cidade em que as orgias principescas formavam um todo com a alegria popular, a luta religiosa acirrada, a poesia no seu auge, o espírito da renascença borbulhante? Cada um dos florentinos do século XV ofereceu a Botticelli, pelos caminhos milagrosos ao longo dos quais o espírito se manifesta nos seus tecidos misteriosos, algo de imperceptível: as recordações evanescentes estranhas da tonalidade duma cor, o sentido duma forma, de uma atmosfera, de uma atitude, de uma fisionomia, de uma melodia, percepção dos limites que na natureza separam o necessário do supérfluo. A obra de arte na nasce por si mesma como fato egoisticamente íntimo (…) "
Pois bem, ele, Bardi, me dissera que sobre este quadro um estudo das espécies florais retratadas pelo pintor toscano recenseara mais de duas centenas. Não o comprovei nem vi prova que o refute. Fico, pois, com esse número na memória, até que encontro a referência de cinco centenas!
Dolce & Café. Come-se muito bem na Toscana – come-se muito e o paradoxo francês parece aplicar-se aos toscanos, pois são na sua maioria esbeltos. O cronista volta com uma esposa pronta a repetir as receitas aprendidas na Scuola de Cucina de Lella (Siena) e um apetite voraz de alguém que quer manter a forma de sexagenário magro.
Depois de três semanas longe de casa, volto ao lar onde me esperam livros diversos – dois Eças; um Borges, um Camilo e o livro de poemas “A estante” – de Felipe Fortuna. Aguardam-me os campos ressecados do cerrado goiano e as rotinas que foram suspensas com a viagem, recebem-me com afagos os que nos amam: filhas, genros e netos. Eu e minha mulher felizes com os afetos, não nos sentindo mais “em férias”, mas sim no gozo de um “ano sabático” que se deseja permanente.
As novidades da volta, os aspectos oníricos que embalam quase toda viagem, se esvanecem quando se confrontam com a realidade. Se a arte de viajar – como eu disse alhures, repetindo Xavier de Maistre consistisse em viajar em torno do próprio quarto (ou à roda do meu quarto, na tradução de Marques Rebelo), pois bem, fosse isso verdade absoluta – mesmo para os punidos com a prisão domiciliar (no caso de Maistre por conta de um duelo!), ainda assim, repito o que disse há dois anos atrás, as companhias aéreas estariam em maus lençóis e os guias de viagem seriam desnecessários e nós, amantes da viagem, em grande perda espiritual, mas isso já é assunto para a próxima quinta-feira aqui neste espaço.
Dito isso, deixo meus cinco leitores com um trecho da tradução Italo Eugênio Mauro para dois trechos dos Cantos IV e V do Paraíso de Dante n´ A Divina Comédia [iii]que adaptados me parecem a esse manjar que não se troca por outros bens.
“Entre dois pratos iguais, atraentes
e a igual distância, antes morreria
de fome, um homem, de lhes pôr os dentes;
e entre dois lobos não se moveria
um cordeiro, temendo o duplo apuro,
e, dois chacais, um cão estacaria.
Por meu silêncio assim não me censuro,
ante as dúvidas minhas colocado,
nem me louvo por tê-lo mais seguro.
Calava eu, mas, do meu afã, pintado
tinha no rosto o semblante fiel,
mais quente que se fora pronunciado.
E fez Beatriz o que usara Daniel,
Nabucodonosor livrando da ira
que injustamente o tornara cruel.
[...]
“Do principal estás ora informado,
mas, pois que a Igreja nisso dá dispensa,
o que ao meu dito soa desencontrado,
ainda é essencial à mesa a tua presença,
porque o farto manjar que hás ingerido
ajuda quer pra que seu ganho vença.
Abre ora a mente pra o que te elucido,
e o guarda, que não faz erudição,
sem o reter, ter somente entendido.
[...]
“Pensa, leitor, se o que ora delineio
não procedesse, quão te iria causar,
por mais saber, angustioso anseio. ”
NOTAS
[i] ASSIS, Machado de. Machado de Assis: crítica, notícia da atual literatura brasileira. São Paulo: Agir, 1959. p. 28 - 34: Instinto de nacionalidade. (1ª ed. 1873).
[ii] The Author as Plagiarist. The case of Machado e Assis (Center for Portuguese Sudies and Culture, University of Massachusetts Dartmouth, 2015). Link consultado em 07/10/17: https://www.academia.edu/26051439/The_Author_as_Plagiarist_-_The_Case_of_Machado_de_Assis
[iii] ALIGHIERI, Dante. “A divina comédia: paraíso”. Tradução e notas de Italo Eugenio Mauro. São Paulo; Ed. 34, 1998. Cantos IV e V, p. 31; 38 e 41.

"Quando não estava de fato apreciando a Fonte Branda ou um monumento da bela histórica cidade de Sena, estava em presença da poesia do espanhol Antonio Machado ou das cartas da Doutora de Igreja Santa Catarina de Sena"
[caption id="attachment_106799" align="aligncenter" width="620"] Cataria de Siena, no centro da imagem, retratada por Pierre Subleyras[/caption]
Escrever sobre a viagem enquanto se percorre o caminho – esse o desafio do cronista. Ao longo de três semanas, passo por lugares que sempre desejei conhecer e no fundo de minha alma aparece uma pontinha de déjà-vu. Quando se prepara para a viagem, tem-se mais certo o que se vai encontrar pelo caminho, mas vem a realidade e nos faz cair do cavalo, como com Saulo de Tarso.
Na Toscana, programamos nos deslocar daqui para ali, sem fixar-nos muito tempo em um lugar do destino escolhido, mas vem o Sobrenatural a me guiar e o hotel que minha esposa reservou e que ficava bem próximo ao Santuário de Santa Catarina de Sena deu-me o sinal para ficar mais em Siena.
A diferença é que em lugar de prorrogar nossa permanência no hotel estabelecido num antigo convento (Alma Domus), conseguimos prorrogar a estada em um hotel fazenda, na pequena localidade de Montalbuccio. Portanto, em um dia, saímos de um edifício construído no ano 1300 para uma propriedade rural que, há 400 anos, pertence à mesma família que hoje administra o local como um aprazível hotel-fazenda, lugar por demais apropriado às leituras e meditações, sob o sol da Toscana.
Desde a minha saída de Goiânia, venho folheando dois livrinhos extraordinários que ocuparam agora todo o tempo na fazenda. Quando não aproveitava a paisagem toscana, refugiava-me nos “Campos de Castela”; e quando não estava de fato apreciando a Fonte Branda ou um monumento da bela histórica cidade de Sena, estava em presença da poesia do espanhol Antonio Machado ou das cartas da Doutora de Igreja Santa Catarina de Sena.
Viajo por terras toscanas, mentalmente alçando um voo “Por terras de Espanha” (em tradução de Sérgio Marinho [Caminhos, 2017]):
“O homem destes campos que incendeia os pinhais
e seu despojo aguarda como um troféu de guerra,
antanho já raspara os negros azinhais,
talhara já os robustos carvalhos da alta serra.
Vê hoje os pobres filhos fugindo de seus lares,
o temporal levar o limo de sua terra
pelos sagrados rios até os largos mares,
e em páramos malditos trabalha, sofre e erra.
É filho de uma estirpe de rudes caminhantes,
pastores que conduzem suas hordas de merinos
à Estremadura fértil; rebanhos transumantes
que mancha o pó e doura o sol pelos caminhos.
(...)
Pronto, dispara o coração deste cronista, originário da mesma “estirpe de rudes caminhantes” (de origem lusitana), voltado ao ano 1912, quando foi publicada a primeira edição de “Campos de Castilla” que, pasmem, teve que esperar mais de um século para ter uma boa tradução em nosso país – que se nos é dada por jovens editores de Goiânia e um tradutor goiano que vive em Porto Alegre (RS): o jovem Sérgio Marinho[i]. Uma preciosidade que me acompanha nesta viagem tem suas cortesias e suas mágicas de tradutor deste “livro regional, ainda que em hipótese alguma provinciano” – como ele mesmo adverte na Nota do Tradutor.
Ocorre, pois, que por obra do Sobrenatural em Siena se unem as presenças literárias do ateu Antonio Machado e da mística católica Santa Catarina de Sena. Do “Machado republicano, ateu, anticlerical, inimigo das barbas apostólicas” (conforme à descrição de Otto Maria Carpeaux) juntam-se as “gotas de sangue jacobino” (de Machado), ao “sangue do Senhor”, que marcou a vida de Catarina de Sena; juntas no coração do cronista a “angústia e o pessimismo terreno de Machado”, o visionarismo e a esperança febril da santa senense.
[caption id="attachment_106800" align="alignleft" width="316"]
Cataria de Siena, no centro da imagem, retratada por Pierre Subleyras[/caption]
Escrever sobre a viagem enquanto se percorre o caminho – esse o desafio do cronista. Ao longo de três semanas, passo por lugares que sempre desejei conhecer e no fundo de minha alma aparece uma pontinha de déjà-vu. Quando se prepara para a viagem, tem-se mais certo o que se vai encontrar pelo caminho, mas vem a realidade e nos faz cair do cavalo, como com Saulo de Tarso.
Na Toscana, programamos nos deslocar daqui para ali, sem fixar-nos muito tempo em um lugar do destino escolhido, mas vem o Sobrenatural a me guiar e o hotel que minha esposa reservou e que ficava bem próximo ao Santuário de Santa Catarina de Sena deu-me o sinal para ficar mais em Siena.
A diferença é que em lugar de prorrogar nossa permanência no hotel estabelecido num antigo convento (Alma Domus), conseguimos prorrogar a estada em um hotel fazenda, na pequena localidade de Montalbuccio. Portanto, em um dia, saímos de um edifício construído no ano 1300 para uma propriedade rural que, há 400 anos, pertence à mesma família que hoje administra o local como um aprazível hotel-fazenda, lugar por demais apropriado às leituras e meditações, sob o sol da Toscana.
Desde a minha saída de Goiânia, venho folheando dois livrinhos extraordinários que ocuparam agora todo o tempo na fazenda. Quando não aproveitava a paisagem toscana, refugiava-me nos “Campos de Castela”; e quando não estava de fato apreciando a Fonte Branda ou um monumento da bela histórica cidade de Sena, estava em presença da poesia do espanhol Antonio Machado ou das cartas da Doutora de Igreja Santa Catarina de Sena.
Viajo por terras toscanas, mentalmente alçando um voo “Por terras de Espanha” (em tradução de Sérgio Marinho [Caminhos, 2017]):
“O homem destes campos que incendeia os pinhais
e seu despojo aguarda como um troféu de guerra,
antanho já raspara os negros azinhais,
talhara já os robustos carvalhos da alta serra.
Vê hoje os pobres filhos fugindo de seus lares,
o temporal levar o limo de sua terra
pelos sagrados rios até os largos mares,
e em páramos malditos trabalha, sofre e erra.
É filho de uma estirpe de rudes caminhantes,
pastores que conduzem suas hordas de merinos
à Estremadura fértil; rebanhos transumantes
que mancha o pó e doura o sol pelos caminhos.
(...)
Pronto, dispara o coração deste cronista, originário da mesma “estirpe de rudes caminhantes” (de origem lusitana), voltado ao ano 1912, quando foi publicada a primeira edição de “Campos de Castilla” que, pasmem, teve que esperar mais de um século para ter uma boa tradução em nosso país – que se nos é dada por jovens editores de Goiânia e um tradutor goiano que vive em Porto Alegre (RS): o jovem Sérgio Marinho[i]. Uma preciosidade que me acompanha nesta viagem tem suas cortesias e suas mágicas de tradutor deste “livro regional, ainda que em hipótese alguma provinciano” – como ele mesmo adverte na Nota do Tradutor.
Ocorre, pois, que por obra do Sobrenatural em Siena se unem as presenças literárias do ateu Antonio Machado e da mística católica Santa Catarina de Sena. Do “Machado republicano, ateu, anticlerical, inimigo das barbas apostólicas” (conforme à descrição de Otto Maria Carpeaux) juntam-se as “gotas de sangue jacobino” (de Machado), ao “sangue do Senhor”, que marcou a vida de Catarina de Sena; juntas no coração do cronista a “angústia e o pessimismo terreno de Machado”, o visionarismo e a esperança febril da santa senense.
[caption id="attachment_106800" align="alignleft" width="316"] Poeta espanhol Antonio Machado[/caption]
No entanto, o autor dos “Provérbios e cantares”, do qual o de número XXIX tornou-se o mais famoso em nossa língua, tem qualquer coisa além do chão, um salto meditativo que à santa sempre moveu desde menina – “Caminhante, são teus passos/o caminho, e nada mais [...] Caminhante, náo há caminho,/somente esteiras no mar.”
Aproximar os dois personagens históricos é um ato do absolutismo do cronista, e por mais paradoxo que pareça ao leitor, é o execício que faço diante dos livros e escritores que tenho à mão. É assim que, caminhando pela Toscana, como o poeta castelhano o fazia em Castilha, eu também o faço: “deja campo libre a meditaciones y expressión de pensamientos filosóficos”, para usar a expressão de Jorge Campos na introdução à versão espanhola da antologia “Poemas, Antonio Machado” (1976).
Pois é exatamente com este campo livre à imaginação e à meditação que me aproximo respeitosamente do ateu Machado e da mística Catarina de Sena. Esta que pela vez primeira conheci numa epígrafe do único romance escrito pelo católico Gustavo Corção – “Lições de abismo”[ii] – em que é contada a história de um homem que se descobre com leucemis, em busca de si mesmo, diante da ameaça da morte. É, pois, o sangue que marca o livro e a vida de Catarina. O sangue neste caso é o do Salvador, pois que a mística católica se colocou diante de Deus, como a freirinha que o poeta encontra na estrada em seu caminhar pela sua Espanha amada – como encontramos Catarina, a esposa de Cristo:
“Onde estamos? / A que estação todos vamos?/E essa freirinha, o que fita?/Tão bonita!/Tem essa expressão serena/e que à pena/traz esperança infinita!// E eu penso: És boa, pequena; porque deste os teus amores a Jesus; porque não queres/virar mãe de pecadores/Mas ao seres/maternal,/és bendita entre as mulheres,/ó mãezinha virginal.//Algo em teu rosto é divino/sob essas toucas de linho./Se nas faces/rosas amarelas trazes,/já foste rosada e, logo, em tua carne ardeu fogo;/ mas hoje, esposa da Cruz,/ já és luz...”
A menina Catarina é feito essa freirinha, filha de gente humilde, semianalfabeta, mas com uma sabedoria infusa. A mística que juntou fé e ação e que se tornou doutora da Igreja não sabia o Latim, não sabia sequer escrever, mas ao ditar suas cartas, abalava cardeais, governantes e papas. E feito o poeta Machado, pleno de contradições em relação à fé e à crença, não se deixava guiar pelo mediano, santa, mas como a santa se sujeita aos contrastes da vida, como nos lembra Gustavo Corção:
“(...) e de todos os contrastes [de Catarina de Sena], o mais vivo na alma da santa é sem dúvida aquele de que nos fala hoje o intróito da missa: Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem[iii]. O pecado, para Catarina, não é coisa que se evite cautelosamente, como um poste pintado de fresco: é um objeto de ódio. Sentia-o fisicamente; e odiava-o fisicamente. Pela ciência do valor do sangue de Cristo, pelo amor desse sangue, que é o “leit-motif” principal de suas cartas, ela odiava o mal, como mulher, com a força de mulher que ama e que se bate por seu amor: ela odiava o mal com os dentes.”
Poeta espanhol Antonio Machado[/caption]
No entanto, o autor dos “Provérbios e cantares”, do qual o de número XXIX tornou-se o mais famoso em nossa língua, tem qualquer coisa além do chão, um salto meditativo que à santa sempre moveu desde menina – “Caminhante, são teus passos/o caminho, e nada mais [...] Caminhante, náo há caminho,/somente esteiras no mar.”
Aproximar os dois personagens históricos é um ato do absolutismo do cronista, e por mais paradoxo que pareça ao leitor, é o execício que faço diante dos livros e escritores que tenho à mão. É assim que, caminhando pela Toscana, como o poeta castelhano o fazia em Castilha, eu também o faço: “deja campo libre a meditaciones y expressión de pensamientos filosóficos”, para usar a expressão de Jorge Campos na introdução à versão espanhola da antologia “Poemas, Antonio Machado” (1976).
Pois é exatamente com este campo livre à imaginação e à meditação que me aproximo respeitosamente do ateu Machado e da mística Catarina de Sena. Esta que pela vez primeira conheci numa epígrafe do único romance escrito pelo católico Gustavo Corção – “Lições de abismo”[ii] – em que é contada a história de um homem que se descobre com leucemis, em busca de si mesmo, diante da ameaça da morte. É, pois, o sangue que marca o livro e a vida de Catarina. O sangue neste caso é o do Salvador, pois que a mística católica se colocou diante de Deus, como a freirinha que o poeta encontra na estrada em seu caminhar pela sua Espanha amada – como encontramos Catarina, a esposa de Cristo:
“Onde estamos? / A que estação todos vamos?/E essa freirinha, o que fita?/Tão bonita!/Tem essa expressão serena/e que à pena/traz esperança infinita!// E eu penso: És boa, pequena; porque deste os teus amores a Jesus; porque não queres/virar mãe de pecadores/Mas ao seres/maternal,/és bendita entre as mulheres,/ó mãezinha virginal.//Algo em teu rosto é divino/sob essas toucas de linho./Se nas faces/rosas amarelas trazes,/já foste rosada e, logo, em tua carne ardeu fogo;/ mas hoje, esposa da Cruz,/ já és luz...”
A menina Catarina é feito essa freirinha, filha de gente humilde, semianalfabeta, mas com uma sabedoria infusa. A mística que juntou fé e ação e que se tornou doutora da Igreja não sabia o Latim, não sabia sequer escrever, mas ao ditar suas cartas, abalava cardeais, governantes e papas. E feito o poeta Machado, pleno de contradições em relação à fé e à crença, não se deixava guiar pelo mediano, santa, mas como a santa se sujeita aos contrastes da vida, como nos lembra Gustavo Corção:
“(...) e de todos os contrastes [de Catarina de Sena], o mais vivo na alma da santa é sem dúvida aquele de que nos fala hoje o intróito da missa: Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem[iii]. O pecado, para Catarina, não é coisa que se evite cautelosamente, como um poste pintado de fresco: é um objeto de ódio. Sentia-o fisicamente; e odiava-o fisicamente. Pela ciência do valor do sangue de Cristo, pelo amor desse sangue, que é o “leit-motif” principal de suas cartas, ela odiava o mal, como mulher, com a força de mulher que ama e que se bate por seu amor: ela odiava o mal com os dentes.”
 O poeta “cabeça meditadora” Antonio Machado descrê, duvidando, rastejando frente ao Sobrenatural com sua angústia “de índole especial” – como quer Carpeaux – que da dúvida mais anti-cristã cede à procura de Deus “siempre buscando a Dios entre la niebla”:
“O Deus que todos levamos,
o Deus que todos fazemos,
o Deus que todos buscamos
e que nunca encontraremos.
Três deuses ou três pessoas
de um só Deus verdadeiro”
E logo abandonando “o coração blasfemo”, sente a ausência e canta a esperança, mesmo que sob a revolta de um deus Ibero que não é o de Catarina, mas é ainda vazio da alma do homem, ao caminhar em busca do Eterno, como em “Profissão de fé”:
Deus não é o mar, está no mar, aflora
como às águas o luar, ou aparece
como uma branda vela mar afora;
no mar é que desperta ou adormece.
Criou os mares, mas
do mar vem, como a nuvem e a tormenta;
é o Criador e a criatura o faz;
seu alento é a alma, e pela alma alenta.
Hei de fazer-te, Deus, qual me fizeste,
e para te dar a alma que me deste
em mim te hei de criar. Que a caridade,
o rio puro a fluir na eternidade,
flua em meu coração. Seca, Senhor,
a fonte turva, a fé sem o amor.
E sobre o caminhar da pequena freira analfabeta que dava lições aos Cardeais da Igreja, a pedido do papa Gregório XI, Catarina não se desfaz da sua humanidade, mistério que confunde os historiadores e escandaliza os incrédulos. Mas é “na santidade, ao contrário, o que logo se vê, com fulgurante evidência, é a dilatação da alma e o alargamento dos extremos. A mansidão se vê acompanhada da coragem; a temperança de um santo como Bento Labre, que passa a vida inteira dizendo: pouco... pouco... , completa-se com um infinito desejo de posse; a misericórdia se abraça com um ardente sentimento de justiça. As virtudes, que no homem ainda sujeito às leis dos sentidos, ou mal libertado desse jugo, eram meras disposições facilmente abaláveis (faciles mobiles), e sem conexão orgânica, tornam-se, pela infusão da Caridade e pelo acréscimo dos dons, virtudes reais, forças verdadeiras, dificilmente abaláveis (difficiles mobiles) organicamente e harmoniosamente conexas. E, em lugar do tíbio e claudicante indivíduo que apenas consegue fazer algumas coisas boas, à custa de compromissos, demissões e pusilanimidades, vê-se então esta alma vivificada pela graça abrir as grandes asas das virtudes que nos pareciam opostas e paradoxais, erguer-se sem medo no largo vôo dos albatrozes”. [iv]
E voltando ao nosso poeta para fechar essa croniqueta que já vai alongada por demais, é o que se vê nos humaníssimos poetas-santos João da Cruz e Teresa d’Ávila que aparecem nas meditações de “Provérbios e cantares – XX e XXI” de Antonio Machado assim:
Teresa, ama de fogo;
João da Cruz, espírito de chama,
aqui faz muito frio, mestres, nossos
coraçõezinhos de Jesus se apagam!
Ontem eu seonhei que via
a Deus e com Deus falava;
e sonhei que Deus me ouvia...
Por fim, sonhei que sonhava.
Ao leitor desta croniqueta, findo prometendo voar por outros assuntos que aprofundem a compreensão deste mágico caminho de Sena, em que o sagrado e o profano se misturam, provendo sempre alimento para alma, mesmo que partindo de um crente e um que sustenta não crer em Deus, mas ambos meditadores que nos apontam para o Eterno.
NOTAS
[i] MACHADO, Antonio. Campos de Castela. Tradução e notas de Sérgio Marinho. Ensaio biográfico de Otto Maria Carpeaux. Goiânia: Caminhos, 2017. 250 p.
[ii] CORÇÃO, Gustavo. Lições de abismo, 1956, Edit. Agir.
[iii] No original em Latim no missário Romano, tradução livre: “E vós: amai a Justiça e odiai a iniquidade (o pecado).”
[iv] Corção recomenda consultar L. H. Petitot O. P., “La Doctrine Ascetique et Mystique Integrale”; e também “Sainte Thérèse de Lisieux”, além de J. Maritain, “Science et Sagesse, Deuxième Partie” ( Eclaircissements sur la Philosophie Morale ) chap. II – G. Corção em artigo para o jornal O Globo, “Os paradoxos da santidade”.
O poeta “cabeça meditadora” Antonio Machado descrê, duvidando, rastejando frente ao Sobrenatural com sua angústia “de índole especial” – como quer Carpeaux – que da dúvida mais anti-cristã cede à procura de Deus “siempre buscando a Dios entre la niebla”:
“O Deus que todos levamos,
o Deus que todos fazemos,
o Deus que todos buscamos
e que nunca encontraremos.
Três deuses ou três pessoas
de um só Deus verdadeiro”
E logo abandonando “o coração blasfemo”, sente a ausência e canta a esperança, mesmo que sob a revolta de um deus Ibero que não é o de Catarina, mas é ainda vazio da alma do homem, ao caminhar em busca do Eterno, como em “Profissão de fé”:
Deus não é o mar, está no mar, aflora
como às águas o luar, ou aparece
como uma branda vela mar afora;
no mar é que desperta ou adormece.
Criou os mares, mas
do mar vem, como a nuvem e a tormenta;
é o Criador e a criatura o faz;
seu alento é a alma, e pela alma alenta.
Hei de fazer-te, Deus, qual me fizeste,
e para te dar a alma que me deste
em mim te hei de criar. Que a caridade,
o rio puro a fluir na eternidade,
flua em meu coração. Seca, Senhor,
a fonte turva, a fé sem o amor.
E sobre o caminhar da pequena freira analfabeta que dava lições aos Cardeais da Igreja, a pedido do papa Gregório XI, Catarina não se desfaz da sua humanidade, mistério que confunde os historiadores e escandaliza os incrédulos. Mas é “na santidade, ao contrário, o que logo se vê, com fulgurante evidência, é a dilatação da alma e o alargamento dos extremos. A mansidão se vê acompanhada da coragem; a temperança de um santo como Bento Labre, que passa a vida inteira dizendo: pouco... pouco... , completa-se com um infinito desejo de posse; a misericórdia se abraça com um ardente sentimento de justiça. As virtudes, que no homem ainda sujeito às leis dos sentidos, ou mal libertado desse jugo, eram meras disposições facilmente abaláveis (faciles mobiles), e sem conexão orgânica, tornam-se, pela infusão da Caridade e pelo acréscimo dos dons, virtudes reais, forças verdadeiras, dificilmente abaláveis (difficiles mobiles) organicamente e harmoniosamente conexas. E, em lugar do tíbio e claudicante indivíduo que apenas consegue fazer algumas coisas boas, à custa de compromissos, demissões e pusilanimidades, vê-se então esta alma vivificada pela graça abrir as grandes asas das virtudes que nos pareciam opostas e paradoxais, erguer-se sem medo no largo vôo dos albatrozes”. [iv]
E voltando ao nosso poeta para fechar essa croniqueta que já vai alongada por demais, é o que se vê nos humaníssimos poetas-santos João da Cruz e Teresa d’Ávila que aparecem nas meditações de “Provérbios e cantares – XX e XXI” de Antonio Machado assim:
Teresa, ama de fogo;
João da Cruz, espírito de chama,
aqui faz muito frio, mestres, nossos
coraçõezinhos de Jesus se apagam!
Ontem eu seonhei que via
a Deus e com Deus falava;
e sonhei que Deus me ouvia...
Por fim, sonhei que sonhava.
Ao leitor desta croniqueta, findo prometendo voar por outros assuntos que aprofundem a compreensão deste mágico caminho de Sena, em que o sagrado e o profano se misturam, provendo sempre alimento para alma, mesmo que partindo de um crente e um que sustenta não crer em Deus, mas ambos meditadores que nos apontam para o Eterno.
NOTAS
[i] MACHADO, Antonio. Campos de Castela. Tradução e notas de Sérgio Marinho. Ensaio biográfico de Otto Maria Carpeaux. Goiânia: Caminhos, 2017. 250 p.
[ii] CORÇÃO, Gustavo. Lições de abismo, 1956, Edit. Agir.
[iii] No original em Latim no missário Romano, tradução livre: “E vós: amai a Justiça e odiai a iniquidade (o pecado).”
[iv] Corção recomenda consultar L. H. Petitot O. P., “La Doctrine Ascetique et Mystique Integrale”; e também “Sainte Thérèse de Lisieux”, além de J. Maritain, “Science et Sagesse, Deuxième Partie” ( Eclaircissements sur la Philosophie Morale ) chap. II – G. Corção em artigo para o jornal O Globo, “Os paradoxos da santidade”.
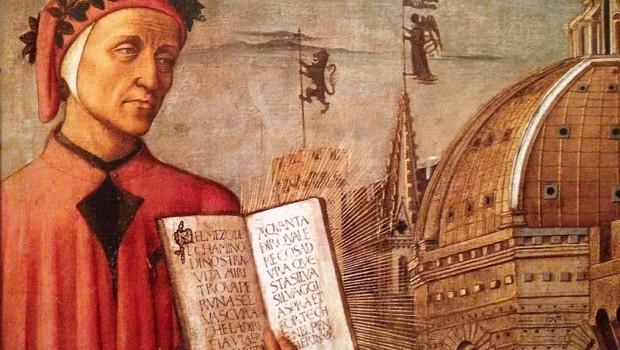
Não que eu viva no Século XII ou XIII, mas meu pensamento viaja bastante por lá (de São Bernardo a Dante, de Hildegard de Bingen a Alberto Magno – com tudo que possuem de desigual entre eles); não é inconfessável desejar que volte a ser ensinada aos jovens a velha fórmula clássica da busca pelo o que é Belo, o que é Bom e o que é Verdadeiro
[caption id="attachment_106283" align="alignleft" width="620"] Casa di Dante, em Florença, Itália[/caption]
Em 1265 as coisas não se davam como hoje, no local onde está fixada a “Casa-museo di Dante”. Além do número de pessoas que circulam pela pequena viela que leva ao local, com certeza, as paixões, os valores e os preceitos de vida, ali recebem como que um sopro na brasa antiga e, aparentemente apagada, fazendo o visitante refletir a respeito de uma série de crenças e de um comportamento ético que estão, digamos, em desuso.
Em meio a argumentos odiosos, hoje, ouvimos dizer-nos uns aos outros, no Brasil, quando as coisas não vão ao nosso gosto, em tom de ofensa: “quer voltar à era Medieval”?
E quanto os corruptos (que os há desde que Adão deixou o Paraíso) das repúblicas (e republiquetas) de hoje jamais qualificam de “monárquico” o comportamento dos colegas que se vêem na mesma enrascada do pecado cometido ou, quiçá, na mesma prisão –, o xingamento ao que é corrupto sempre diz “fulano não teve um comportamento nada republicano”. Paradoxais, no mínimo, parecem-me as duas expressões...
Não que eu viva no Século XII ou XIII, mas meu pensamento viaja bastante por lá (de São Bernardo a Dante, de Hildegard de Bingen a Alberto Magno – com tudo que possuem de desigual entre eles); não é inconfessável desejar que volte a ser ensinada aos jovens a velha fórmula clássica da busca pelo o que é Belo, o que é Bom e o que é Verdadeiro (lição retomada de Aristóteles pelos educadores da alta Idade Média), mas pelo menos, que tal tê-la como válida para legenda de uma vida – ao invés do “quanto mais popular, melhor ?” – que é a legenda do Século em que vivemos, nesta civilização do espetáculo (Vargas Llosa, 2012).
São ideias assim que se colocam em campos opostos as duas eras, naquilo que cada uma tem de mais característico e que fazem refletir muito o turista do destino cultural chamado Florença (ou por extensão Toscana). Neste caso, a visita a Florença tem para mim o condão de fazer reavivar a brasa interior que queimou literamente (ou imagisticamente) a pele de muitos talentos, devotos (ou não) ao longo da dita Idade Média, a começar pelo que hoje só podemos nomear como “Sommo Poeta” – o símbolo da Firenze do Século XIII e dádiva divina ao mundo da Poesia italiana e universal.
A verdade é que por obra e insistência, ou seria do uso exaustivo da figura de linguagem da repetição que uma mentira veio se tornando em “verdade incontestável” – a partir dos chamados livres pensadores, principalmente a partir dos enciclopedistas, Diderot e D’Alembert, quando a Idade Média ficou conhecida como “Dark ages”.
Alertado pelo escritor e crítico maranhense Franklin de Oliveira, no prefácio de “Literatura e Civilização”, comecei, há alguns anos, a empreender uma busca que me levou a compreender que “a Idade Média…não foi, de forma alguma, a Dark Ages inventada pelos historiadores liberais do séc. XIX, mas a genuína herdeira do mundo greco-romano.” E com a ajuda dele Franklin, de Robert Bossuat, de Huizinga e de Jacques Le Goff (com todos os seus desvios e rusgas anti-religiosas ou, melhor, anticlericais, como historiadores), compreendo hoje que “a Idade Média significa a fundação da Europa em sua base cristã-romana”; e comecei a me deliciar com um dos dois fatos apontados por Franklin como de alta significação cultural do período, a saber: “o estupendo fenômeno da literatura provençal e a aparição da poesia dos clerici vagantes”; e de monumentos civilizacionais que nomeamos Dante Alighieri (nascido Durante Alaghiaro) ou Guido Cavalcanti, mestre do florentino.
Em outro contexto, Franklin cita Arnold Hauser (A História Social da Arte) para justificar que a presença da mulher no centro do lirismo trovadoresco (la poésie lyrique au Moyen Age), com a mescla do platonismo e sensualismo, determina “aquilo que chamamos de a mais importante transformação da história literária do ocidente” (Hauser). E conclui: “a poesia do amor moderno é obra da Idade Média” – cujo cimo da Comédia é o Canto XXIII de “O Paraíso”, onde Dante nos lega este verso final de incontornável beleza: “l’amor che move il sole e l’altre stelle.”
De fato, para Dante, vale a síntese de Nicola Bianchini[i]: “todos os meus pensamentos se voltam para o Amor”. É o que confirmamos em outra autora importante, também libertadora da ideia redutora de “Idade média” (e suas conclusões nada elogiosas ao rico período de mil anos!). Com Régine Pernoud[ii] (autora de “O mito da idade média”), aprendemos que:
“As razões pelas quais a Idade Média tem sido desfigurada evidentes: a história é o terreno mais palmilhado pelas ideologias, que procuram encontrar na evolução dos tempos as premissas para os seus princípios filosóficos. Ora o século XVI deu início a um período de anticlericalismo até chegar ao ateísmo e materialismo do século XIX. Os autores desses quatro séculos, inspirados por seus princípios filosóficos, alimentaram aversão aos tempos medievais, fortemente marcados pela fé e pelos valores religiosos; a história daquela época foi lida em função de noções preconcebidas que falseiam a ótica dos estudiosos. Quem deseja avaliar com objetividade a história do passado, tem que transpor-se para a época estudada, pesquisar os seus documentos-fontes e reconhecer os critérios dos antepassados; se não, fará um juízo arbitrário e errôneo.”
Exilado de Florença, por uma condenação injusta, depois de um verdadeiro “imbroglio”, que é matéria específica para os historiadores e não cabe nesta crônica. Pois bem, o político e o poeta florentino Dante Alighieri separam-se, definitivametne, para se erguer à posteridade o magnífico Poeta, como um dos verdadeiros monumentos do Medievo. Mesmo tendo perdido a causa política em que se metera como jovem (24 anos à época da batalha de Campaldino) partidário dos “guelfos" (brancos vs. negros) contra os "gibelinos"; mesmo tendo a desgraça lhe sorrido com dentes putrefactos; nada disso pôde lhe estancar o talento, a emocão e o domínio técnico do verso que fazem dele o Sommo Poeta.
Sabe-se na Casa di Dante que, por primeiro, Dante recebera uma multa de cinco mil florins de seus adversários políticos que retomaram o poder em Florença; e, depois, tendo se negado a pagá-la, fora condenado à morte ou ao desterro. Teria essa contenda que envolveu o jovem poeta o levado a exilar-se da cidade que amava e a quem ele havia dedicado todo seu compromisso intelectual e político. Daí, talvez, as referências a Florença e a alguns florentinos no Canto X de “O Inferno” (a parte talvez mais incensada hoje em dia da “Comédia” dantesca!). [Continua]
Canto XXV, de “O Inferno”, de Dante Alighieri, por Machado de Assis
Casa di Dante, em Florença, Itália[/caption]
Em 1265 as coisas não se davam como hoje, no local onde está fixada a “Casa-museo di Dante”. Além do número de pessoas que circulam pela pequena viela que leva ao local, com certeza, as paixões, os valores e os preceitos de vida, ali recebem como que um sopro na brasa antiga e, aparentemente apagada, fazendo o visitante refletir a respeito de uma série de crenças e de um comportamento ético que estão, digamos, em desuso.
Em meio a argumentos odiosos, hoje, ouvimos dizer-nos uns aos outros, no Brasil, quando as coisas não vão ao nosso gosto, em tom de ofensa: “quer voltar à era Medieval”?
E quanto os corruptos (que os há desde que Adão deixou o Paraíso) das repúblicas (e republiquetas) de hoje jamais qualificam de “monárquico” o comportamento dos colegas que se vêem na mesma enrascada do pecado cometido ou, quiçá, na mesma prisão –, o xingamento ao que é corrupto sempre diz “fulano não teve um comportamento nada republicano”. Paradoxais, no mínimo, parecem-me as duas expressões...
Não que eu viva no Século XII ou XIII, mas meu pensamento viaja bastante por lá (de São Bernardo a Dante, de Hildegard de Bingen a Alberto Magno – com tudo que possuem de desigual entre eles); não é inconfessável desejar que volte a ser ensinada aos jovens a velha fórmula clássica da busca pelo o que é Belo, o que é Bom e o que é Verdadeiro (lição retomada de Aristóteles pelos educadores da alta Idade Média), mas pelo menos, que tal tê-la como válida para legenda de uma vida – ao invés do “quanto mais popular, melhor ?” – que é a legenda do Século em que vivemos, nesta civilização do espetáculo (Vargas Llosa, 2012).
São ideias assim que se colocam em campos opostos as duas eras, naquilo que cada uma tem de mais característico e que fazem refletir muito o turista do destino cultural chamado Florença (ou por extensão Toscana). Neste caso, a visita a Florença tem para mim o condão de fazer reavivar a brasa interior que queimou literamente (ou imagisticamente) a pele de muitos talentos, devotos (ou não) ao longo da dita Idade Média, a começar pelo que hoje só podemos nomear como “Sommo Poeta” – o símbolo da Firenze do Século XIII e dádiva divina ao mundo da Poesia italiana e universal.
A verdade é que por obra e insistência, ou seria do uso exaustivo da figura de linguagem da repetição que uma mentira veio se tornando em “verdade incontestável” – a partir dos chamados livres pensadores, principalmente a partir dos enciclopedistas, Diderot e D’Alembert, quando a Idade Média ficou conhecida como “Dark ages”.
Alertado pelo escritor e crítico maranhense Franklin de Oliveira, no prefácio de “Literatura e Civilização”, comecei, há alguns anos, a empreender uma busca que me levou a compreender que “a Idade Média…não foi, de forma alguma, a Dark Ages inventada pelos historiadores liberais do séc. XIX, mas a genuína herdeira do mundo greco-romano.” E com a ajuda dele Franklin, de Robert Bossuat, de Huizinga e de Jacques Le Goff (com todos os seus desvios e rusgas anti-religiosas ou, melhor, anticlericais, como historiadores), compreendo hoje que “a Idade Média significa a fundação da Europa em sua base cristã-romana”; e comecei a me deliciar com um dos dois fatos apontados por Franklin como de alta significação cultural do período, a saber: “o estupendo fenômeno da literatura provençal e a aparição da poesia dos clerici vagantes”; e de monumentos civilizacionais que nomeamos Dante Alighieri (nascido Durante Alaghiaro) ou Guido Cavalcanti, mestre do florentino.
Em outro contexto, Franklin cita Arnold Hauser (A História Social da Arte) para justificar que a presença da mulher no centro do lirismo trovadoresco (la poésie lyrique au Moyen Age), com a mescla do platonismo e sensualismo, determina “aquilo que chamamos de a mais importante transformação da história literária do ocidente” (Hauser). E conclui: “a poesia do amor moderno é obra da Idade Média” – cujo cimo da Comédia é o Canto XXIII de “O Paraíso”, onde Dante nos lega este verso final de incontornável beleza: “l’amor che move il sole e l’altre stelle.”
De fato, para Dante, vale a síntese de Nicola Bianchini[i]: “todos os meus pensamentos se voltam para o Amor”. É o que confirmamos em outra autora importante, também libertadora da ideia redutora de “Idade média” (e suas conclusões nada elogiosas ao rico período de mil anos!). Com Régine Pernoud[ii] (autora de “O mito da idade média”), aprendemos que:
“As razões pelas quais a Idade Média tem sido desfigurada evidentes: a história é o terreno mais palmilhado pelas ideologias, que procuram encontrar na evolução dos tempos as premissas para os seus princípios filosóficos. Ora o século XVI deu início a um período de anticlericalismo até chegar ao ateísmo e materialismo do século XIX. Os autores desses quatro séculos, inspirados por seus princípios filosóficos, alimentaram aversão aos tempos medievais, fortemente marcados pela fé e pelos valores religiosos; a história daquela época foi lida em função de noções preconcebidas que falseiam a ótica dos estudiosos. Quem deseja avaliar com objetividade a história do passado, tem que transpor-se para a época estudada, pesquisar os seus documentos-fontes e reconhecer os critérios dos antepassados; se não, fará um juízo arbitrário e errôneo.”
Exilado de Florença, por uma condenação injusta, depois de um verdadeiro “imbroglio”, que é matéria específica para os historiadores e não cabe nesta crônica. Pois bem, o político e o poeta florentino Dante Alighieri separam-se, definitivametne, para se erguer à posteridade o magnífico Poeta, como um dos verdadeiros monumentos do Medievo. Mesmo tendo perdido a causa política em que se metera como jovem (24 anos à época da batalha de Campaldino) partidário dos “guelfos" (brancos vs. negros) contra os "gibelinos"; mesmo tendo a desgraça lhe sorrido com dentes putrefactos; nada disso pôde lhe estancar o talento, a emocão e o domínio técnico do verso que fazem dele o Sommo Poeta.
Sabe-se na Casa di Dante que, por primeiro, Dante recebera uma multa de cinco mil florins de seus adversários políticos que retomaram o poder em Florença; e, depois, tendo se negado a pagá-la, fora condenado à morte ou ao desterro. Teria essa contenda que envolveu o jovem poeta o levado a exilar-se da cidade que amava e a quem ele havia dedicado todo seu compromisso intelectual e político. Daí, talvez, as referências a Florença e a alguns florentinos no Canto X de “O Inferno” (a parte talvez mais incensada hoje em dia da “Comédia” dantesca!). [Continua]
Canto XXV, de “O Inferno”, de Dante Alighieri, por Machado de Assis
Acabara o ladrão, e, ao ar erguendo As mãos em figas, deste modo brada: "Olha, Deus, para ti o estou fazendo!" E desde então me foi a serpe amada, Pois uma vi que o colo lhe prendia, Como a dizer: "não falarás mais nada!" Outra os braços na frente lhe cingia Com tantas voltas e de tal maneira Que ele fazer um gesto não podia. Ah! Pistóia, por que numa fogueira Não ardes tu, se a mais e mais impuros, Teus filhos vão nessa mortal carreira? Eu, em todos os círculos escuros Do inferno, alma não vi tão rebelada. Nem a que em Tebas resvalou dos muros. E ele fugiu sem proferir mais nada. Logo um centauro furioso assoma A bradar: "Onde, aonde a alma danada?” Marema não terá tamanha soma De reptis quanta vi que lhe ouriçava O dorso inteiro desde a humana coma. Junto à nuca do monstro se elevava De asas abertas um dragão que enchia De fogo a quanto ali se aproximava. "Aquele é Caco, — o Mestre me dizia, — Que, sob as rochas do Aventino, ousado Lagos de sangue tanta vez abria. Não vai de seus irmãos acompanhado Porque roubou malicioso o armento Que ali pascia na campanha ao lado. Hércules com a maça e golpes cento, Sem lhe doer um décimo ao nefando, Pôs remate a tamanho atrevimento." Ele falava, e o outro foi andando. No entanto embaixo vinham para nós Três espíritos que só vimos quando Atroara este grito: "Quem sois vós?" Nisto a conversa nossa interrompendo Ele, como eu, no grupo os olhos pôs. Eu não os conheci, mas sucedendo, Como outras vezes suceder é certo, Que o nome de um estava outro dizendo, "Cianfa aonde ficou?" Eu, por que esperto E atento fosse o Mestre em escutá-lo, Pus sobre a minha boca o dedo aberto. Leitor, não maravilha que aceitá-lo Ora te custe o que vais ter presente, Pois eu, que o vi, mal ouso acreditá-lo. Eu contemplava, quando uma serpente De seis pés temerosa se lhe atira A um dos três e o colhe de repente. Com os pés do meio o ventre lhe cingira, Com os da frente os braços lhe peava, E ambas as faces lhe mordeu com ira. Os outros dous às coxas lhe alongava, E entre elas insinua a cauda que ia Tocar-lhes os rins e dura os apertava. A hera não se enrosca nem se enfia Pela árvore, como a horrível fera Ao pecador os membros envolvia. Como se fossem derretida cera, Um só vulto, uma cor iam tomando, Quais tinham sido nenhum deles era. Tal o papel, se o fogo o vai queimando, Antes de negro estar, e já depois Que o branco perde, fusco vai ficando. Os outros dous bradavam: "Ora pois, Agnel, ai triste, que mudança é essa? Olha que já não és nem um nem dous!" Faziam ambas uma só cabeça, E na única face um rosto misto, Onde eram dous, a aparecer começa. Dos quatro braços dous restavam, e isto, Pernas, coxas e o mais ia mudado Num tal composto que jamais foi visto. Todo o primeiro aspecto era acabado; Dous e nenhum era a cruel figura, E tal se foi a passo demorado. Qual camaleão, que variar procura De sebe às horas em que o sol esquenta, E correndo parece que fulgura, Tal uma curta serpe se apresenta, Para o ventre dos dous corre acendida, Lívida e cor de um bago de pimenta. E essa parte por onde foi nutrida Tenra criança antes que à luz saísse, Num deles morde, e cai toda estendida. O ferido a encarou, mas nada disse; Firme nos pés, apenas bocejava, Qual se de febre ou sono ali caísse. Frente a frente, um ao outro contemplava, E à chaga de um, e à boca de outro, forte Fumo saía e no ar se misturava. Cale agora Lucano a triste morte De Sabelo e Nasídio, e atento esteja Que o que lhe vou dizer é de outra sorte. Cale-se Ovídio e neste quadro veja Que, se Aretusa em fonte nos há posto E Cadmo em serpe, não lhe tenho inveja. Pois duas naturezas rosto a rosto Não transmudou, com que elas de repente Trocassem a matéria e o ser oposto. Tal era o acordo entre ambas que a serpente A cauda em duas caudas fez partidas, E a alma os pés ajuntava estreitamente. Pernas e coxas vi-as tão unidas Que nem leve sinal dava a juntura De que tivessem sido divididas. Imita a cauda bífida a figura Que ali se perde, e a pele abranda, ao passo Que a pele do homem se tornava dura. Em cada axila vi entrar um braço, A tempo que iam esticando à fera Os dous pés que eram de tamanho escasso. Os pés de trás a serpe os retorcera Até formarem-lhe a encoberta parte, Que no infeliz em pés se convertera. Enquanto o fumo os cobre, e de tal arte A cor lhes muda e põe à serpe o velo Que já da pele do homem se lhe parte, Um caiu, o outro ergueu-se, sem torcê-lo Aquele torvo olhar com que ambos iam A trocar entre si o rosto e a vê-lo. Ao que era em pé as carnes lhe fugiam Para as fontes, e ali do que abundava Duas orelhas de homem lhe saíam. E o que de sobra ainda lhe ficava O nariz lhe compõe e lhe perfaz E o lábio lhe engrossou quanto bastava. A boca estende o que por terra jaz E as orelhas recolhe na cabeça, Bem como o caracol às pontas faz. A língua, que era então de uma só peça, E prestes a falar, fendida vi-a, Enquanto a do outro se une, e o fumo cessa. A alma, que assim tornado em serpe havia, Pelo vale fugiu assobiando, E esta lhe ia falando e lhe cuspia. Logo a recente espádua lhe foi dando E à outra disse: "Ora com Buoso mudo, Rasteje, como eu vinha rastejando!" Assim na cova sétima vi tudo Mudar e transmudar; a novidade Me absolva o estilo desornado e rudo. Mas que um tanto perdesse a claridade Dos olhos meus, e turva a mente houvesse, Não fugiram com tanta brevidade, Nem tão ocultos, que eu não conhecesse Puccio Sciancato, única ali vinda Alma que a forma própria não perdesse;[iii]Como dizia a você, dileto leitor, se resistiu a ler até aqui: cabe observar que algumas referências históricas no Canto I sugerem que "O Inferno" foi, provavelmente escrito por Dante no final de 1309, enquanto outras dicas no Canto II indicam que "O Purgatório" foi concluído entre 1313 e 1314. Em 1316, Dante dedicou a um certo Cangrande della Scala o primeiro Canto de "O Paraíso", no qual trabalhou até os últimos dias de sua vida. A transfiguração da raiva e da mágoa, expressão de sua tristeza e raiva por ter sido condenado e, de certa forma, condenado pelas artimanhas da “cidade-Estado” florentina, como se vê nos versos traduzidos por Machado de Assis e também por Dante Milano (cuja tradução do Canto V também é recomendada ao leitor como dever-de-casa). A primeira reflexão política que o peregrino da Comédia está prestes a fazer durante sua viagem ao reino dos mortos é dedicada a Florença, e essa é uma demonstração óbvia de quão importante era este tema para o autor. No sexto canto do inferno, estabelece o círculo do gênio, no qual as almas malignas são forçadas a sofrer uma chuva incessante, dá-se uma reunião e um diálogo entre o viajante e Ciacco (Caco), um florentino “Que, sob as rochas do Aventino, ousado/Lagos de sangue tanta vez abria.” Dante pede-lhe para falar sobre como a guerra entre as diferentes facções serão resolvidas, quais são os motivos de tais confrontos violentos e questioná-lo, mesmo que haja alguns homens honestos na cidade. Muito dessas desventuras está transposto em uma refinada e específica forma de fazer poesia (em terza rima, com sofisticação e profundidade de conteúdo, ritmo e rima), em “O Inferno” (1ª. parte da Divina Comédia). Em visita a Florença, depois de um primeiro dia de chuva e multidões (era domingo) nas ruas de Firenze, pude na última segunda-feira ensolarada, passar a manhã inteira em busca do poeta que nunca vimos mas que sentimos influenciador de toda uma literatura de seu tempo até agora – passados quase setecentos anos de sua morte, ocorrida em 14 de setembro de 1321, no exílio em Ravena. Sobre a importância e grandiosidade da obra de Dante, o professor e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Marco Lucchesi[iv], assinala que “o estudo da obra de Dante em língua portuguesa forma, por densidade e extensão, um ramo de não pequeno relevo no campo de interesse dos dantólogos. E pode se dividir em duas fases, antes e depois de Machado de Assis, de quem se esperava, aliás, a tradução completa da Comédia, que havia de ser magistral, a julgar pela tradução feita por Machado do canto 25 do Inferno. O melhor do que nos legou o Segundo Reinado, além das releituras de Dante esparsas nas páginas machadianas, desfeitas ou mesmo transformadas, como em "O alienista": "la bocca sollevò dal fiero pasto, quel seccator". Antes de Machado, comparece na poesia dos poetas coloniais, que ou realizam translatos da obra dantesca, ou multiplicam citações, absorvendo-lhe o cenário e alguma temperatura, como Manoel de Santa Itaparica em Estáquidos, ou nas harmonias celestiais do Caramuru, de Santa Rita Durão, onde surge um Dante-Camões, entre o canto 10 de Os lusíadas e o 33 do Paraíso. A máquina do mundo e o livro de Deus. Era sempre a Comédia que fazia parte do acervo da Companhia de Jesus e dos monges beneditinos, cujo primeiro exemplar do poema sacro - segundo Câmara Cascudo - teria chegado já no século XVII.” Casas-museus – de Thomas Mann a Gilberto Freire As casas-museus são uma boa e agradável forma de o leitor rememorar ou de ter o primeiro contato com um grande escritor do passado. Servem como uma verdadeira porta de entrada para uma espécie de “íntima relação com um desconhecido-íntimo pela leitura”, conhecendo-lhe aspectos da vida de escritor, detalhes daquele ser a quem o leitor só teve acesso através do livro. A casa-museu é este local privilegiado onde se adiciona um olhar mais direto ao modo de vida e aos hábitos do escritor que se admira, sua forma de escrever (seus hábitos e manias); conhecimento de parte de seu acervo deixado à posteridade, frutos do zelo de amigos, familiares, admiradores e editores (com ou sem financiamento público). [caption id="attachment_106286" align="alignleft" width="620"]
 Interior da Casa di Dante[/caption]
Nesses espaços, é como se o visitante estivesse dentro de um sonho ou estaria ainda o leitor apaixonado no estado de vigília? De fato, só tive noção do que pensava intensamente, quando levantei-me para tomar nota de situações que envolvem alguns escritores que passaram por minha vida de leitor mediano (mas sempre apaixonado), em que “leituras e destinos turísticos e culturais" se juntam em vivências inesquecíveis, permitindo cruzar o conhecimento do que se leu – ou expandindo-o do acervo daquele escritor – são emoções que se oferecem aos que amam a literatura e se interessam por saber mais sobre os escritores favoritos.
Hoje meu acervo sentimento conta com oito casas-museus, das quais sete visitadas em emoções e tempos diversos. Uma que aguarda um tempo desta minha fase de “retraite” para a ela me dedicar (Bernanos) – paradoxalmente a mais próxima de Goiânia (Barbacena/MG). Thomas Mann, François Mauriac, Rui Barbosa, Gilberto Freyre são lembrados hoje, ao lado de Dante, como personagens de quadros de uma pinacoteca que saltassem para se encontrar comigo, séculos de diferença entre si, apenas porque estáo expostos no mesmo hall de um museu (as minhas prateleiras mentais, como no Peter Kien de “Auto-da-fé”, de Elias Cannetti).
As casas-museu visitadas em São Petersburgo há um ano (apartamentos de Dostoiévski e Púshkin) deixam-me igualmente saudades no peito deste cronista, mas tudo isso seerá objeto de outro artigo, em breve. Arrivederci.
NOTAS
[i] BIANCHINI, Nicola. Dante. “All my thoughts speak of Love”, Firenze musei, 2003.
[ii] Cf. análise em link consultado em 25/09/2017 http://portalconservador.com/o-mito-da-idade-media-por-regine-pernoud/
[iii] Dante na tradução Machado de Assis, em "Poesias Ocidentais". in: Obra Completa, Machado de Assis, vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. [Publicado originalmente em Poesias Completas, Rio de Janeiro: Garnier, 1901].
[iv] LUCCHESI, Marco. Link consultado em 25/09/2017 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142011000200024
Interior da Casa di Dante[/caption]
Nesses espaços, é como se o visitante estivesse dentro de um sonho ou estaria ainda o leitor apaixonado no estado de vigília? De fato, só tive noção do que pensava intensamente, quando levantei-me para tomar nota de situações que envolvem alguns escritores que passaram por minha vida de leitor mediano (mas sempre apaixonado), em que “leituras e destinos turísticos e culturais" se juntam em vivências inesquecíveis, permitindo cruzar o conhecimento do que se leu – ou expandindo-o do acervo daquele escritor – são emoções que se oferecem aos que amam a literatura e se interessam por saber mais sobre os escritores favoritos.
Hoje meu acervo sentimento conta com oito casas-museus, das quais sete visitadas em emoções e tempos diversos. Uma que aguarda um tempo desta minha fase de “retraite” para a ela me dedicar (Bernanos) – paradoxalmente a mais próxima de Goiânia (Barbacena/MG). Thomas Mann, François Mauriac, Rui Barbosa, Gilberto Freyre são lembrados hoje, ao lado de Dante, como personagens de quadros de uma pinacoteca que saltassem para se encontrar comigo, séculos de diferença entre si, apenas porque estáo expostos no mesmo hall de um museu (as minhas prateleiras mentais, como no Peter Kien de “Auto-da-fé”, de Elias Cannetti).
As casas-museu visitadas em São Petersburgo há um ano (apartamentos de Dostoiévski e Púshkin) deixam-me igualmente saudades no peito deste cronista, mas tudo isso seerá objeto de outro artigo, em breve. Arrivederci.
NOTAS
[i] BIANCHINI, Nicola. Dante. “All my thoughts speak of Love”, Firenze musei, 2003.
[ii] Cf. análise em link consultado em 25/09/2017 http://portalconservador.com/o-mito-da-idade-media-por-regine-pernoud/
[iii] Dante na tradução Machado de Assis, em "Poesias Ocidentais". in: Obra Completa, Machado de Assis, vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. [Publicado originalmente em Poesias Completas, Rio de Janeiro: Garnier, 1901].
[iv] LUCCHESI, Marco. Link consultado em 25/09/2017 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142011000200024
A Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro
[caption id="attachment_105765" align="alignleft" width="620"] São João da Cruz, poeta e místico espanhol do século XVI[/caption]
Deixo o meu interlocutor perguntar e, à maneira de Temístocles Linhares, diante daquele perguntador retórico, mesmo sem o mesmo talento do emérito crítico, vou tentando responder-lhe às indagações.
- Se há mesmo utilidade na poesia, então, afinal, a crise é dos poetas ou da ausência de leitores? – dispara meu interlocutor.
Na primeira parte dessa investigação, falei do esforço de se criar um público leitor, a partir da experiência de leitura de poesia (e de literatura em geral) nas escolas – conforme a referência ao excelente trabalho “Trilhas na formação do jovem leitor[i]” (Goiandira Ortiz e Maria Zaira Turchi, organizadoras, 2015).
Não vamos confundir as coisas, por questão de método, dividamos as questões. Assim, a) a ausência dos leitores no mundo hodierno; b) A crise da poesia; c) poesia: uma esperança que não quer se apagar. Vamos, pois, ao simples abc, em meio à complexidade de um mundo cheio de algoritmos que querem determinar o que (e quanto) lemos.
Como pressuposto a falar de uma crise, lembremo-nos sempre de que o conhecimento está na gênese da Poesia, digo, repetindo Temístocles Linhares[ii] ao analisar a obra de José Guilherme Merquior (A astúcia da mimese, 1972), a respeito da análise que este fazia da poesia do pernambucano João Cabral de Melo Neto:
“O conhecimento, no caso, é existência e a existência é conhecimento. E a poesia é a voz da existência, como no nosso poeta. Para que melhor justificação que essa? A poesia como estudo de sua própria essência, a poesia como conhecimento, como uma espécie de operação sobre o tempo e sobre o espaço, uma manipulação do tempo e do espaço, chegando mesmo à criação de um tempo que não seja mais o tempo...”
Em poetas que exercem a imitação da realidade, como o fez João Cabral, isso é muito importante, e vem se repetindo para poetas que herdaram e deram continuidade à vertente dessa capacidade de “adesão ao primado da realidade objetiva, identificada como o universo social em suas relações concretas...sem filosofia transcendentalista. ”
E quanto aos ditos metafísicos e transcendentalistas, como lidar com eles e ainda assim achar alguma adequação da Poesia ao conhecimento? O que dizer dos que da poesia lançam mão como o fez São João da Cruz, para uma espécie de ascensão, de elevação do material ao espiritual, como na “Subida do Monte Carmelo” ou na sua “Noite escura”
“Em uma noite escura,
De amor em vivas ânsias inflamada,
Oh! Ditosa ventura!
Saí sem ser notada,
Já minha casa estando sossegada. ”
Eis que duas vertentes se opõem e, no entanto, entre elas a comunhão que se interpõe é a linguagem. Afinal, como queria Martin Heidegger, em “A poesia de Hölderlin”: “É mesmo apenas a linguagem que nos concede a possibilidade de estar no centro da abertura do ente. Apenas onde há linguagem há um mundo, ou seja, o local das mudanças nas decisões e obras, de ações e responsabilidade, mas também de arbítrio e rumor, decadência e confusão. Somente onde há mundo que domina há história. A linguagem é um bem em sentido mais originário. Ela traz o bem-estar, ou seja, a garantia de que o homem pode ser enquanto [ser] histórico[iii]”.
Em ambas há a exigência de um vetor comum – a linguagem e de um requisito fundamental – o silêncio interior, uma espécie de fuga que é um enfrentar-se, uma subida que é um mergulho em si mesmo e nas coisas da alma. Talvez por isso o mesmo Heidegger tenha dito que “a poesia é nomear que institui o ser e a essência de todas as coisas”. Similar condição do pensamento de Vilém Flusser para quem antes de entendermos o perfume da rosa ou o sabor da maçã foi preciso que alguém as nomeasse – doassem vida imaterial a algo que se vê e ao Amor descrição para além do ato, como o fez o fundador da língua Portuguesa, Luís Vaz de Camões, em um de seus famosos sonetos sobre o Amor:
Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
Ora, em ambos os casos – o do que imita a realidade para nomeá-la (João Cabral) e o do que imerge para subir aos altos cimos da espiritualidade (o espanhol João da Cruz e um Jorge de Lima, entre os poetas brasileiros) – o que os une é “o estado de emergência” que parecem alimentar o poeta (e por que não o leitor de poesia?), porque “a Poesia é uma alma inaugurando uma forma”, segundo Gaston Bachelard.
Do abc, este é o cerne do (b), pois, quando o pensador francês resume este “estado de emergência” em que a poesia coloca o homem como de “supremo poder e humana dignidade” (Edward Hirsch)[iv] estamos diante de uma crise. Eis a crise que pode ser nomeada desde então. Todos querem o poder, todos almejam a dignidade suprema, mas só a alguns é dado o dom de fazer-se ligar ao imaterial que conduz a poesia e nos conduz à leitura da poesia, além do que nos parece desequilibrada a relação numérica de poetas/leitores.
Os vícios que podem deturpar esse “caminho espiritual da alma” (João da Cruz), essa sondagem profunda do ser, para abrir a porta da Poesia são os da desumanidade. Útil relembrar que esses vícios na literatura já foram apontados por teóricos importantes, como Tzvetan Todorov, que entre nós foi, recentemente, relembrado pelo crítico e professor de Escrita Criativa Rodrigo Gurgel. São três os males, diz Todorov, via Gurgel: “formalismo, niilismo e solipsismo” – vícios que podem colocar em crise não só a Poesia como toda a literatura, incluindo a crítica literária.
Remeto o leitor ao final da 1ª. Parte desta série sobre Poesia, onde transcrevi o poema “Expectar”, de autoria do goiano Edmar Guimarães:
“É tarde para a euforia da forma.
[...]
E quando se vai lendo/frios ventos nos olhos,/aprendendo a caligrafia/dos ocasos,//do cheiro mumificado do mundo,/de aves suadas/nas escarpas/escuras//do ar /há desespero/nuvens rasas nos olhos.//aves são de carne, mas têm/asas."
Aí está, dileto leitor, o famoso dar asas à leitura que pressupõe olharmos com cautelosa percuciência para o problema acima nomeado: talvez o elemento crucial de nosso país e da cultura de hoje é mesmo encontrarmos resposta à pergunta: Para quem escrevemos? Onde estão os leitores?
Em 1976, o crítico paranaense Temístocles Linhares (“Diálogos sobre a poesia brasileira”) já advertia que a palavra escrita foi invenção de culturas altamente desenvolvidas, seguindo-se então o livro como o seu melhor veículo de comunicação; e se muitos séculos foram necessários para a fixação da poesia oral, nem tantos para fixar o livro – e já agora, adverte Linhares “em largo voo através do espaço e do tempo, nos encontramos diante de novos problemas, de novas transformações para a poesia, em face do advento de novos meios de comunicação, capazes até de lhe criarem um processo de baldeação, a ser fomentado pela segunda revolução industrial” em que vivia a humanidade de então. Segundo Linhares éramos “cem milhões de habitantes, dos quais pelo menos um milhão de leitores, média altíssima, uma vez que se lê poesia cada vez menos. E, no entanto, aí estão os poetas e os que se ocupam teimosamente de poetas e de poesia”.
Eis-nos na era pós-industrial e da cibercultura, com um nível decrescente de interesse pela leitura. Uma era em que respondendo à pergunta “Para quem escrevemos? ”, o ficcionista Fernando Monteiro disse: “Os poetas não precisarão participar dessa rodada de desencanto, pois eles já escrevem para um vazio que não é só o das grandes livrarias grosseiras, com suas girândolas de livros de ocasião com capas brilhantes como catarro em parede. Os poetas, como que abençoados por Deus ou pelo diabo, estão escrevendo para leitores tão escassos (há muitíssimo tempo), que se tornaram monges trapistas da literatura, escrevendo em monastérios transformados nos palácios da mente que os libertam de escrever para quem já não possui o código da Poesia, a tábua de decifração (e salvação) do verso que foi carne, no Princípio etc. Enfim, os poetas estão libertados pelo silêncio que os cerca – enquanto aqui se convocam, sim, principalmente os praticantes da ficção, nesta hora “vigésima quinta” por obra e graça, em parte, das editoras voltadas, nos últimos anos, quase exclusivamente para aquilo que passou a se entender como sucessos”
Assim, cada vez mais parece mais anacrônica a leitura silenciosa (e demorada, saboreada, quase sem fim utilitário nenhum, que não seja o de ligar-se às coisas do espírito) – a “delectatio morosa dos antigos” – ou seja: uma leitura mais proveitosa e de engrandecimento espiritual do leitor (Linhares). Este “dar asas à imaginação” vem, talvez, daí. Não está o leitor a preparar-se para nenhum teste do dia seguinte, não está diante da pressa do leito de morte que o obriga a colher um lápis e um pequeno papel – como teria feito Thomas Wolfe no seu leito de morte... Ele, tão só e apenas lê.
Está, pura e simplesmente, este leitor a deleitar-se com o que lê, porque desejoso de ser melhor, disposto a escalar o monte Carmelo do seu dia-a-dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade; ou, mesmo quando suprido disso tudo, quer que sua alma diga ao poema (o Amado), como o fiel declara ao Redentor na “Noite escura” da alma:
Essa luz me guiava,
Com mais clareza que a do meio-dia
Aonde me esperava
Quem eu bem conhecia,
Em sítio onde ninguém aparecia.
Oh! noite que me guiaste,
Oh! noite mais amável que a alvorada;
Oh! noite que juntaste
Amado com amada,
Amada já no Amado transformada!
A alma do leitor assim distendida pela leitura e pela meditação silenciosa, poderá ouvir e repetir – fazendo eco de um abismo a outro abismo, gerando um Esperança imorredoura (eis-nos diante do “c”, diria o “x”, do abc):
“Esquecida, quedei-me,
O roso reclinado sobre o Amado;
Tudo cessou. Deixei-me,
Largando meu cuidado
Por entre as açucenas olvidado.[v]
Como ressalta Dom Penido, na introdução às obras de São João da Cruz em português, se a poesia pode falar à alma, exige-se do leitor uma ascese, uma disciplina – às vezes, desconfortável aos pés do caminhante nas primeiras jornadas, afeito que está à rapidez e à superficialidade do mundo cibernético. É preciso, alerta dom Penido: “nos dispor a receber os dons gratuitos de Deus” e dispostos a receber o divino beneplácito, “Deus não põe sua graça na alma senão na medida da vontade e do amor dela”.
Similarmente, aos incrédulos, a Poesia não cederá nunca sem a contrapartida igual de meditação e silêncio que prepara o espírito para o uso das asas da imaginação. É com Hirsch que encerro essa peroração com meu interlocutor imaginário. Trata-se de viajar à “Heartland” – a terra do coração, literalmente, para onde se vai, mesmo que seja apenas colhendo uma mensagem numa garrafa (Paul Celan), ouvindo uma voz no meio da noite, propondo-se a si mesmo algo fora da rotina escravizadora do mundo do trabalho.
Só assim a Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro; ou que irá em busca da poesia falada, a poesia em prosa ou mixada em música por meios os mais diversos – eis o Abc da poesia.
NOTAS
[i] “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania”, Org. Goiandira Ortiz de Camargo e Maria Zaira Turchi, Goiânia, Cânone Editorial, 2015, 217 p.
[ii] LINHARES, Temístocles. “Diálogos sobre a poesia brasileira”, Ed. Melhoramentos/MEC, 1976, 280 p.
[iii] Heidegger, Martin. Cit. Por Vicenzo Costa (2015), p.131. Trad. Yvone da Silva.
[iv] HIRSH, Edward. “How to read a poem and fall in love with Poetry”, Harvest books, 1999, 354 p..
[v] Obras de São João da Cruz, vol. I – “A subida do Monte Carmelo, Noite Escura e Cautelas” (1960), trad. Monjas do Mosteiro das Carmelitas descalças de Sta. Teresa do Rio de Janeiro.
São João da Cruz, poeta e místico espanhol do século XVI[/caption]
Deixo o meu interlocutor perguntar e, à maneira de Temístocles Linhares, diante daquele perguntador retórico, mesmo sem o mesmo talento do emérito crítico, vou tentando responder-lhe às indagações.
- Se há mesmo utilidade na poesia, então, afinal, a crise é dos poetas ou da ausência de leitores? – dispara meu interlocutor.
Na primeira parte dessa investigação, falei do esforço de se criar um público leitor, a partir da experiência de leitura de poesia (e de literatura em geral) nas escolas – conforme a referência ao excelente trabalho “Trilhas na formação do jovem leitor[i]” (Goiandira Ortiz e Maria Zaira Turchi, organizadoras, 2015).
Não vamos confundir as coisas, por questão de método, dividamos as questões. Assim, a) a ausência dos leitores no mundo hodierno; b) A crise da poesia; c) poesia: uma esperança que não quer se apagar. Vamos, pois, ao simples abc, em meio à complexidade de um mundo cheio de algoritmos que querem determinar o que (e quanto) lemos.
Como pressuposto a falar de uma crise, lembremo-nos sempre de que o conhecimento está na gênese da Poesia, digo, repetindo Temístocles Linhares[ii] ao analisar a obra de José Guilherme Merquior (A astúcia da mimese, 1972), a respeito da análise que este fazia da poesia do pernambucano João Cabral de Melo Neto:
“O conhecimento, no caso, é existência e a existência é conhecimento. E a poesia é a voz da existência, como no nosso poeta. Para que melhor justificação que essa? A poesia como estudo de sua própria essência, a poesia como conhecimento, como uma espécie de operação sobre o tempo e sobre o espaço, uma manipulação do tempo e do espaço, chegando mesmo à criação de um tempo que não seja mais o tempo...”
Em poetas que exercem a imitação da realidade, como o fez João Cabral, isso é muito importante, e vem se repetindo para poetas que herdaram e deram continuidade à vertente dessa capacidade de “adesão ao primado da realidade objetiva, identificada como o universo social em suas relações concretas...sem filosofia transcendentalista. ”
E quanto aos ditos metafísicos e transcendentalistas, como lidar com eles e ainda assim achar alguma adequação da Poesia ao conhecimento? O que dizer dos que da poesia lançam mão como o fez São João da Cruz, para uma espécie de ascensão, de elevação do material ao espiritual, como na “Subida do Monte Carmelo” ou na sua “Noite escura”
“Em uma noite escura,
De amor em vivas ânsias inflamada,
Oh! Ditosa ventura!
Saí sem ser notada,
Já minha casa estando sossegada. ”
Eis que duas vertentes se opõem e, no entanto, entre elas a comunhão que se interpõe é a linguagem. Afinal, como queria Martin Heidegger, em “A poesia de Hölderlin”: “É mesmo apenas a linguagem que nos concede a possibilidade de estar no centro da abertura do ente. Apenas onde há linguagem há um mundo, ou seja, o local das mudanças nas decisões e obras, de ações e responsabilidade, mas também de arbítrio e rumor, decadência e confusão. Somente onde há mundo que domina há história. A linguagem é um bem em sentido mais originário. Ela traz o bem-estar, ou seja, a garantia de que o homem pode ser enquanto [ser] histórico[iii]”.
Em ambas há a exigência de um vetor comum – a linguagem e de um requisito fundamental – o silêncio interior, uma espécie de fuga que é um enfrentar-se, uma subida que é um mergulho em si mesmo e nas coisas da alma. Talvez por isso o mesmo Heidegger tenha dito que “a poesia é nomear que institui o ser e a essência de todas as coisas”. Similar condição do pensamento de Vilém Flusser para quem antes de entendermos o perfume da rosa ou o sabor da maçã foi preciso que alguém as nomeasse – doassem vida imaterial a algo que se vê e ao Amor descrição para além do ato, como o fez o fundador da língua Portuguesa, Luís Vaz de Camões, em um de seus famosos sonetos sobre o Amor:
Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
Ora, em ambos os casos – o do que imita a realidade para nomeá-la (João Cabral) e o do que imerge para subir aos altos cimos da espiritualidade (o espanhol João da Cruz e um Jorge de Lima, entre os poetas brasileiros) – o que os une é “o estado de emergência” que parecem alimentar o poeta (e por que não o leitor de poesia?), porque “a Poesia é uma alma inaugurando uma forma”, segundo Gaston Bachelard.
Do abc, este é o cerne do (b), pois, quando o pensador francês resume este “estado de emergência” em que a poesia coloca o homem como de “supremo poder e humana dignidade” (Edward Hirsch)[iv] estamos diante de uma crise. Eis a crise que pode ser nomeada desde então. Todos querem o poder, todos almejam a dignidade suprema, mas só a alguns é dado o dom de fazer-se ligar ao imaterial que conduz a poesia e nos conduz à leitura da poesia, além do que nos parece desequilibrada a relação numérica de poetas/leitores.
Os vícios que podem deturpar esse “caminho espiritual da alma” (João da Cruz), essa sondagem profunda do ser, para abrir a porta da Poesia são os da desumanidade. Útil relembrar que esses vícios na literatura já foram apontados por teóricos importantes, como Tzvetan Todorov, que entre nós foi, recentemente, relembrado pelo crítico e professor de Escrita Criativa Rodrigo Gurgel. São três os males, diz Todorov, via Gurgel: “formalismo, niilismo e solipsismo” – vícios que podem colocar em crise não só a Poesia como toda a literatura, incluindo a crítica literária.
Remeto o leitor ao final da 1ª. Parte desta série sobre Poesia, onde transcrevi o poema “Expectar”, de autoria do goiano Edmar Guimarães:
“É tarde para a euforia da forma.
[...]
E quando se vai lendo/frios ventos nos olhos,/aprendendo a caligrafia/dos ocasos,//do cheiro mumificado do mundo,/de aves suadas/nas escarpas/escuras//do ar /há desespero/nuvens rasas nos olhos.//aves são de carne, mas têm/asas."
Aí está, dileto leitor, o famoso dar asas à leitura que pressupõe olharmos com cautelosa percuciência para o problema acima nomeado: talvez o elemento crucial de nosso país e da cultura de hoje é mesmo encontrarmos resposta à pergunta: Para quem escrevemos? Onde estão os leitores?
Em 1976, o crítico paranaense Temístocles Linhares (“Diálogos sobre a poesia brasileira”) já advertia que a palavra escrita foi invenção de culturas altamente desenvolvidas, seguindo-se então o livro como o seu melhor veículo de comunicação; e se muitos séculos foram necessários para a fixação da poesia oral, nem tantos para fixar o livro – e já agora, adverte Linhares “em largo voo através do espaço e do tempo, nos encontramos diante de novos problemas, de novas transformações para a poesia, em face do advento de novos meios de comunicação, capazes até de lhe criarem um processo de baldeação, a ser fomentado pela segunda revolução industrial” em que vivia a humanidade de então. Segundo Linhares éramos “cem milhões de habitantes, dos quais pelo menos um milhão de leitores, média altíssima, uma vez que se lê poesia cada vez menos. E, no entanto, aí estão os poetas e os que se ocupam teimosamente de poetas e de poesia”.
Eis-nos na era pós-industrial e da cibercultura, com um nível decrescente de interesse pela leitura. Uma era em que respondendo à pergunta “Para quem escrevemos? ”, o ficcionista Fernando Monteiro disse: “Os poetas não precisarão participar dessa rodada de desencanto, pois eles já escrevem para um vazio que não é só o das grandes livrarias grosseiras, com suas girândolas de livros de ocasião com capas brilhantes como catarro em parede. Os poetas, como que abençoados por Deus ou pelo diabo, estão escrevendo para leitores tão escassos (há muitíssimo tempo), que se tornaram monges trapistas da literatura, escrevendo em monastérios transformados nos palácios da mente que os libertam de escrever para quem já não possui o código da Poesia, a tábua de decifração (e salvação) do verso que foi carne, no Princípio etc. Enfim, os poetas estão libertados pelo silêncio que os cerca – enquanto aqui se convocam, sim, principalmente os praticantes da ficção, nesta hora “vigésima quinta” por obra e graça, em parte, das editoras voltadas, nos últimos anos, quase exclusivamente para aquilo que passou a se entender como sucessos”
Assim, cada vez mais parece mais anacrônica a leitura silenciosa (e demorada, saboreada, quase sem fim utilitário nenhum, que não seja o de ligar-se às coisas do espírito) – a “delectatio morosa dos antigos” – ou seja: uma leitura mais proveitosa e de engrandecimento espiritual do leitor (Linhares). Este “dar asas à imaginação” vem, talvez, daí. Não está o leitor a preparar-se para nenhum teste do dia seguinte, não está diante da pressa do leito de morte que o obriga a colher um lápis e um pequeno papel – como teria feito Thomas Wolfe no seu leito de morte... Ele, tão só e apenas lê.
Está, pura e simplesmente, este leitor a deleitar-se com o que lê, porque desejoso de ser melhor, disposto a escalar o monte Carmelo do seu dia-a-dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade; ou, mesmo quando suprido disso tudo, quer que sua alma diga ao poema (o Amado), como o fiel declara ao Redentor na “Noite escura” da alma:
Essa luz me guiava,
Com mais clareza que a do meio-dia
Aonde me esperava
Quem eu bem conhecia,
Em sítio onde ninguém aparecia.
Oh! noite que me guiaste,
Oh! noite mais amável que a alvorada;
Oh! noite que juntaste
Amado com amada,
Amada já no Amado transformada!
A alma do leitor assim distendida pela leitura e pela meditação silenciosa, poderá ouvir e repetir – fazendo eco de um abismo a outro abismo, gerando um Esperança imorredoura (eis-nos diante do “c”, diria o “x”, do abc):
“Esquecida, quedei-me,
O roso reclinado sobre o Amado;
Tudo cessou. Deixei-me,
Largando meu cuidado
Por entre as açucenas olvidado.[v]
Como ressalta Dom Penido, na introdução às obras de São João da Cruz em português, se a poesia pode falar à alma, exige-se do leitor uma ascese, uma disciplina – às vezes, desconfortável aos pés do caminhante nas primeiras jornadas, afeito que está à rapidez e à superficialidade do mundo cibernético. É preciso, alerta dom Penido: “nos dispor a receber os dons gratuitos de Deus” e dispostos a receber o divino beneplácito, “Deus não põe sua graça na alma senão na medida da vontade e do amor dela”.
Similarmente, aos incrédulos, a Poesia não cederá nunca sem a contrapartida igual de meditação e silêncio que prepara o espírito para o uso das asas da imaginação. É com Hirsch que encerro essa peroração com meu interlocutor imaginário. Trata-se de viajar à “Heartland” – a terra do coração, literalmente, para onde se vai, mesmo que seja apenas colhendo uma mensagem numa garrafa (Paul Celan), ouvindo uma voz no meio da noite, propondo-se a si mesmo algo fora da rotina escravizadora do mundo do trabalho.
Só assim a Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro; ou que irá em busca da poesia falada, a poesia em prosa ou mixada em música por meios os mais diversos – eis o Abc da poesia.
NOTAS
[i] “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania”, Org. Goiandira Ortiz de Camargo e Maria Zaira Turchi, Goiânia, Cânone Editorial, 2015, 217 p.
[ii] LINHARES, Temístocles. “Diálogos sobre a poesia brasileira”, Ed. Melhoramentos/MEC, 1976, 280 p.
[iii] Heidegger, Martin. Cit. Por Vicenzo Costa (2015), p.131. Trad. Yvone da Silva.
[iv] HIRSH, Edward. “How to read a poem and fall in love with Poetry”, Harvest books, 1999, 354 p..
[v] Obras de São João da Cruz, vol. I – “A subida do Monte Carmelo, Noite Escura e Cautelas” (1960), trad. Monjas do Mosteiro das Carmelitas descalças de Sta. Teresa do Rio de Janeiro.


