Opção cultural

Com apenas 22 anos, tecladista tem curso para músicos com mais de dois mil alunos e participou de projeto da marca sueca, Nord Keyboards

Conto escrito em curso de Imersão em Jornalismo Literário: Escrita Criativa e Narrativas Transformadoras; inspirado na música “Contato Imediato”, de Arnaldo Antunes

“Ulisses” está nas bases de nossa modernidade. Uma modernidade que espelhava a tradição, continuava a tradição ao mesmo tempo em que a desafiava e atualizava

O começo do voo livre nas Artes e na Literatura, sem que se perdessem o alicerce construído antes e o legado das grandes obras

O empresário trouxe para brilhar em Goiânia Mercedes Sosa, Jean-Luc Ponty, The Platters, Jeff Cole, Martinho da Vila, Ney Matogroso, Elizeth Cardoso e Ivan Lins

E a Semana termina... Mas a arte nunca mais foi a mesma. A verdade perdura até os dias de hoje. Nunca uma semana durou tanto e influenciou tanto

"Não me apego a tendências. Sou livre. Minha arte é livre. Gosto do novo. De experimentos"
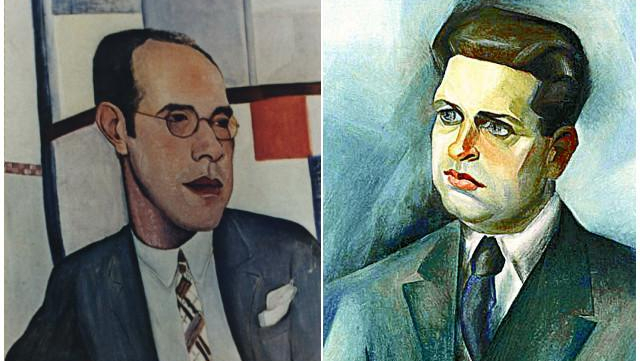
Somos um elo nas correntes vanguardistas, no sentido da rebeldia, insatisfação questionadora, interferência criativa e transformação? Inovar para renovar e revolucionar
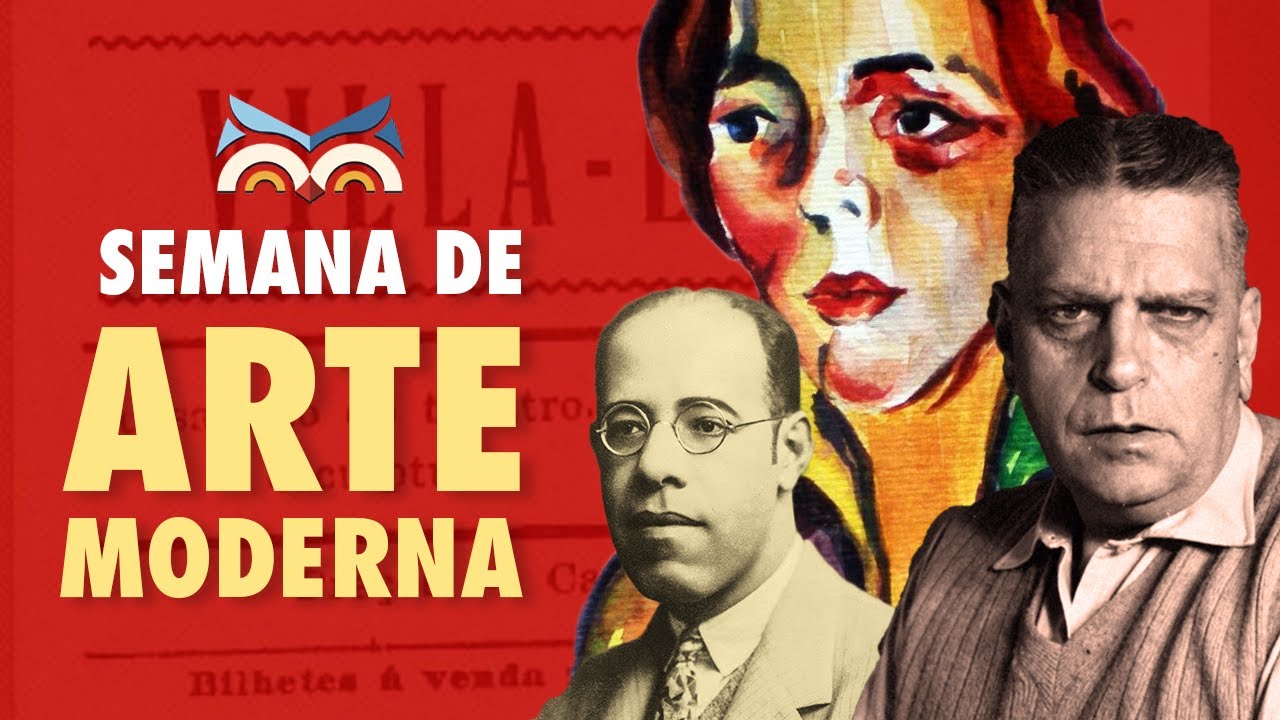
Depois do Modernismo, as fronteiras entre imaginação e sua concretização na arte, entre o que era considerado certo e errado, ruíram. O Modernismo tudo permite

Avistei Veiga com um livro, lendo para um cavalo desgarrado e bravio, que empacara atravessado na passagem para a estrada, impedindo o escritor de romper caminho
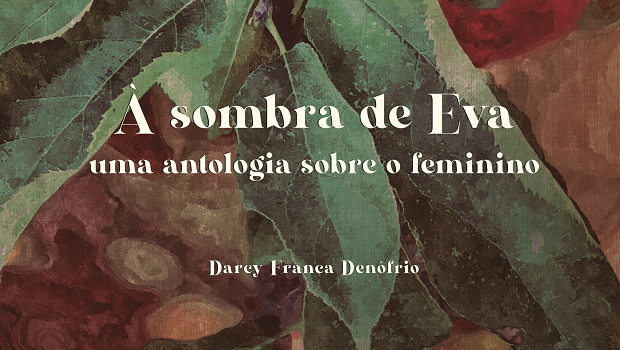
Aos 85 anos, escritora e mestre em Teoria Literária Darcy França Denófrio reúne em lançamento mais de quatro décadas de poesias sobre a figura feminina-feminista ao logo do tempo
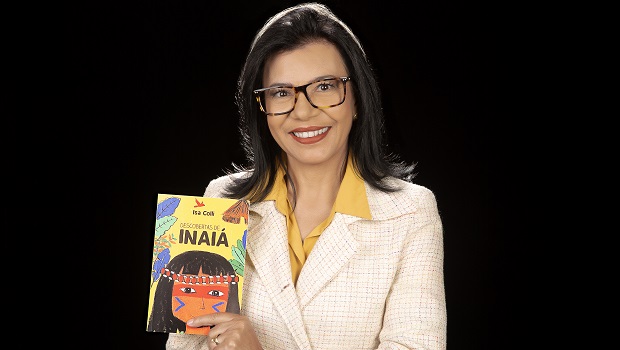
Obra narra os desafios e aprendizados de menina indígena na vida fora da aldeia
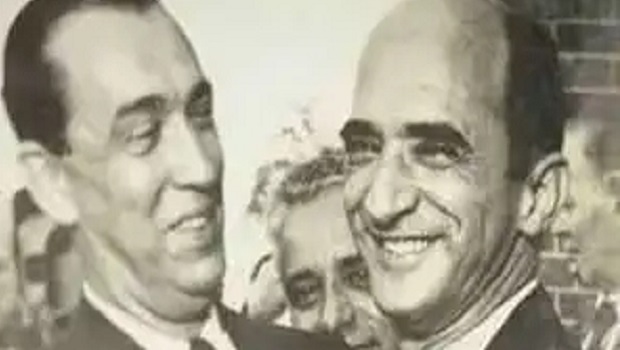
“JK — Exemplo e Desafio” é mais que um livro biográfico. É o registro dos destinos de um país que, cedo ou tarde, há de encontrar os caminhos para sua perfeita realização
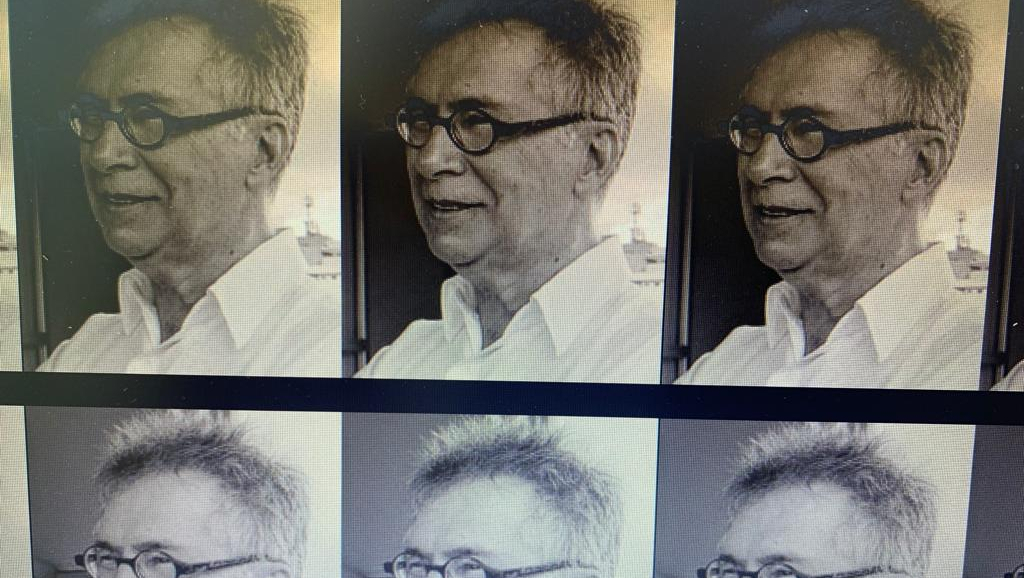
Chama a atenção no autor sua melhor qualidade, o manuseio da linguagem que, em fluxo contínuo, dá unidade a todas as narrativas desse livro exemplar
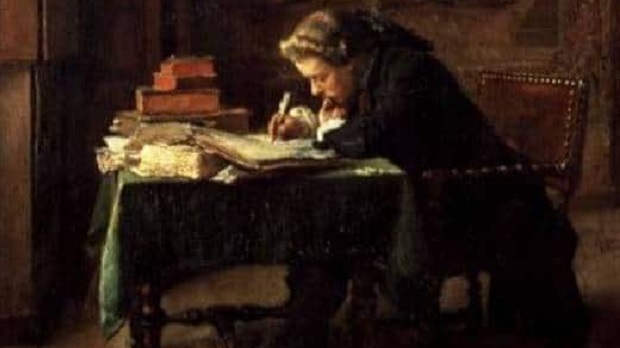
Uma das características que chamam a atenção na coletânea e contos é a intertextualidade com o estilo ou a obra do autor que serve de inspiração aos textos


