Resultados do marcador: Centenário

Doze biomarcadores sanguíneos associados a inflamação, metabolismo, função hepática e renal, desnutrição e anemia foram analisados

Eliézer Cardoso de Oliveira (UEG), Lena Castello Branco (ex-UFG) e Edvaldo Bergamo (UnB) falam do impacto e das lições que podem ser tiradas do episódio, cem anos depois

Chacina que ceifou a vida de integrantes do clã Wolney foi tema do livro “O Tronco”, de Bernardo Élis, clássico da literatura goiana que já completa 63 anos de publicação

Autora (1918-2006) dedicou 50 anos à poesia e, no centenário, é lembrada como parte do cânone em poemas que rondam o Sagrado

Ella Fitzgerald é lembrada como “primeira dama do Jazz”... um apelido bastante pomposo e merecido, mas que pode enganar os mais apressados e restringi-la a uma redoma conservadora, assaz restrita, uma ideia pronta e, portanto, limitada
[caption id="attachment_92566" align="aligncenter" width="620"] Ella Fitzgerald (1917-1996)[/caption]
Vitor Hugo Goiabinha
Especial para o Jornal Opção
Antes que o Google homenageie Ella Fitzgerald com um doodle em sua tela inicial, lembrando o seu centenário no próximo 25 de abril, gostaria de compartilhar com vocês leitores a delícia que é falar de e, recomendo, ouvir a sua voz (o que estou fazendo enquanto escrevo essas linhas).
A voz suave, sólida e versátil (com uma extensão vocal que alcançava impressionantes três oitavas) de Ella a tornou uma dessas figuras presentes no imaginário do público de Jazz não apenas pela sua reconhecida competência técnica e por seu carisma, mas por ter composto uma carreira integrada à própria trajetória do Jazz, incorporando elementos inerentes à inovação jazzística mas sem abandonar o estilo robusto e preciso de interpretação. Seu caminho confunde-se com a do estilo que ajudou a construir. Conhecer Jazz no século XX é, em parte, conhecer Ella Fitzgerald. Não é à toa que os centenários de ambos praticamente coincidem.
O início de sua carreira, ainda adolescente, na fase swing do Jazz, nas ruas do Harlem, em Nova York, lhe garantiu entradas nas big-bands da região e o contato com as referências musicais da época: Louis Armstrong e Billie Holliday. Sua carreira ganhou ascensão com sua entrada na big-band de Dizzy Gillespie, na década de 1940, e com a adesão ao estilo be-bop. Com a carreira em crescimento, aliou-se à gravadora Verve Records e ao produtor Norman Granz, com quem desenvolveu grandes parcerias musicais e sucesso comercial ao lado de Duke Ellington, Nat King Cole, Frank Sinatra. Apaixona-se pela mistura brasileira entre samba e o cool-Jazz. A bossa-nova e Tom Jobim entrariam em seu repertório para não mais sair.
Ella Fitzgerald era mestra tanto em interpretações intimistas quanto nas mais extrovertidas, fazendo do scat – a imitação de instrumentos com a voz – uma das suas marcas. Bem antes de Camille Bertrault se tornar um fenômeno da internet usando divertidamente essa técnica, a adoção do improviso vocal característico mostra não apenas agilidade e versatilidade, mas sobretudo a descontração (contrastante com a imagem da elegância e sobriedade que foi construída em torno da musa) e a capacidade de um ouvido absoluto, capaz de “conversar” com os outros instrumentos ao nível do improviso. Característica também das performances do “Acrobata do Scat”, Al Jarreau. Recomendo ouvir “Blue Skies” e as performances ao vivo, em que ela de fato se soltava pelas ondas harmônicas, improvisando e “brincando” com sua voz.
Ouvir os diversos discos ao longo da carreira de Ella pode dar a sensação de estar escutando cantoras diferentes a cada nova etapa. Miles Davis foi chamado de “o Picasso do Jazz” por sua capacidade de reinventar-se. Ella Fitzgerald, apesar da versatilidade nata, é lembrada como “primeira dama do Jazz”... um apelido bastante pomposo e merecido, mas que pode enganar os mais apressados e restringi-la a uma redoma conservadora, assaz restrita, uma ideia pronta e, portanto, limitada. O apelido de “primeira dama do Jazz”, pelo qual Ella é (re)conhecida, refere-se a essa magnitude que sua figura ganhou ao longo do tempo. Mas toda denominação é também uma restrição. Ouvir Ella Fitzgerald em sua amplitude comprova a fragilidade dessas restrições que mais criam selos comerciais do que auxiliam a compreender a artista em sua dimensão.
Ella e o Brasil
A paixão pela Bossa-Nova rendeu a Ella várias gravações de canções de Tom Jobim, João Gilberto, João Donato e, já na década de 1970, de Ivan Lins. Os altos-e-baixos constantes da melodia vocal do estilo auxiliam, sem dúvida, cantoras e cantores que têm competência para interpretar e brincar com o gingado da Bossa-Nova. Talvez por isso Ella mostrava tanta familiaridade e descontração ao cantar ou a fazer seus scats com as melodias brasileiras. Gravou diversas Bossas durante a carreira, mas deixou apenas para o final desta, em 1981, um disco inteiro com músicas de Tom Jobim.
Teve duas passagens pelo Brasil, em 1960 e em 1971, nas quais deixou além de sua marca com interpretações de “Samba de Uma Nota Só”, “Wave” e várias outras, a saudade no público que, lotando todas as apresentações, teve a oportunidade de presenciar uma das cantoras do século.
Obrigado Ella.
Vitor Hugo Goiabinha é doutor em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG), professor de história na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Colégio Sagrado Coração de Jesus – Pires do Rio, e na Faculdade Brasil Central-Goiânia. E-mail: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=PbL9vr4Q2LU
Ella Fitzgerald (1917-1996)[/caption]
Vitor Hugo Goiabinha
Especial para o Jornal Opção
Antes que o Google homenageie Ella Fitzgerald com um doodle em sua tela inicial, lembrando o seu centenário no próximo 25 de abril, gostaria de compartilhar com vocês leitores a delícia que é falar de e, recomendo, ouvir a sua voz (o que estou fazendo enquanto escrevo essas linhas).
A voz suave, sólida e versátil (com uma extensão vocal que alcançava impressionantes três oitavas) de Ella a tornou uma dessas figuras presentes no imaginário do público de Jazz não apenas pela sua reconhecida competência técnica e por seu carisma, mas por ter composto uma carreira integrada à própria trajetória do Jazz, incorporando elementos inerentes à inovação jazzística mas sem abandonar o estilo robusto e preciso de interpretação. Seu caminho confunde-se com a do estilo que ajudou a construir. Conhecer Jazz no século XX é, em parte, conhecer Ella Fitzgerald. Não é à toa que os centenários de ambos praticamente coincidem.
O início de sua carreira, ainda adolescente, na fase swing do Jazz, nas ruas do Harlem, em Nova York, lhe garantiu entradas nas big-bands da região e o contato com as referências musicais da época: Louis Armstrong e Billie Holliday. Sua carreira ganhou ascensão com sua entrada na big-band de Dizzy Gillespie, na década de 1940, e com a adesão ao estilo be-bop. Com a carreira em crescimento, aliou-se à gravadora Verve Records e ao produtor Norman Granz, com quem desenvolveu grandes parcerias musicais e sucesso comercial ao lado de Duke Ellington, Nat King Cole, Frank Sinatra. Apaixona-se pela mistura brasileira entre samba e o cool-Jazz. A bossa-nova e Tom Jobim entrariam em seu repertório para não mais sair.
Ella Fitzgerald era mestra tanto em interpretações intimistas quanto nas mais extrovertidas, fazendo do scat – a imitação de instrumentos com a voz – uma das suas marcas. Bem antes de Camille Bertrault se tornar um fenômeno da internet usando divertidamente essa técnica, a adoção do improviso vocal característico mostra não apenas agilidade e versatilidade, mas sobretudo a descontração (contrastante com a imagem da elegância e sobriedade que foi construída em torno da musa) e a capacidade de um ouvido absoluto, capaz de “conversar” com os outros instrumentos ao nível do improviso. Característica também das performances do “Acrobata do Scat”, Al Jarreau. Recomendo ouvir “Blue Skies” e as performances ao vivo, em que ela de fato se soltava pelas ondas harmônicas, improvisando e “brincando” com sua voz.
Ouvir os diversos discos ao longo da carreira de Ella pode dar a sensação de estar escutando cantoras diferentes a cada nova etapa. Miles Davis foi chamado de “o Picasso do Jazz” por sua capacidade de reinventar-se. Ella Fitzgerald, apesar da versatilidade nata, é lembrada como “primeira dama do Jazz”... um apelido bastante pomposo e merecido, mas que pode enganar os mais apressados e restringi-la a uma redoma conservadora, assaz restrita, uma ideia pronta e, portanto, limitada. O apelido de “primeira dama do Jazz”, pelo qual Ella é (re)conhecida, refere-se a essa magnitude que sua figura ganhou ao longo do tempo. Mas toda denominação é também uma restrição. Ouvir Ella Fitzgerald em sua amplitude comprova a fragilidade dessas restrições que mais criam selos comerciais do que auxiliam a compreender a artista em sua dimensão.
Ella e o Brasil
A paixão pela Bossa-Nova rendeu a Ella várias gravações de canções de Tom Jobim, João Gilberto, João Donato e, já na década de 1970, de Ivan Lins. Os altos-e-baixos constantes da melodia vocal do estilo auxiliam, sem dúvida, cantoras e cantores que têm competência para interpretar e brincar com o gingado da Bossa-Nova. Talvez por isso Ella mostrava tanta familiaridade e descontração ao cantar ou a fazer seus scats com as melodias brasileiras. Gravou diversas Bossas durante a carreira, mas deixou apenas para o final desta, em 1981, um disco inteiro com músicas de Tom Jobim.
Teve duas passagens pelo Brasil, em 1960 e em 1971, nas quais deixou além de sua marca com interpretações de “Samba de Uma Nota Só”, “Wave” e várias outras, a saudade no público que, lotando todas as apresentações, teve a oportunidade de presenciar uma das cantoras do século.
Obrigado Ella.
Vitor Hugo Goiabinha é doutor em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG), professor de história na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Colégio Sagrado Coração de Jesus – Pires do Rio, e na Faculdade Brasil Central-Goiânia. E-mail: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=PbL9vr4Q2LU

Mais que uma “resposta” ao “1984”, de Orwell, o livro de Burgess parte de observações pessoais, concretas, da vida política e social da Europa dos anos 1970, para mostrar a incapacidade do Ocidente de preservar a sua própria civilização

Em 19 de janeiro de 2017, comemora-se cem anos do nascimento de Carson McCullers , a escritora estadunidense que retratou a solidão humana com tragicidade, compaixão e senso de humor

Para a pesquisadora cubana Daylalis González Perdomo, Confaloni desenvolveu um estilo único, que pode ser definido como simbolismo-expressionista

Oscilando entre a utopia e a ironia, o que nos legou Antonio Callado? Certamente, um importante painel do Brasil e de seus principais problemas, costurado em excelente prosa
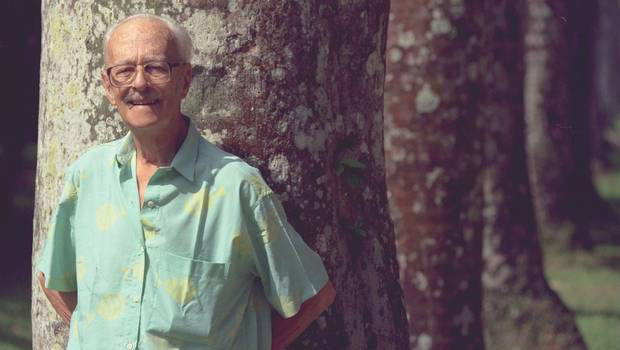
[caption id="attachment_85750" align="alignnone" width="620"] O escritor Antonio Callado completaria cem anos de idade dia 26 de janeiro | Foto: Marcos André Pinto[/caption]
Dia 25, quarta-feira, fizemos uma homenagem a Tom Jobim, que teria completado 90 anos de idade. Hoje, 26 de janeiro, é a vez de outro Antonio, o Callado (este sem o acento circunflexo), autor de “Quarup” e "Madona de cedro", que, se estivesse vivo, completaria cem anos. Aproveitamos então o ensejo para uma homenagem dupla, ou, melhor dizendo: quádrupla.
[relacionadas artigos="85651"]
No vídeo abaixo, podemos assistir Tom Jobim e Antonio Callado conversando com mais dois Antônios: Antônio Cândido e Antônio Houaiss. O primeiro (dos quatro, o único ainda vivo), um dos grandes críticos literários e estudiosos da cultura brasileira; o segundo: filólogo, tradutor e dicionarista.
A conversa passa por diversos temas, desde a etimologia do nome Antônio, até assuntos sobre política, utopias, a arte e cultura brasileira, etc.
Em tempo: domingo, dia 29, a edição do Opção Cultural contará com um texto sobre Antonio Callado, bem como com um trecho transcrito do primeiro capítulo de seu Opus Magnum, “Quarup”.
https://www.youtube.com/watch?v=IudtNg9-pxA&t=281s
O escritor Antonio Callado completaria cem anos de idade dia 26 de janeiro | Foto: Marcos André Pinto[/caption]
Dia 25, quarta-feira, fizemos uma homenagem a Tom Jobim, que teria completado 90 anos de idade. Hoje, 26 de janeiro, é a vez de outro Antonio, o Callado (este sem o acento circunflexo), autor de “Quarup” e "Madona de cedro", que, se estivesse vivo, completaria cem anos. Aproveitamos então o ensejo para uma homenagem dupla, ou, melhor dizendo: quádrupla.
[relacionadas artigos="85651"]
No vídeo abaixo, podemos assistir Tom Jobim e Antonio Callado conversando com mais dois Antônios: Antônio Cândido e Antônio Houaiss. O primeiro (dos quatro, o único ainda vivo), um dos grandes críticos literários e estudiosos da cultura brasileira; o segundo: filólogo, tradutor e dicionarista.
A conversa passa por diversos temas, desde a etimologia do nome Antônio, até assuntos sobre política, utopias, a arte e cultura brasileira, etc.
Em tempo: domingo, dia 29, a edição do Opção Cultural contará com um texto sobre Antonio Callado, bem como com um trecho transcrito do primeiro capítulo de seu Opus Magnum, “Quarup”.
https://www.youtube.com/watch?v=IudtNg9-pxA&t=281s

A cantora que embalou o blues e se consagrou como a “Diva do Jazz” completaria nesta terça-feira, 7, cem anos
[caption id="attachment_32467" align="alignnone" width="620"] Foto: Gilles Petard / Getty Images[/caption]
“Lady sings the blues
She's got 'em bad
She feels so sad
The world will know
She's never gonna sing them no more
No more” — Billie Holiday
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu Eleanora Fagan num dia 7 de abril. Era 1915, num gueto da Filadélfia. Nasceu filha de dois adolescentes. A mãe, Sarah Julia Fagan, conhecida como “Sadie”, tinha apenas 13 anos. Já o pai Clarence Holiday estava na casa dos 15, quando a abandonou ainda pequena. Mas ela carregou consigo o sobrenome. Era homenagem ao pai, que embalava guitarras. Só que isso demorou um tempo. Antes, passou por outras inúmeras desgraças.
Foi criada pela tia Eva Miller até os dez anos, quando sofreu uma tentativa de estupro e passou a viver em um reformatório. Quando dali saiu, perambulou por cidades com sua mãe até que se estabeleceram no Harlem. Ali, se prostituiu até que foi presa. Da retenção, começou a cantar profissionalmente. Era com o vizinho, um saxofonista. Dai, então, começou a lapidar “a voz de merda”, como dizia por seu pequeno alcance vocal. O jeito foi deixar suas emoções livres muito além do microfone. “O que sai é o que sinto. Odeio simplesmente cantar. Tenho que mudar o tom para adaptá-lo à minha forma”, dizia sobre seu estilo.
Fez sua carreira com singles até que na década de 1950 se dedicou aos álbuns. Construiu sua carreira em meio ao álcool e drogas e outras prisões. Passou muitas madrugadas em hospitais. Faleceu de cirrose em 1959, com apenas 44 anos. Deixou um disco pronto, cujas letras são de uma tristeza que adoece (e encanta). Billie Holiday deixou músicas e mais músicas, que ganham novas versões – como o álbum “Coming Forth by Day”, de Cassandra Wilson e José James, que será lançado este mês, em tributo a cantora. Ainda assim, são só canções, longes das embaladas na voz da diva do jazz, da diva do blue.
Escute “Strange Fruit”, música que conta a história do linchamento de dois negros e que condenava o racismo em um Estados Unidos, ainda segregado, de 1939.
Foto: Gilles Petard / Getty Images[/caption]
“Lady sings the blues
She's got 'em bad
She feels so sad
The world will know
She's never gonna sing them no more
No more” — Billie Holiday
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu Eleanora Fagan num dia 7 de abril. Era 1915, num gueto da Filadélfia. Nasceu filha de dois adolescentes. A mãe, Sarah Julia Fagan, conhecida como “Sadie”, tinha apenas 13 anos. Já o pai Clarence Holiday estava na casa dos 15, quando a abandonou ainda pequena. Mas ela carregou consigo o sobrenome. Era homenagem ao pai, que embalava guitarras. Só que isso demorou um tempo. Antes, passou por outras inúmeras desgraças.
Foi criada pela tia Eva Miller até os dez anos, quando sofreu uma tentativa de estupro e passou a viver em um reformatório. Quando dali saiu, perambulou por cidades com sua mãe até que se estabeleceram no Harlem. Ali, se prostituiu até que foi presa. Da retenção, começou a cantar profissionalmente. Era com o vizinho, um saxofonista. Dai, então, começou a lapidar “a voz de merda”, como dizia por seu pequeno alcance vocal. O jeito foi deixar suas emoções livres muito além do microfone. “O que sai é o que sinto. Odeio simplesmente cantar. Tenho que mudar o tom para adaptá-lo à minha forma”, dizia sobre seu estilo.
Fez sua carreira com singles até que na década de 1950 se dedicou aos álbuns. Construiu sua carreira em meio ao álcool e drogas e outras prisões. Passou muitas madrugadas em hospitais. Faleceu de cirrose em 1959, com apenas 44 anos. Deixou um disco pronto, cujas letras são de uma tristeza que adoece (e encanta). Billie Holiday deixou músicas e mais músicas, que ganham novas versões – como o álbum “Coming Forth by Day”, de Cassandra Wilson e José James, que será lançado este mês, em tributo a cantora. Ainda assim, são só canções, longes das embaladas na voz da diva do jazz, da diva do blue.
Escute “Strange Fruit”, música que conta a história do linchamento de dois negros e que condenava o racismo em um Estados Unidos, ainda segregado, de 1939.

Em comemoração ao centenário no próximo dia 2 de fevereiro, o Jornal Opção
traz um pequeno festejo de um escritor goiano que fez história escrevendo
sobre homens e suas relações de poder e sobre as coisas universais e indizíveis
[caption id="attachment_27362" align="alignleft" width="620"] Veiga estreou na literatura com “Os Cavalinhos de Platiplanto” e ganhou o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra / Reprodução/Arquivo Pessoal de Luiz de Aquino[/caption]
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu peladinho da silva como qualquer outro José. Só não era da Silva. O anjo safado o predestinou a ser da casa dos Veiga. E lá nasceu, numa beirada que não era Corumbá e tampouco Pirenópolis: Sítio do Morro Grande, que só serviu de primeiro berço. O menino perambulou por bonitezas rurais doutro sitiozinho, vendinha de polonês na pequena Goyaz, voo para Londres e enamorou bibliotecas do Rio de Janeiro. E para as bibliotecas, José J. Veiga, o “matuto pra burro”, deixou sua maior herança: a literatura.
Corumbópolis
Foi num dia 2 de fevereiro que nasceu filho do verão de 1915. Era só José da Veiga. O homem não tinha inventado, ainda, a ideia de pôr um “J” lá no meio. Ainda assim, o “J” estava na certidão. Vinha de raízes maternas, da dona Marciana Jacinto Veiga, que o ensinou a graça de juntar letras e brincar de palavrear. Era afeiçoada aos livros, diferentemente do marido, o pai de Veiga, senhorzinho Luís Pereira –– que se interessava em pôr tijolo em cima de tijolo e, assim, construir casa para quem vivia em Corumbá.
Lá tinha uma escolinha, que com seus frufrus atraía a criançada. Era encadernação vistosa, não a que canta Caetano, uma outra que também enfeitava palavras. Os livros ficavam sob a guarda dum padre que, vez ou outra, abria as portas e as páginas para quem quisesse ler. Veiga era o primeiro da fila. Ali, já se avistava a semente que foi sendo aguada noutras paisagens: a do sitiozinho, onde viveu quando a mãe viu que o céu era mais azulinho que a Terra. De lá, seguiu para Goyaz. Trazia consigo seus poucos 12 anos de vida.
Em redomas literárias, vulgas bibliotecas de padres dominicanos e gabinetes que existiam na vila de 1927, dispendeu horas sobre livros. Nos seus 18, conheceu um moço vindo doutra terra: o polonês Oscar Breitbarst, a quem lhe concedeu outros cuidados para que ele frutificasse. José J. Veiga foi se fazendo aos poucos, tropeçando nas pedras no meio da vida.
Breitbarst era uma delas. Em sua vendinha de refrescos avermelhados, sabor groselha, atraía crianças e prosas de quem se amigava. Numa delas, firmou história com Veiga. O homem botou-lhe a ideia –– não a do “J” –– de ir para outros cantos, São Paulo ou Rio. Rio de Janeiro, decidiu ele com seus 400 mil réis ganhados no bolso. Sabia que ali não era só capital federal: os intelectuais, da época, lá residiam.
O Rio
Na labuta de encontrar emprego, pendengou os anos de 1930. A fadiga vinha da censura, do cerceamento instaurado por Getúlio Vargas que levou Veiga a declarar: “Acho que 10 de novembro de 1937 foi o dia em que tive mais raiva na minha vida”. Não era só espinhos, a época deu ao corumbaense bons botões profissionais. No auge de seus 30 anos, já graduado pela Faculdade Nacional de Direito, ele vivenciou as efervescentes ruas londrinas já com resquícios da 2° Guerra Mundial. Trabalhou como comentarista e tradutor de programas para o Brasil na BBC inglesa.
Na volta, conquistou bons postos do escalão jornalístico. E mais, conquistou a jovem Clérida Geada. Foi namoro digno de Biblioteca Nacional –– onde a moça o atendia gentil e charmosa. Nasceu, então, no hall literário e perdurou até o ínfimo segundo que assoprou a vida de Veiga. Estudiosa na Escola de Belas Artes, o acompanhou por 49 anos, abandonando o insosso e ocupado trabalho de vida pouco tempo depois da perda de Veiga.
Marinando os dias numa rotina de redação de jornal e passeios com a esposa, Veiga abandonou o oficio de catar feijões em obras literárias consagradas e “escrever para nada”, como dizia, e passou a “escrever a sério”. O caso é que Veiga reescrevia, desde o ginásio, a literatura de quem admirava. A prática tirou-lhe a frase: “Mais tarde descobri que isso me valeu muito”. As publicações, no entanto, se retinham à população das gavetas. No puir do tempo, decidiu aumentá-la, o que frutificou um conto gozado.
Além do real e regional
Foi numa tarde de quarta-feira, um pouco mais de quinze anos após o falecimento do “matuto pra burro” — é que ele se dizia assim; de Guimarães Rosa, seu amigo, a frase surtiu-lhe bem: “Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa”. No pormenor, a iguaria de Veiga acompanhava dose certa de ironia — não era nada de matuto e Agostinho Potenciano de Souza sabe bem disso.
Sua obra, “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, traz consigo o subtítulo “Uma Leitura da Obra de José J. da Veiga”. Leitura que, numa conversa da tarde quente de verão goiano, simplificou-se em epifania boba e maravilhosa, tal qualquer outra. O título de Agostinho diz sobre o olhar de Veiga sobre o que ele, então, vivia. O “crítico” não é mero adjetivo; está mais para substancial. A reflexão de Veiga quanto ao mundo era a obra-prima. A frase “as perguntas são mais importantes que as próprias respostas” vinha da sabedoria desconfiante (de muita coisa) do professor que debruçou seu mestrado a estudar sobre a literatura do “matuto”.
O “conto gozado” foi Agostinho quem narrou e o personagem não era de fabulação alguma de Veiga, e sim o próprio. Já com quase 40 anos, inventou –– calma, não é o “J” –– de ir ao Ministério da Educação, no Rio mesmo, com um punhado de escritos. A história da população? Sim, ele queria publicar seus textos, ter lá seus bons leitores – com todo respeito às gavetas. Deixou com o editor a bagatela de linhas escritas e, antes mesmo que o fim do dia seguinte chegasse, se aprumou numa jornada a fim de resgatar os bons merréis, que para ele já não valiam nada. Pois, ele cumpriu sua missão e tratou de jogá-la no cesto de lixo. “Foi minha salvação ter buscado aquele envelope”, disse o personagem sobre o episódio.
Bichanos
[caption id="attachment_27363" align="alignleft" width="620"]
Veiga estreou na literatura com “Os Cavalinhos de Platiplanto” e ganhou o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra / Reprodução/Arquivo Pessoal de Luiz de Aquino[/caption]
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu peladinho da silva como qualquer outro José. Só não era da Silva. O anjo safado o predestinou a ser da casa dos Veiga. E lá nasceu, numa beirada que não era Corumbá e tampouco Pirenópolis: Sítio do Morro Grande, que só serviu de primeiro berço. O menino perambulou por bonitezas rurais doutro sitiozinho, vendinha de polonês na pequena Goyaz, voo para Londres e enamorou bibliotecas do Rio de Janeiro. E para as bibliotecas, José J. Veiga, o “matuto pra burro”, deixou sua maior herança: a literatura.
Corumbópolis
Foi num dia 2 de fevereiro que nasceu filho do verão de 1915. Era só José da Veiga. O homem não tinha inventado, ainda, a ideia de pôr um “J” lá no meio. Ainda assim, o “J” estava na certidão. Vinha de raízes maternas, da dona Marciana Jacinto Veiga, que o ensinou a graça de juntar letras e brincar de palavrear. Era afeiçoada aos livros, diferentemente do marido, o pai de Veiga, senhorzinho Luís Pereira –– que se interessava em pôr tijolo em cima de tijolo e, assim, construir casa para quem vivia em Corumbá.
Lá tinha uma escolinha, que com seus frufrus atraía a criançada. Era encadernação vistosa, não a que canta Caetano, uma outra que também enfeitava palavras. Os livros ficavam sob a guarda dum padre que, vez ou outra, abria as portas e as páginas para quem quisesse ler. Veiga era o primeiro da fila. Ali, já se avistava a semente que foi sendo aguada noutras paisagens: a do sitiozinho, onde viveu quando a mãe viu que o céu era mais azulinho que a Terra. De lá, seguiu para Goyaz. Trazia consigo seus poucos 12 anos de vida.
Em redomas literárias, vulgas bibliotecas de padres dominicanos e gabinetes que existiam na vila de 1927, dispendeu horas sobre livros. Nos seus 18, conheceu um moço vindo doutra terra: o polonês Oscar Breitbarst, a quem lhe concedeu outros cuidados para que ele frutificasse. José J. Veiga foi se fazendo aos poucos, tropeçando nas pedras no meio da vida.
Breitbarst era uma delas. Em sua vendinha de refrescos avermelhados, sabor groselha, atraía crianças e prosas de quem se amigava. Numa delas, firmou história com Veiga. O homem botou-lhe a ideia –– não a do “J” –– de ir para outros cantos, São Paulo ou Rio. Rio de Janeiro, decidiu ele com seus 400 mil réis ganhados no bolso. Sabia que ali não era só capital federal: os intelectuais, da época, lá residiam.
O Rio
Na labuta de encontrar emprego, pendengou os anos de 1930. A fadiga vinha da censura, do cerceamento instaurado por Getúlio Vargas que levou Veiga a declarar: “Acho que 10 de novembro de 1937 foi o dia em que tive mais raiva na minha vida”. Não era só espinhos, a época deu ao corumbaense bons botões profissionais. No auge de seus 30 anos, já graduado pela Faculdade Nacional de Direito, ele vivenciou as efervescentes ruas londrinas já com resquícios da 2° Guerra Mundial. Trabalhou como comentarista e tradutor de programas para o Brasil na BBC inglesa.
Na volta, conquistou bons postos do escalão jornalístico. E mais, conquistou a jovem Clérida Geada. Foi namoro digno de Biblioteca Nacional –– onde a moça o atendia gentil e charmosa. Nasceu, então, no hall literário e perdurou até o ínfimo segundo que assoprou a vida de Veiga. Estudiosa na Escola de Belas Artes, o acompanhou por 49 anos, abandonando o insosso e ocupado trabalho de vida pouco tempo depois da perda de Veiga.
Marinando os dias numa rotina de redação de jornal e passeios com a esposa, Veiga abandonou o oficio de catar feijões em obras literárias consagradas e “escrever para nada”, como dizia, e passou a “escrever a sério”. O caso é que Veiga reescrevia, desde o ginásio, a literatura de quem admirava. A prática tirou-lhe a frase: “Mais tarde descobri que isso me valeu muito”. As publicações, no entanto, se retinham à população das gavetas. No puir do tempo, decidiu aumentá-la, o que frutificou um conto gozado.
Além do real e regional
Foi numa tarde de quarta-feira, um pouco mais de quinze anos após o falecimento do “matuto pra burro” — é que ele se dizia assim; de Guimarães Rosa, seu amigo, a frase surtiu-lhe bem: “Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa”. No pormenor, a iguaria de Veiga acompanhava dose certa de ironia — não era nada de matuto e Agostinho Potenciano de Souza sabe bem disso.
Sua obra, “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, traz consigo o subtítulo “Uma Leitura da Obra de José J. da Veiga”. Leitura que, numa conversa da tarde quente de verão goiano, simplificou-se em epifania boba e maravilhosa, tal qualquer outra. O título de Agostinho diz sobre o olhar de Veiga sobre o que ele, então, vivia. O “crítico” não é mero adjetivo; está mais para substancial. A reflexão de Veiga quanto ao mundo era a obra-prima. A frase “as perguntas são mais importantes que as próprias respostas” vinha da sabedoria desconfiante (de muita coisa) do professor que debruçou seu mestrado a estudar sobre a literatura do “matuto”.
O “conto gozado” foi Agostinho quem narrou e o personagem não era de fabulação alguma de Veiga, e sim o próprio. Já com quase 40 anos, inventou –– calma, não é o “J” –– de ir ao Ministério da Educação, no Rio mesmo, com um punhado de escritos. A história da população? Sim, ele queria publicar seus textos, ter lá seus bons leitores – com todo respeito às gavetas. Deixou com o editor a bagatela de linhas escritas e, antes mesmo que o fim do dia seguinte chegasse, se aprumou numa jornada a fim de resgatar os bons merréis, que para ele já não valiam nada. Pois, ele cumpriu sua missão e tratou de jogá-la no cesto de lixo. “Foi minha salvação ter buscado aquele envelope”, disse o personagem sobre o episódio.
Bichanos
[caption id="attachment_27363" align="alignleft" width="620"] Quanto à análise da obra de José J. Veiga e qualquer especulação sobre o escritor, o professor Agostinho Potenciano diz, certeiro: “As perguntas são mais importantes que as próprias respostas” / Fernando Leite/Jornal Opção[/caption]
Era cheio deles, “recheado”, em melhor palavra. Num deles, o encontro com Rosa, o tal Guimarães. A paixão por biblioteca talvez se enciumasse pela que Veiga devotava aos bichanos bigodudos. Os gatinhos eram tão danados que, numa de adoecer, botou Veiga em prosa com Rosa, amigando-os por bons anos. Foram tão danados que, certamente, a culpa da história do “J” é toda dos adoentados.
Depois da aventura de busca, Veiga abandonou o papel de bom marido e trocou a esposa pela máquina de escrever –– ela logo compreendeu a situação. E ele varou noites amontoando novos escritos. Já tinha ali caule, copa e até frutos. Buscando as palavras do professor e também amigo de Veiga, o professor Agostinho, “se você visitar a obra de J. Veiga, certamente saberá que ‘Os Cavalinhos de Platiplanto’ é a entrada principal”. O amontoado ganhou o 2° lugar no “Prêmio Monteiro Lobato” de 1958.
Outra historieta contada na tarde de quarta é que o livro, tão aclamado pela crítica na época, só chegou às prateleiras muitos anos depois. É que a publicação pela Companhia Editora Nacional, prevista como premiação, nunca aconteceu. Foram só uns tais gatos pingados que saíram de uma primeira edição, um ano depois. E lá estava o tal “J”, todo pomposo na capa do livro. Quem contou o caso do “J” nem tinha voz alta ou coisa assim. Mas dá para imaginar que seja bem mansa e agradável, quase que com acentos de gracejos.
A voz é de Lêda Selma que pôs pompa na alegoria de Veiga. A escritora ou “simples curiosa” fez lá uma biografia da vida do escritor. A quase-epopeia foi publicada sob a edição de Hélio Moreira do livro “Memórias de Nossa Gente”, concebido pela Unicred Centro Brasileira, que traz a vida de literatos e médicos goianos. A paciência ressoa no timbre e em todas as peripécias do escritor que ambos foram encontrando em artigos, prosas com amigos próximos de Veiga — como Luiz de Aquino —, dando-lhes mais pano para manga de um homem que escapulia o real e regional.
Magia sem lugar
As perguntas, tão valorizadas pelo professor, traziam os dois “R”s no corpo do texto. Visto como escritor fantástico ou de realismo mágico, o goiano matuto viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele escapuliu do litoral brasileiro só trinta anos depois e atracou-se em Corumbá, revisitando sua infância.
Ainda que a morte o consagre “escritor goiano” e a certidão não nega –– não nega tampouco o “J” ––, Veiga escrevia de um lugar em que os homens esbravejavam mais. As relações de poder, muitas vezes revistas sob a perspectiva histórica de uma vida marcada por guerras, golpes de Estado, ditadura militar e outros conflitos, estão no cerne de suas obras. O professor autor de “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, que teve o prazer de tê-lo em sua defesa de mestrado, revela que o homenzinho lançava mais perguntas a si e aos homens de seu tempo. O lugar, a seu ver, existe; só não é o substancial. E a fantasia vinha, pois coisas indizíveis contam mais sobre a vida; a magia, no caso, era dona do substancial.
Ainda naquela quarta, dia comum de qualquer calendário, trazia consigo surpresa em capa amarela. Era encadernação de uma prova da Companhia das Letras. A editora publicará, em comemoração ao centenário de Veiga, a obra completa do escritor. Depois de lido um trecho do prefácio –– e vale lembrar o curioso fato que Veiga detestava prefácios ––, dava para jurar certo marejo nos olhos de Agostinho. Assinado por Antonio Arnoni Prado, orientador do mestrado de Agostinho, o trecho contava um detalhe do dia de defesa da dissertação.
“Ainda me lembro, a propósito, de uma manhã, ali pelo final dos anos 1980, em que fui buscá-lo num hotel de Campinas [São Paulo] para assistir a uma defesa de tese sobre sua própria obra. [...] ‘Ele saiu cedinho’, o homem foi logo me dizendo. ‘Foi andar pelas ruas do centro enquanto ainda não tem muita gente na cidade.’ E emendou: ‘Sujeito gozado aquele, não? Queria ver se encontrava cavalos e carroças circulando pelas ruas’”, escreveu Arnoni nas primeiras páginas do livro “A Hora dos Ruminantes” da Cia., que será lançado em breve.
A simplicidade estatela no ocorrido proseado e nas palavras de Agostinho sobre Veiga. Era um senhorzinho simples, que se dizia “pra burro”. Matuto, o homem desconfiava de muita coisa mesmo. Desconfiava tanto, como reconta Lêda, que meteu um “J” no nome de literato só “para equilibrá-lo”. Afinal de contas, a tal simples curiosa tem toda razão: “Tenho cá meu palpite: esse J foi cravejado entre José e Veiga também para dar-lhe ar de mistério e motivo de especulação. Eita, José J. Veiga!”.
O homem que disse ter ingressado “velho” na literatura, lá com seus 44 anos, deixou as letras de seu nome imbuídas de palavras, como a mãe bem lhe ensinara, para quem quisesse ler. Deixou num dia de domingo, já exausto de uma luta contra um câncer de pâncreas. E já era primavera toda florida de um 19 de setembro de 1999 quando foi-se o homem. Como põe Lêda, com a poesia de Rosa: José J. Veiga “ficou encantado”.
Leia um trecho do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto”, presente no livro de mesmo nome, publicado em 1959. E, para descobrir um pouco mais do universo literário e pessoal do escritor, visite o Memorial José J. Veiga, na Biblioteca Central do Sesc, em Goiânia.
O meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito criança. O meu avô Rubem havia me prometido um cavalinho de sua fazenda do Chove-Chuva se eu deixasse lancetarem o meu pé, arruinado com uma estrepada no brinquedo do pique.
Por duas vezes o farmacêutico Osmúsio estivera lá em casa com sua caixa de ferrinhos para o serviço, mas eu fiz tamanho escarcéu que ele não chegou a passar da porta do quarto. Da segunda vez meu pai pediu a seu Osmúsio que esperasse na varanda enquanto ele ia ter uma conversa comigo. Eu sabia bem que espécie de conversa seria; e aproveitando a vantagem da doença, mal ele caminhou para a cama eu comecei novamente a chorar e gritar, esperando atrair a simpatia de minha mãe e, se possível, também a de algum vizinho para reforçar. Por sorte vovô Rubem ia chegando justamente naquela hora. Quando vi a barba dele apontar na porta, compreendi que estava salvo pelo menos por aquela vez; era uma regra assentada lá em casa que ninguém devia contrariar vovô Rubem. Em todo caso chorei um pouco mais para consolidar minha vitória, e só sosseguei quando ele intimou meu pai a sair do quarto.
Vovô sentou-se na beira da cama, pôs o chapéu e a bengala ao meu lado e perguntou por que era que meu pai estava judiando comigo. Para impressioná-lo melhor eu disse que era porque eu não queria deixar seu Osmúsio cortar o meu pé.
— Cortar fora?
Não era exatamente isso o que eu tinha querido dizer, mas achei eficaz confirmar; e por prudência não falei, apenas bati a cabeça.
— Mas que malvados! Então isso se faz? Deixa eu ver.
Vovô tirou os óculos, assentou-os no nariz e começou a fazer um exame demorado de meu pé. Olhou-o por cima, por baixo, de lado, apalpou-o e perguntou se doía. Naturalmente eu não ia dizer que não, e até ainda dei uns gemidos calculados. Ele tirou os óculos, fez uma cara muito séria e disse:
— É exagero deles. Não é preciso cortar. Basta lancetar.
Ele deve ter notado o meu desapontamento, porque explicou depressa, fazendo cócega na sola do meu pé:
— Mas nessas coisas, mesmo sendo preciso, quem resolve é o dono da doença. Se você não disser que pode, eu não deixo ninguém mexer, nem o rei. Você não é mais desses menininhos de cueiro, que não têm querer. Na festa do Divino você já vai vestir um parelhinho de calça comprida que eu vou comprar, e vou lhe dar também um cavalinho pra você acompanhar a folia.
— Com arreio mexicano?
— Com arreio mexicano. Já encomendei ao Felipe. Mas tem uma coisa. Se você não ficar bom desse pé, não vai poder montar. Eu acho que o jeito é você mandar lancetar logo.
— E se doer?
— Doer? É capaz de doer um pouco, mas não chega aos pés da dor de cortar. Essa sim, é uma dor mantena. Uma vez no Chove-Chuva tivemos que cortar um dedo — só um dedo — de um vaqueiro que tinha apanhado panariz e ele urinou de dor. E era um homem forçoso, acostumado a derrubar boi pelo rabo.
Meu avô era um homem que sabia explicar tudo com clareza, sem ralhar e sem tirar a razão da gente. Foi ele mesmo que chamou seu Osmúsio, mas deixou que eu desse a ordem. Naturalmente eu chorei um pouco, não de dor, porque antes ele jogou bastante de lança-perfume, mas de conveniência, porque se eu mostrasse que não estava sentindo nada eles podiam rir de mim depois.
Quanto à análise da obra de José J. Veiga e qualquer especulação sobre o escritor, o professor Agostinho Potenciano diz, certeiro: “As perguntas são mais importantes que as próprias respostas” / Fernando Leite/Jornal Opção[/caption]
Era cheio deles, “recheado”, em melhor palavra. Num deles, o encontro com Rosa, o tal Guimarães. A paixão por biblioteca talvez se enciumasse pela que Veiga devotava aos bichanos bigodudos. Os gatinhos eram tão danados que, numa de adoecer, botou Veiga em prosa com Rosa, amigando-os por bons anos. Foram tão danados que, certamente, a culpa da história do “J” é toda dos adoentados.
Depois da aventura de busca, Veiga abandonou o papel de bom marido e trocou a esposa pela máquina de escrever –– ela logo compreendeu a situação. E ele varou noites amontoando novos escritos. Já tinha ali caule, copa e até frutos. Buscando as palavras do professor e também amigo de Veiga, o professor Agostinho, “se você visitar a obra de J. Veiga, certamente saberá que ‘Os Cavalinhos de Platiplanto’ é a entrada principal”. O amontoado ganhou o 2° lugar no “Prêmio Monteiro Lobato” de 1958.
Outra historieta contada na tarde de quarta é que o livro, tão aclamado pela crítica na época, só chegou às prateleiras muitos anos depois. É que a publicação pela Companhia Editora Nacional, prevista como premiação, nunca aconteceu. Foram só uns tais gatos pingados que saíram de uma primeira edição, um ano depois. E lá estava o tal “J”, todo pomposo na capa do livro. Quem contou o caso do “J” nem tinha voz alta ou coisa assim. Mas dá para imaginar que seja bem mansa e agradável, quase que com acentos de gracejos.
A voz é de Lêda Selma que pôs pompa na alegoria de Veiga. A escritora ou “simples curiosa” fez lá uma biografia da vida do escritor. A quase-epopeia foi publicada sob a edição de Hélio Moreira do livro “Memórias de Nossa Gente”, concebido pela Unicred Centro Brasileira, que traz a vida de literatos e médicos goianos. A paciência ressoa no timbre e em todas as peripécias do escritor que ambos foram encontrando em artigos, prosas com amigos próximos de Veiga — como Luiz de Aquino —, dando-lhes mais pano para manga de um homem que escapulia o real e regional.
Magia sem lugar
As perguntas, tão valorizadas pelo professor, traziam os dois “R”s no corpo do texto. Visto como escritor fantástico ou de realismo mágico, o goiano matuto viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele escapuliu do litoral brasileiro só trinta anos depois e atracou-se em Corumbá, revisitando sua infância.
Ainda que a morte o consagre “escritor goiano” e a certidão não nega –– não nega tampouco o “J” ––, Veiga escrevia de um lugar em que os homens esbravejavam mais. As relações de poder, muitas vezes revistas sob a perspectiva histórica de uma vida marcada por guerras, golpes de Estado, ditadura militar e outros conflitos, estão no cerne de suas obras. O professor autor de “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, que teve o prazer de tê-lo em sua defesa de mestrado, revela que o homenzinho lançava mais perguntas a si e aos homens de seu tempo. O lugar, a seu ver, existe; só não é o substancial. E a fantasia vinha, pois coisas indizíveis contam mais sobre a vida; a magia, no caso, era dona do substancial.
Ainda naquela quarta, dia comum de qualquer calendário, trazia consigo surpresa em capa amarela. Era encadernação de uma prova da Companhia das Letras. A editora publicará, em comemoração ao centenário de Veiga, a obra completa do escritor. Depois de lido um trecho do prefácio –– e vale lembrar o curioso fato que Veiga detestava prefácios ––, dava para jurar certo marejo nos olhos de Agostinho. Assinado por Antonio Arnoni Prado, orientador do mestrado de Agostinho, o trecho contava um detalhe do dia de defesa da dissertação.
“Ainda me lembro, a propósito, de uma manhã, ali pelo final dos anos 1980, em que fui buscá-lo num hotel de Campinas [São Paulo] para assistir a uma defesa de tese sobre sua própria obra. [...] ‘Ele saiu cedinho’, o homem foi logo me dizendo. ‘Foi andar pelas ruas do centro enquanto ainda não tem muita gente na cidade.’ E emendou: ‘Sujeito gozado aquele, não? Queria ver se encontrava cavalos e carroças circulando pelas ruas’”, escreveu Arnoni nas primeiras páginas do livro “A Hora dos Ruminantes” da Cia., que será lançado em breve.
A simplicidade estatela no ocorrido proseado e nas palavras de Agostinho sobre Veiga. Era um senhorzinho simples, que se dizia “pra burro”. Matuto, o homem desconfiava de muita coisa mesmo. Desconfiava tanto, como reconta Lêda, que meteu um “J” no nome de literato só “para equilibrá-lo”. Afinal de contas, a tal simples curiosa tem toda razão: “Tenho cá meu palpite: esse J foi cravejado entre José e Veiga também para dar-lhe ar de mistério e motivo de especulação. Eita, José J. Veiga!”.
O homem que disse ter ingressado “velho” na literatura, lá com seus 44 anos, deixou as letras de seu nome imbuídas de palavras, como a mãe bem lhe ensinara, para quem quisesse ler. Deixou num dia de domingo, já exausto de uma luta contra um câncer de pâncreas. E já era primavera toda florida de um 19 de setembro de 1999 quando foi-se o homem. Como põe Lêda, com a poesia de Rosa: José J. Veiga “ficou encantado”.
Leia um trecho do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto”, presente no livro de mesmo nome, publicado em 1959. E, para descobrir um pouco mais do universo literário e pessoal do escritor, visite o Memorial José J. Veiga, na Biblioteca Central do Sesc, em Goiânia.
O meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito criança. O meu avô Rubem havia me prometido um cavalinho de sua fazenda do Chove-Chuva se eu deixasse lancetarem o meu pé, arruinado com uma estrepada no brinquedo do pique.
Por duas vezes o farmacêutico Osmúsio estivera lá em casa com sua caixa de ferrinhos para o serviço, mas eu fiz tamanho escarcéu que ele não chegou a passar da porta do quarto. Da segunda vez meu pai pediu a seu Osmúsio que esperasse na varanda enquanto ele ia ter uma conversa comigo. Eu sabia bem que espécie de conversa seria; e aproveitando a vantagem da doença, mal ele caminhou para a cama eu comecei novamente a chorar e gritar, esperando atrair a simpatia de minha mãe e, se possível, também a de algum vizinho para reforçar. Por sorte vovô Rubem ia chegando justamente naquela hora. Quando vi a barba dele apontar na porta, compreendi que estava salvo pelo menos por aquela vez; era uma regra assentada lá em casa que ninguém devia contrariar vovô Rubem. Em todo caso chorei um pouco mais para consolidar minha vitória, e só sosseguei quando ele intimou meu pai a sair do quarto.
Vovô sentou-se na beira da cama, pôs o chapéu e a bengala ao meu lado e perguntou por que era que meu pai estava judiando comigo. Para impressioná-lo melhor eu disse que era porque eu não queria deixar seu Osmúsio cortar o meu pé.
— Cortar fora?
Não era exatamente isso o que eu tinha querido dizer, mas achei eficaz confirmar; e por prudência não falei, apenas bati a cabeça.
— Mas que malvados! Então isso se faz? Deixa eu ver.
Vovô tirou os óculos, assentou-os no nariz e começou a fazer um exame demorado de meu pé. Olhou-o por cima, por baixo, de lado, apalpou-o e perguntou se doía. Naturalmente eu não ia dizer que não, e até ainda dei uns gemidos calculados. Ele tirou os óculos, fez uma cara muito séria e disse:
— É exagero deles. Não é preciso cortar. Basta lancetar.
Ele deve ter notado o meu desapontamento, porque explicou depressa, fazendo cócega na sola do meu pé:
— Mas nessas coisas, mesmo sendo preciso, quem resolve é o dono da doença. Se você não disser que pode, eu não deixo ninguém mexer, nem o rei. Você não é mais desses menininhos de cueiro, que não têm querer. Na festa do Divino você já vai vestir um parelhinho de calça comprida que eu vou comprar, e vou lhe dar também um cavalinho pra você acompanhar a folia.
— Com arreio mexicano?
— Com arreio mexicano. Já encomendei ao Felipe. Mas tem uma coisa. Se você não ficar bom desse pé, não vai poder montar. Eu acho que o jeito é você mandar lancetar logo.
— E se doer?
— Doer? É capaz de doer um pouco, mas não chega aos pés da dor de cortar. Essa sim, é uma dor mantena. Uma vez no Chove-Chuva tivemos que cortar um dedo — só um dedo — de um vaqueiro que tinha apanhado panariz e ele urinou de dor. E era um homem forçoso, acostumado a derrubar boi pelo rabo.
Meu avô era um homem que sabia explicar tudo com clareza, sem ralhar e sem tirar a razão da gente. Foi ele mesmo que chamou seu Osmúsio, mas deixou que eu desse a ordem. Naturalmente eu chorei um pouco, não de dor, porque antes ele jogou bastante de lança-perfume, mas de conveniência, porque se eu mostrasse que não estava sentindo nada eles podiam rir de mim depois.

Mesmo aposentado, profissional vai à Deic todos os dias e atua na parte de atendimento


