Imprensa
 O jornalismo do “Em Pauta”, da Globo News, parece leve e, portanto, superficial. De fato, aqui e ali, há comentários perfunctórios sobre política, economia, cinema, livros — quase no estilo do Faustão: “o melhor do país”. Mas os comentários de Eliane Cantanhêde, Gerson Camarotti, Mara Luquet (mesmo quando incentiva a investir, recomenda cautela, bom senso) e, sobretudo, Jorge Pontual.
O jornalismo do “Em Pauta”, da Globo News, parece leve e, portanto, superficial. De fato, aqui e ali, há comentários perfunctórios sobre política, economia, cinema, livros — quase no estilo do Faustão: “o melhor do país”. Mas os comentários de Eliane Cantanhêde, Gerson Camarotti, Mara Luquet (mesmo quando incentiva a investir, recomenda cautela, bom senso) e, sobretudo, Jorge Pontual.
 Quem diria: o mineiro Jorge Pontual [acima], 67 anos em novembro, com sua cara de menino travesso, talvez tímido por se expor tanto num programa de massa, é o charme do programa. Ele informa com competência, se envolve com aquilo que pesquisou e está revelando para os leitores, e tem cultura. Além disso, sua graça parece espontânea e não raro tem tutano para enfrentar o politicamente correto. É um Paulo Francis aristocrata.
Guga Chacra, o garoto (fora do lugar) da turma, além da voz irritante, não treinada para a comunicação com o público televisual, divulga informações como se fosse um robô, quer dizer, como se não tivesse assimilado aquilo que está propagando. Parece que sabe das coisas, mas tem dificuldade de processar e sintetizar as informações. Quando Guga Chacra aparece no lugar de Jorge Pontual, dado o revezamento da equipe, o “Em Pauta” fica fragilizado, meio, digamos, “Sem Pauta”.
Eliane Cantanhêde começou hesitante, titubeando — era (e é) um profissional mais de jornais impressos, agora está no “Estadão”, e muito bem, motivada —, é uma comentarista do primeiro time. No momento, só está perdendo terreno, se está, para a excelente Renata lo Prete. Fica-se com a impressão, quando se ouve Lo Prete falando, explicando os fatos, arrancando-lhe a alma, que nasceu para a televisão. A ex-ombudsman da “Folha de S. Paulo” consegue entender e explicar os fatos com rapidez e inteligência, com segurança e isenção. Craquíssima.
Gerson Camarotti, com a aquela bochechona de padre velho e gordo e sua fala pausada e cansativa, é, acima de tudo, um excelente repórter. Ele é seguro e bem informado.
Quem diria: o mineiro Jorge Pontual [acima], 67 anos em novembro, com sua cara de menino travesso, talvez tímido por se expor tanto num programa de massa, é o charme do programa. Ele informa com competência, se envolve com aquilo que pesquisou e está revelando para os leitores, e tem cultura. Além disso, sua graça parece espontânea e não raro tem tutano para enfrentar o politicamente correto. É um Paulo Francis aristocrata.
Guga Chacra, o garoto (fora do lugar) da turma, além da voz irritante, não treinada para a comunicação com o público televisual, divulga informações como se fosse um robô, quer dizer, como se não tivesse assimilado aquilo que está propagando. Parece que sabe das coisas, mas tem dificuldade de processar e sintetizar as informações. Quando Guga Chacra aparece no lugar de Jorge Pontual, dado o revezamento da equipe, o “Em Pauta” fica fragilizado, meio, digamos, “Sem Pauta”.
Eliane Cantanhêde começou hesitante, titubeando — era (e é) um profissional mais de jornais impressos, agora está no “Estadão”, e muito bem, motivada —, é uma comentarista do primeiro time. No momento, só está perdendo terreno, se está, para a excelente Renata lo Prete. Fica-se com a impressão, quando se ouve Lo Prete falando, explicando os fatos, arrancando-lhe a alma, que nasceu para a televisão. A ex-ombudsman da “Folha de S. Paulo” consegue entender e explicar os fatos com rapidez e inteligência, com segurança e isenção. Craquíssima.
Gerson Camarotti, com a aquela bochechona de padre velho e gordo e sua fala pausada e cansativa, é, acima de tudo, um excelente repórter. Ele é seguro e bem informado.
 Bete Pacheco [acima]é tão linda e charmosa — este comentário é mesmo idiossincrático — que nem sempre acompanhamos o que está falando. Se a objetividade entra em questão, aí percebe-se que Bete Pacheco é mais repórter do que comentarista. Mesmo quando aparentemente está comentando, opinando, na verdade está reportando. Falta opinião e firmeza nos seus comentários. Não é, mas às vezes sua divulgação cultural soa como publicidade.
Bete Pacheco [acima]é tão linda e charmosa — este comentário é mesmo idiossincrático — que nem sempre acompanhamos o que está falando. Se a objetividade entra em questão, aí percebe-se que Bete Pacheco é mais repórter do que comentarista. Mesmo quando aparentemente está comentando, opinando, na verdade está reportando. Falta opinião e firmeza nos seus comentários. Não é, mas às vezes sua divulgação cultural soa como publicidade.
 Sérgio Aguiar [acima] é simpático, rápido no gatilho e nenhum outro jornalista da Globo News apresenta o programa tão bem. Ele é um dos responsáveis pelo “clima” descontraído do “Em Pauta”.
Sérgio Aguiar [acima] é simpático, rápido no gatilho e nenhum outro jornalista da Globo News apresenta o programa tão bem. Ele é um dos responsáveis pelo “clima” descontraído do “Em Pauta”.
O deputado Wanderley Dallas “apresentou um projeto que propõe transformar palavras como ‘piroca’, ‘cabaço’, ‘baitola’, ‘pinguelo’ e ‘xibiu’ em patrimônio imaterial do Estado”
 “Vício Inerente”, filme de Paul Thomas Anderson, com Joaquin Phoenix e Josh Brolin, não entrou em cartaz nos cinemas de Goiânia. É provável que nem entre, ou, se entrar, fique apenas uma semana, se ficar. Quem aprecia cinema de certa qualidade não deve ter apreço algum pelos programadores de filmes da capital construída por Pedro Ludovico. O “filme” (reluto em pôr aspas, mas, depois de consultar os críticos de cinema Iúri Rincon Godinho e Adalberto de Queiroz, decido colocá-las) “O Vingadores 2 — Era de Ultron”, dirigido por Joss Whedon (será que alguém precisa dirigir uma joça dessa?!), será exibido em 24 salas de cinema da cidade! Duas exclamações num texto de jornal não pegam bem. Ora, o que não pega bem é exibir um filme deste naipe em tantas salas. É uma verdadeira ode à estupidade, diria Mário de Andrade.
O crítico e cinéfilo Lisandro Nogueira, que entende de cinema, não diz nada, não faz nenhum protesto. Espero que o André Lcd, o Marcelo Franco, o Ademir Luiz, a Candice Marques, o Arthur de Lucca (autor do livro jamais escrito “Porque o Cinema Não é Arte”) e o Danin Júnior, vingadores da arte, saquem suas armas e comecem uma “vingança” urgente.
Os jornais não vão protestar. Estão paralisados.
“Vício Inerente”, filme de Paul Thomas Anderson, com Joaquin Phoenix e Josh Brolin, não entrou em cartaz nos cinemas de Goiânia. É provável que nem entre, ou, se entrar, fique apenas uma semana, se ficar. Quem aprecia cinema de certa qualidade não deve ter apreço algum pelos programadores de filmes da capital construída por Pedro Ludovico. O “filme” (reluto em pôr aspas, mas, depois de consultar os críticos de cinema Iúri Rincon Godinho e Adalberto de Queiroz, decido colocá-las) “O Vingadores 2 — Era de Ultron”, dirigido por Joss Whedon (será que alguém precisa dirigir uma joça dessa?!), será exibido em 24 salas de cinema da cidade! Duas exclamações num texto de jornal não pegam bem. Ora, o que não pega bem é exibir um filme deste naipe em tantas salas. É uma verdadeira ode à estupidade, diria Mário de Andrade.
O crítico e cinéfilo Lisandro Nogueira, que entende de cinema, não diz nada, não faz nenhum protesto. Espero que o André Lcd, o Marcelo Franco, o Ademir Luiz, a Candice Marques, o Arthur de Lucca (autor do livro jamais escrito “Porque o Cinema Não é Arte”) e o Danin Júnior, vingadores da arte, saquem suas armas e comecem uma “vingança” urgente.
Os jornais não vão protestar. Estão paralisados.
Passou o tempo da beleza a todo custo. Cuidar da aparência para elevar a autoestima é decisão que deve ser pensada em criteriosos debates entre médico e paciente
O professor de Oxford escreveu livros seminais sobre a Revolução e a Guerra Civil Espanhola
Insistência do Sintego em reviver nesta greve práticas e discursos que objetivam a manutenção do servilismo ao Paço afasta-o ainda mais da categoria
 Vi Cláudio Cunha em ação pelo menos duas vezes e amigos que entendem de teatro diziam: “É um canastrão”. É provável que eles tinham-têm razão. Mesmo assim, diverti-me com sua interpretação precisa de “O Analista de Bagé”, texto do escritor Luis Fernando Verissimo. Ele fazia um analista machão, durão e, até, meio cafajeste. Sobretudo, era convincente e, apesar dos excessos — o texto foi se tornando mais abusado-modernizado ao longo do tempo —, as histórias eram muito boas. Mas era a interpretação de Cláudio Cunha, enfático e excessivo, que coloria o trabalho do filho de Erico Verissimo. Durante 30 anos — chegou até ao livro dos recordes —, o ator interpretou o “analista”. O país não poderá vê-lo mais em ação, pois morreu na segunda-feira, 20, aos 68 anos, em decorrência de um infarto.
[Foto: divulgação]
Vi Cláudio Cunha em ação pelo menos duas vezes e amigos que entendem de teatro diziam: “É um canastrão”. É provável que eles tinham-têm razão. Mesmo assim, diverti-me com sua interpretação precisa de “O Analista de Bagé”, texto do escritor Luis Fernando Verissimo. Ele fazia um analista machão, durão e, até, meio cafajeste. Sobretudo, era convincente e, apesar dos excessos — o texto foi se tornando mais abusado-modernizado ao longo do tempo —, as histórias eram muito boas. Mas era a interpretação de Cláudio Cunha, enfático e excessivo, que coloria o trabalho do filho de Erico Verissimo. Durante 30 anos — chegou até ao livro dos recordes —, o ator interpretou o “analista”. O país não poderá vê-lo mais em ação, pois morreu na segunda-feira, 20, aos 68 anos, em decorrência de um infarto.
[Foto: divulgação]
É preciso respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. É importante porque aparentemente a defesa no Brasil se tornou um meio dispensável e muitas vezes ignorado
 Manoel de Souza [foto, de seu Facebook], operador de imagem, deixou “O Popular” na segunda-feira, 20. Numa carta (dolorosa mas bela) divulgada aos colegas e amigos, ele escreveu: “Nunca imaginei que este momento chegaria tão rápido, apesar de vários anos já terem se passado, parece que foi ontem que recebi aquelas boas vindas tão lindamente”.
Manoel de Souza [foto, de seu Facebook], operador de imagem, deixou “O Popular” na segunda-feira, 20. Numa carta (dolorosa mas bela) divulgada aos colegas e amigos, ele escreveu: “Nunca imaginei que este momento chegaria tão rápido, apesar de vários anos já terem se passado, parece que foi ontem que recebi aquelas boas vindas tão lindamente”.
 O operador de imagem conta que entrou no jornal em 18 de outubro de 1994, há quase 21 anos. Colegas consultados por e-mail e Facebook dizem que se trata de um “profissional correto e consciencioso”.
A editora-chefe de “O Popular”, Cileide Alves, havia dito aos colegas — depois das demissões dos jornalistas Karla Jaime, Rosângela Chaves, Wanderley de Faria e João Carlos de Faria — que não seriam feitas novas demissões.
O mais provável é que a editora não esteja em condições, dado o processo de contenção de despesas da empresa, de prestar informações objetivas e “otimistas” aos colegas que ficaram.
O operador de imagem conta que entrou no jornal em 18 de outubro de 1994, há quase 21 anos. Colegas consultados por e-mail e Facebook dizem que se trata de um “profissional correto e consciencioso”.
A editora-chefe de “O Popular”, Cileide Alves, havia dito aos colegas — depois das demissões dos jornalistas Karla Jaime, Rosângela Chaves, Wanderley de Faria e João Carlos de Faria — que não seriam feitas novas demissões.
O mais provável é que a editora não esteja em condições, dado o processo de contenção de despesas da empresa, de prestar informações objetivas e “otimistas” aos colegas que ficaram.
 O brasileiro Lyoto Machida perdeu para o americano Luke Rockhold na luta em que parecia um pouco diferente — relativamente mais ofensivo. Mas, na madrugada de sábado para domingo, quem quis uma luta de boxe de alto nível, disputadíssima, precisou recorrer ao canal Fox. Lá, sem que os jornais e sites brasileiros vissem e divulgassem, ocorreu uma batalha sensacional entre o argentino Lucas Matthysse, de 32 anos, e o russo Ruslan Provodnikov, de 31 anos.
Matthysse, a “Máquina” — porque não para de bater, sempre de maneira intensa —, e Provodnikov fizeram uma luta que merece figurar entre as melhores da história. Depois de 12 rounds, Matthysse venceu por pontos, com méritos. Mas, se o resultado fosse empate, é provável que nem o argentino reclamasse.
O argentino bateu muito nos primeiros rounds, mas Provodnikov, no lugar de se intimidar e de mostrar fraqueza, a cada round partia para cima. Nos rounds finais, Matthysse chegou a dobrar as pernas.
O brasileiro Lyoto Machida perdeu para o americano Luke Rockhold na luta em que parecia um pouco diferente — relativamente mais ofensivo. Mas, na madrugada de sábado para domingo, quem quis uma luta de boxe de alto nível, disputadíssima, precisou recorrer ao canal Fox. Lá, sem que os jornais e sites brasileiros vissem e divulgassem, ocorreu uma batalha sensacional entre o argentino Lucas Matthysse, de 32 anos, e o russo Ruslan Provodnikov, de 31 anos.
Matthysse, a “Máquina” — porque não para de bater, sempre de maneira intensa —, e Provodnikov fizeram uma luta que merece figurar entre as melhores da história. Depois de 12 rounds, Matthysse venceu por pontos, com méritos. Mas, se o resultado fosse empate, é provável que nem o argentino reclamasse.
O argentino bateu muito nos primeiros rounds, mas Provodnikov, no lugar de se intimidar e de mostrar fraqueza, a cada round partia para cima. Nos rounds finais, Matthysse chegou a dobrar as pernas.
“O Popular” extinguiu o “Suplemento do Campo”. “As notícias sobre agronegócio serão publicadas diariamente no primeiro caderno no jornal e no site do ‘Popular’”, explicou a direção numa nota. “A mudança atende uma demanda do setor”, afirma. Quer dizer, no lugar de informações semanais, notícias diárias. Curiosamente, as notícias diárias sobre o agronegócio já eram publicadas no primeiro caderno.
O “Suplemento do Campo” morreu aos 27 anos. Foi criado em 1988.

 A Record lança “Uma História do FBI” (616 páginas, tradução de Alessandra Bonrruquer), do jornalista Tim Weiner, premiado com o Pulitzer. Há vários estudos sobre o FBI, mas o de Tim Weiner, repórter do “New York Times”, é considerado o mais amplo e atualizado. O FBI tem um pé fincado na legalidade e, para defendê-lo, põe o outro pé na ilegalidade.
No caso do 11 de Setembro, o FBI e a CIA falharam olimpicamente.
A Record lança “Uma História do FBI” (616 páginas, tradução de Alessandra Bonrruquer), do jornalista Tim Weiner, premiado com o Pulitzer. Há vários estudos sobre o FBI, mas o de Tim Weiner, repórter do “New York Times”, é considerado o mais amplo e atualizado. O FBI tem um pé fincado na legalidade e, para defendê-lo, põe o outro pé na ilegalidade.
No caso do 11 de Setembro, o FBI e a CIA falharam olimpicamente.

[caption id="attachment_33348" align="alignright" width="620"] Tom Jobim: o músico brasileiro, visto como quase americano nos Estados Unidos, é mencionado positivamente pelo romancistaThomas Pynchon[/caption]
O romance “Vício Inerente” (Companhia das Letras, 459 páginas, tradução de Caetano W. Galindo), de Thomas Pynchon, é uma divertida e, às vezes, precisa história dos anos psicodélicos-maconheiros-hippongos da década de 1970. Mesmo quem não viveu intensamente os anos 70 — sexo, drogas e rock’n’roll — perceberá o quanto Thomas Pynchon descreve bem o período. Se o filme homônimo, de Paul Thomas Anderson, captar cerca de 50% do ambiente febril e habilmente descrito pelo prosador já vale a pena vê-lo.
Sob o pretexto de contar uma história de detetive — pode-se sugerir que se trata de uma sátira aos autores que escrevem romances policiais —, no caso Larry Sportello, o Doc, Thomas Pynchon conta, por meio de uma linguagem fina e aguçada, a história da década de 1970 a partir de uma descrição atenta do comportamento dos indivíduos e de sua arte, notadamente, a música. Um dos pontos fortes são os comentários musicais. A música de Tom Jobim — “Desafinado” e “Samba do avião” — ganha destaque.
[caption id="attachment_33349" align="alignright" width="300"]
Tom Jobim: o músico brasileiro, visto como quase americano nos Estados Unidos, é mencionado positivamente pelo romancistaThomas Pynchon[/caption]
O romance “Vício Inerente” (Companhia das Letras, 459 páginas, tradução de Caetano W. Galindo), de Thomas Pynchon, é uma divertida e, às vezes, precisa história dos anos psicodélicos-maconheiros-hippongos da década de 1970. Mesmo quem não viveu intensamente os anos 70 — sexo, drogas e rock’n’roll — perceberá o quanto Thomas Pynchon descreve bem o período. Se o filme homônimo, de Paul Thomas Anderson, captar cerca de 50% do ambiente febril e habilmente descrito pelo prosador já vale a pena vê-lo.
Sob o pretexto de contar uma história de detetive — pode-se sugerir que se trata de uma sátira aos autores que escrevem romances policiais —, no caso Larry Sportello, o Doc, Thomas Pynchon conta, por meio de uma linguagem fina e aguçada, a história da década de 1970 a partir de uma descrição atenta do comportamento dos indivíduos e de sua arte, notadamente, a música. Um dos pontos fortes são os comentários musicais. A música de Tom Jobim — “Desafinado” e “Samba do avião” — ganha destaque.
[caption id="attachment_33349" align="alignright" width="300"]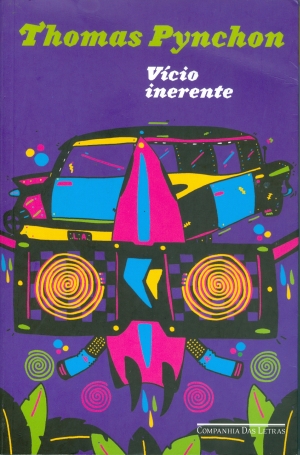 O romance Vício Inerente, de Thomas Pynchon, é uma poderosa
O romance Vício Inerente, de Thomas Pynchon, é uma poderosa
interpretação comportamental e cultural da década de 1970[/caption]
Trecho das páginas 200 e 201: “Carros passavam com as janelas abertas e dava para ouvir pandeiros lá dentro marcando o tempo do que quer que estivesse no rádio. Jukeboxes tocavam nas cafeterias das esquinas, e violões e harmônicas em quintaizinhos de prédios de apartamentos. Por todo esse pedaço de encosta noturna havia música. Lentamente, em algum ponto à frente dele, Doc tomou consciência de saxofones e de um gigantesco naipe de percussão. Alguma coisa de Antonio Carlos Jobim, que se revelou estar vindo de um bar brasileiro chamado O Jangadeiro”.
“Alguém estava fazendo um solo de tenor, e Doc, num palpite, decidiu pôr a cabeça ali dentro, onde uma multidão considerável estava dançando, fumando, bebendo, e vendendo os seus serviços, e ao mesmo tempo ouvindo respeitosamente os músicos, entre os quais Doc, não muito surpreso, reconheceu Coy Harlingen. A mudança da sombra lamurienta que ele tinha visto pela última vez em Topanga era impressionante, Coy estava de pé, com a parte de cima do corpo sustentada em um arco atento em torno do instrumento, suando, dedos soltos, arrebatado. A música era ‘Desafinado’”.
Na página 203, o narrador volta à música de Tom Jobim: “Os músicos estavam pingando no palco de novo, e quando Doc percebeu, Coy estava mergulhando em um complexo arranjo improvisado de ‘Samba do Avião’, como se isso fosse tudo que ele achava que tinha para pôr entre si e o jeito com que, achava, tinha fodido a sua vida”. Coy Harlingen é saxofonista.
A tradução é quase perfeita, com erros de revisão que não atrapalham a leitura: “a” entourage (“o”) e “divido” (dividido). E mais alguns. Suponho que transpor a literatura de Pynchon seja um trabalho de Hércules. Percebe-se que Caetano Galindo quase cria uma “língua” — busca equivalentes em português (“bicho”, “ai cacilda”, “surfadélico”, “mermão”, “hippiefóbico”, “salto-altando embora”) para a gíria americana — para decifrar Thomas Pynchon.
O autor de “O Arco-Íris da Gravidade” e “Vineland” pode ser mais bem entendido na era Google. Sem o Google e outros sites de busca, e mesmo com consulta a enciclopédias, era praticamente impossível entender sua prosa enviesada, rica em menções à cultura americana — no sentido amplo mesmo, e não livresco.

[caption id="attachment_33339" align="alignright" width="257"] “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano: livro renegado e
“As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano: livro renegado e
ruim de um autor devotado mais à
mudança social do que à interpretação
rigorosa dos fatos históricos[/caption]
Na década de 1980, os estudantes eram divididos assim: revolucionários (PC do B), reformistas (PCB e PT), reacionários (que não pertenciam à esquerda) e alienados.
Alienados eram aqueles que preferiam estudar a participar das reuniões das tendências estudantis e dos partidos que as dirigiam. Nessa categoria, vista como maus olhos — só menos mal vista do que os agentes infiltrados —, no curso de História da Católica, a Universidade Católica de Goiás (UCG) — estavam, entre outros, Antônio Luiz de Souza (brilhante, hoje professor da PUC e do WR), Sérgio Murilo (aluno questionador, hoje advogado atuante) e eu. Nós três éramos vistos como “sem ideologia”, porque, denunciavam, líamos “tudo”, e não tínhamos interesse algum pelas “cartilhas” de Stálin e Enver Hoxha — então guias geniais do PC do B. Mas não deixamos de ler, é claro, dois manuais do sub-do-sub: “As Veias Abertas da América Latina”, do uruguaio Eduardo Galeano, e “Genocídio Americano — A Guerra do Paraguai”, de Júlio José Chiavenato.
Na época, o historiador Francisco Doratioto ainda não havia publicado o excelente livro “Maldita Guerra — Nova história da Guerra do Paraguai”. Mesmo assim, suspeitávamos do livro de Chiavenato, dados seu primarismo e, sobretudo, sensacionalismo.
Mas o livro que primeiro nos encantou e, depois, nos desencantou foi mesmo “Veias Abertas”. Porque era uma interpretação geral da América Latina, com “amplo” painel — “integrador” — da história da região e sua inserção na história universal. Lembro-me de, um dia, sentado na calçada da Faculdade de História — o nome era outro, mas é assim que a chamo —, quando o padre Luís Palacín, historiador espanhol que eu admirava e com quem discutia a literatura de Liev Tolstói, passou, sempre apressado, com suas “pernaltas” e magreza franciscana (era jesuíta), me viu com “Veias Abertas” e perguntou: “Está lendo?”. “Estou”, respondi. “Que pena!”, lamentou. No dia seguinte, Palacín, com sua discrição habitual, me sugeriu a leitura de “História da América Latina”, do historiador argentino Tulio Halperin Donghi. Li. De fato, é muito melhor. É um estudo rigoroso, não é um livro de combate direto às ditaduras latino-americanas e seus apoiadores externos — leia-se Estados Unidos. Na década de 1980, para a esquerda, não importava tanto a seriedade dos estudos, e sim o engajamento político-ideológico de seus autores. Se fossem de esquerda, poderiam cometer erros, falsear dados, esquematizar a análise, e, mesmo assim, seriam lidos, usados no dia a dia e “perdoados”.
Aos poucos, percebemos que “Veias Abertas” não se tratava de um livro de interpretação da história da América Latina — que parte da esquerda depreciava, chamando de “Latrina” —, e sim de um livro de combate, um manual revolucionário disfarçado de livro sério. Um roteiro para a ação e um “ataque” ao imperialismo.
Mais tarde, o próprio Eduardo Galeano — que morreu na semana passada — renegou o livro, sugerindo que era “esquemático” e “tedioso” e que, na época, não tinha a formação intelectual adequada para formular uma análise tão abrangente, que demandava pesquisas sérias.
Pesquisas que não havia feito e, por isso, substituía-as por opiniões radicais. Como dissemos, trata-se de um livro escrito para ser uma guia de orientação da esquerda. Uma arma de combate intelectual e um manual para a ação política contra governos pró-americanos. Por isso o livro, datado, “morreu”. Não é como “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre, “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda, “Formação do Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado Júnior, e “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro — obras sólidas, que podem ser questionadas mas não renegadas.
O que Eduardo Galeano tem de melhor é sua prosa sobre futebol e assuntos tão leves quanto.
Risíveis são acadêmicos que passaram a vida toda acreditando nas ideias de Eduardo Galeano tentando justificá-lo, quando o próprio jornalista e escritor não queria nem aceitava mais fazê-lo. Eles deveriam fazer o mesmo que o uruguaio: admitir a baixa qualidade da obra. Galeano disse que, se tivesse de lê-la novamente, desmaiaria de tédio. A esquerda já havia sido enganada antes pelo “filósofo” francês Louis Althusser, que também teve de desmascarar-se para que os esquerdistas passassem a vê-lo como empulhador.

[caption id="attachment_33336" align="alignright" width="620"] Günter Grass é autor de um grande romance, “O Tambor”, que foi levado ao cinema[/caption]
Tornar-se um par de Goethe, Heine, Kafka, Rilke, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch e Elias Canetti, escritores de língua alemã, não é nada fácil. Kafka era tcheco; Rilke (nascido em Praga), Musil e Broch, austríacos; Canetti, búlgaro; e Goethe, Heine e Mann, alemães. Em comum três coisas: a língua alemã, a força literária de seus livros e a vitalidade de suas ideias.
Günter Grass, Nobel de Literatura, morreu na segunda-feira, 13, aos 87 anos, e deixou obras-primas, sobretudo “O Tambor”, de 1959. Pode ser colocado ao lado — como espécie de porta-voz informal da consciência da Alemanha — de Goethe e Mann? Se posto ao lado, fica de pé?
Equilibrar-se ao lado de Goethe e Mann, os dois maiores gênios da literatura da Alemanha, com Heine na cola, é possível? Talvez não seja possível dizer que Günter Grass estivesse à altura do trio. Numa “disputa” com Mann, autor de “A Montanha Mágica”, ficaria, por certo, num honroso segundo lugar. “O Tambor” é quase uma obra de Mann — próxima, quem sabe, de “Doutor Fausto” — escrita por... Günter Grass. O romance narra a história de um garoto, Oskar, que não quer crescer. Por que tornar-se adulto sob o nazismo, servindo àquilo, o vilipêndio, de que se discorda? Para além da mensagem política, a crítica ao totalitarismo, trata-se de um romance muito bem escrito e imaginado.
“Um Vasto Campo”, de 1995, trata da reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Como sua perspectiva não é nada convencional, o autor permaneceu de esquerda, desagradou muita gente, como o crítico Marcel Reich-Ranicki, que chegou a rasgar um exemplar, ganhando a capa da revista “Spiegel”. A autobiografia “Descascando a Cebola”, de 2006, provocou polêmica internacional, pois o veterano combatente da esquerda admitiu pela primeira vez que, quando jovem, na Segunda Guerra Mundial, havia pertencido à SS nazista. Leitores incautos começaram a avaliá-lo não pela obra e pela conduta de uma vida, e sim pela revelação de que havia sido militante — melhor dizer, soldado — nazista. Na época, Günter Grass era um garoto e, mesmo que não quisesse, teria de servir ao seu país, quer dizer, ao regime de Adolf Hitler. Por que Günter Grass demorou a contar a história? Estaria elaborando a forma de contá-la? Não queria que um pesquisador a relatasse primeiro? É provável. Poderia, porém, ter deixado a história para ser publicada depois de morrer, o que evitaria certo sofrimento. O escritor preferiu publicá-la e aguentar as consequências.
Günter Grass é autor de um grande romance, “O Tambor”, que foi levado ao cinema[/caption]
Tornar-se um par de Goethe, Heine, Kafka, Rilke, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch e Elias Canetti, escritores de língua alemã, não é nada fácil. Kafka era tcheco; Rilke (nascido em Praga), Musil e Broch, austríacos; Canetti, búlgaro; e Goethe, Heine e Mann, alemães. Em comum três coisas: a língua alemã, a força literária de seus livros e a vitalidade de suas ideias.
Günter Grass, Nobel de Literatura, morreu na segunda-feira, 13, aos 87 anos, e deixou obras-primas, sobretudo “O Tambor”, de 1959. Pode ser colocado ao lado — como espécie de porta-voz informal da consciência da Alemanha — de Goethe e Mann? Se posto ao lado, fica de pé?
Equilibrar-se ao lado de Goethe e Mann, os dois maiores gênios da literatura da Alemanha, com Heine na cola, é possível? Talvez não seja possível dizer que Günter Grass estivesse à altura do trio. Numa “disputa” com Mann, autor de “A Montanha Mágica”, ficaria, por certo, num honroso segundo lugar. “O Tambor” é quase uma obra de Mann — próxima, quem sabe, de “Doutor Fausto” — escrita por... Günter Grass. O romance narra a história de um garoto, Oskar, que não quer crescer. Por que tornar-se adulto sob o nazismo, servindo àquilo, o vilipêndio, de que se discorda? Para além da mensagem política, a crítica ao totalitarismo, trata-se de um romance muito bem escrito e imaginado.
“Um Vasto Campo”, de 1995, trata da reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Como sua perspectiva não é nada convencional, o autor permaneceu de esquerda, desagradou muita gente, como o crítico Marcel Reich-Ranicki, que chegou a rasgar um exemplar, ganhando a capa da revista “Spiegel”. A autobiografia “Descascando a Cebola”, de 2006, provocou polêmica internacional, pois o veterano combatente da esquerda admitiu pela primeira vez que, quando jovem, na Segunda Guerra Mundial, havia pertencido à SS nazista. Leitores incautos começaram a avaliá-lo não pela obra e pela conduta de uma vida, e sim pela revelação de que havia sido militante — melhor dizer, soldado — nazista. Na época, Günter Grass era um garoto e, mesmo que não quisesse, teria de servir ao seu país, quer dizer, ao regime de Adolf Hitler. Por que Günter Grass demorou a contar a história? Estaria elaborando a forma de contá-la? Não queria que um pesquisador a relatasse primeiro? É provável. Poderia, porém, ter deixado a história para ser publicada depois de morrer, o que evitaria certo sofrimento. O escritor preferiu publicá-la e aguentar as consequências.

