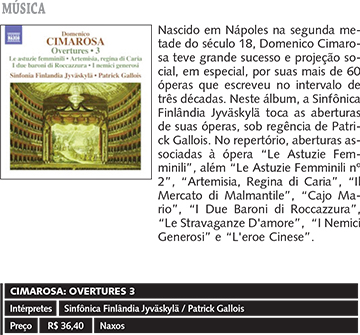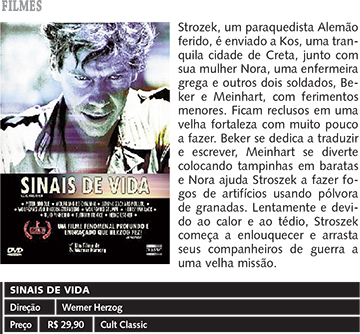Opção cultural

Se o livro é belo, seu significado é terrível. No cosmos de Herman Melville, os homens são quase sempre ilhas e embarcações para si mesmos
Escrito em 1905 e publicado em 1914, no livro de contos “Dublinenses”, o texto narra a história de uma jovem apaixonada vivendo sob o olhar reprovador da mãe

Porque do céu nada cai exceto nós mesmos, despertos de nossos sonhos de grandeza em cada pequeno acaso de nosso dia depois do outro

Formado em Ciências Políticas pela Universidade Americana em Paris e mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, Luiz Felipe D’Ávila propôs-se a delinear a trajetória de grandes personalidades da política brasileira — do império até os nossos dias — que alçaram a condição de estadistas

Companheiros, tranquem a porta da sala, assistam aos filmes, saquem os seus lenços de seda, mas chorem com moderação

A simplicidade dos recursos estético-literários e o talento narrativo e conciso de Ernest Hemingway fazem do conto “Os Assassinos” uma das obras-primas do conto moderno

Se as primeiras composições de Villa-Lobos trazem a marca dos estilos europeus da virada do século 19 para o século 20, será a partir de 1914 que ele iniciará seu “repúdio” aos moldes europeus e o desenvolvimento de uma linguagem própria. O folclore musical será a base de toda a sua criação artística

Cédric Klapisch foca na natureza apaixonada do homem como objeto de estudo para uma série de desencontros dos quais, muitas vezes, somos os próprios culpados

[caption id="attachment_10371" align="alignright" width="620"] Foto: Kumar Gauraw[/caption]
Foto: Kumar Gauraw[/caption]
Graça Taguti Especial para o Jornal Opção
A premência de atos de coragem se manifesta em nossas vidas desde o instante do nascimento. Ambos, o bebe e sua mãe, precisam de imensa determinação e desejo, para trocar, abandonar um ambiente aquoso, seguro e acalentador pela vinda à luz na terra dos homens.
Mudar de hábitos, largar ambientes mornos por outros desconhecidos — ainda que anunciem o bônus de certa prosperidade, demanda entrega e decisão.
Mergulhar na névoa, nas ondas escuras e geladas de viagens solitárias são ações que acarretam desvendamentos, nem sempre doces de fatias do nosso psiquismo.
Coragem para se enxergar em carne-viva, sem escamoteações quaisquer. Detectar o medo lá dentro de suas caixas fechadas, as defesas algemadas na garganta e crispadas nas mãos trêmulas de dúvidas.
Ter a ousadia de convocar os diabos e demais anjos da maldade a se reunirem conosco, intimando-os a revelar seus fétidos estratagemas de demolição da alegria e paz, nossa e alheias.
Arrancar o amor, entranhado à língua, levando-o às palavras. Uma confissão de bem, um ramalhete de flores para quem nos cerca a toda hora de atenções e delicadezas.
Ter coragem, como insígnia da bravura eleita, é trocar as infinitas mortes cotidianas por sobressaltos verdes, vermelhos, lilases. Gargalhadas soltas e úmidas, prontas a invadir cenários de vento e a se refestelarem, displicentes, ao ar livre.
Coragem para ser feliz. Como sonegamos de nós essa tal felicidade, como se ela não nos fosse devida, um bem legítimo, herdado dos céus. Também poderemos estendê-la à solidariedade macia, móvel e atenta ao entorno, evoluindo em um balé glorioso, pelos arcos planetários.
Coragem carimbada nas mínimas escolhas. Levantar os olhos do celular, guardar o tablet em uma gaveta, o notebook na mesa do quarto e, então, partir para trocar dois dedos de prosa com a revoada de andorinhas que se exibem diante de nossas janelas.
São tantas e multifacetadas coragens de que carecemos nos pequenos e grandes movimentos que compõem a partitura nossa de cada dia, com suas melodias assíncronas, que nos faltam indumentárias apropriadas. Abraçar o doente, o bêbado, o paciente terminal e lhe oferecer água e mel, a ternura mais fresca da alma, introduzindo-a neste quadro de dores e discretas bênçãos.
Coragem para se dizer o que sente. Sem eufemismos, perfumes de toucador ou maquiagens pesadas por acúmulos de autoenganos. Perdoar, ou pelo menos buscar esquecer, quem nos odeia ou inveja- nossos traiçoeiros inimigos, vigilantes do alto das coxias, desde o palco em que nos apresentamos à sociedade — essa gestora de ferro. Implacável julgadora de direitos e deveres dos homens.
Um misto de coragem, humildade e tolerância consiste em receber sem discórdias a presença de noites sem lua. Aristóteles sentenciava: “A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras”.
Sem coragem, deslizamos sobre o mundo como vermes na pele de pessoas apáticas e sem rumo. Repetimos rituais de convivência sem questioná-los. Repudiamos as sementes da boa nova, em várias nuances de nossa esgarçada existência.
Anaïs Nin, libertária escritora, apregoava “a vida contrai-se e expande-se proporcionalmente à coragem do indivíduo”.
Na maior parte do nosso espremido tempo, pulsamos encolhidos em conchas, torres prisioneiras de castelos em cujas masmorras apodrecemos desejos, energias, prenúncios de gestos fecundos. Shakespeare sublinhava “os covardes morrem muitas vezes antes de sua verdadeira morte; os valentes provam a morte só uma vez”.
Por fim, há algo inevitável nos pequenos movimentos das coragens nossas de cada dia. Olhar nos olhos da morte. Encará-la de perto, aceitando seu convite para enfrentá-la em mais um combate. Aqui, viver ou morrer não está em questão. Lutar é o que importa.
Graça Taguti é escritora.
via Revista Bula
[caption id="attachment_10323" align="alignnone" width="620"] Jorge Luis Borges[/caption]
Jorge Luis Borges[/caption]
J.C. Guimarães
Sou o autor desta coletânea ordinária, e quem pretendesse encontrar vestígios de ficção na história que segue daria com os burros n`água. A realidade tem suas intromissões fantásticas, e uma dessas janelas me surpreendeu para provar que não existe fronteira entre o fato mais prosaico e o mais absurdo. Antes de reproduzi-lo é necessário algumas observações, de que a crítica poderá se valer para referendar-me ou me condenar ao esquecimento.
Considerei este fato tão inverossímil que, ao transcrevê-lo, não me dei conta de que imitava Jorge Luis Borges. Consola saber que inúmeras linhas de Borges são linhas de Kafka e que alguns de seus versos pertencem indiscutivelmente a Whitman, sem que ele tenha sido o primeiro e o último de uma série. O português Álvaro de Campos foi de uma fidelidade admirável: “Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós!”
Imitação, em alguma medida, é inevitável: cada um de nós é menos si mesmo que outros, ao longo da vida. E estou convencido de que é melhor se parecer com Borges do que com ninguém. É verdade que reescrevi esse conto mais de uma vez, mas não consegui me livrar de suas impregnações. O preço pode ser este: meu próprio obscurecimento como escritor, à procura dum estilo (o de não tê-lo, por exemplo, amorfo ao contrário do imitado). É o diabo, mas fica a história, boa ou má. Contento-me em saber que fiz o melhor que pude.
Digo logo: acredito que eu sou eu mesmo, J.C. Guimarães. Entre outras coisas, não pretendo morrer completamente como pretendeu Borges — Jorge Luis Borges. Apesar das ressalvas, é provável que o leitor familiarizado perceba nessa história o estilo pessoal do mestre, o uso de certos chistes e principalmente a dicção. Reconheço a dívida e permito que ela me apague, se convir ao resultado que almejo. Confesso o esforço inútil de evitar certos rudimentos do idioleto deste apreciador de milongas, que terá sido eu (ele não foi todos os homens do mundo?) e quem não fui. Não fui, apesar das aparências (quando eu era jovem, perseguiu-me também o terror imaterial de Hume). Acho até que tais reminiscências darão a estas poucas palavras certa graça que possivelmente não teriam por si mesmas, por isso deixo que fiquem.
Pouco me importa, pois não alcancei um estilo pessoal e cheguei a duvidar que tivesse talento para fazer qualquer coisa de original.
Borges foi o primeiro grande escritor que eu li. Houve um tempo em que o argentino foi na minha opinião o maior escritor de todos os tempos. Eu ainda não conhecia as vertiginosas galerias de William Shakespeare. De qualquer modo, deixei-me influenciar por sua poesia porque minha ideia de mundo guardava prováveis semelhanças com aquela dos seus livros mágicos. Hoje duvido é que um homem possa ter um estilo e espelhar a multiformidade do mundo. Mudei muito, desde então; passei a ver as coisas de uma maneira mais realista e menos fantástica, explicação, no fundo, destituída de sentido. Um lógico pode perfeitamente pulverizá-la. Quem é que não se influenciou um dia por alguém? Com a metamorfose eu deixei de ser quem fui. Li outros fabulistas e até senti certo enfado pela metafísica, por essa falta de calor humano e especialmente de mulheres, que é a prosa de Borges. Para se parecer mais comigo mesmo, reitero que amo as divas.
A verdade, única e verdadeira, é que somos tantos ao longo da vida, e também nossa maneira de ser e de fazer as coisas. A identidade que a burocracia inventou para mim é a do cidadão cotidiano e maçante das contas e obrigações civis. Invejo sinceramente quem se enquadra nesse esquema mesquinho e não perde o juízo. Fosse comerciante e talvez fosse mais feliz.
A natureza não gosta de pessoas complicadas, aquelas que tentam desvendar os seus mistérios, como Borges e outros homens de gênio. Ela os amaldiçoa com maus pensamentos, com conflitos íntimos, com angústias insanáveis que nenhum entretenimento mundano pode atenuar por muito tempo. Tira toda sua fé, para que morram secas. É o preço que se paga, por se querer comer os frutos da árvore da sabedoria, do bem e do mal. Faz todo o sentido que a descrença seja generalizada entre os rebeldes: a curiosidade invasiva nos domínios de Pandora nunca fica impune.
Não é difícil compreender a felicidade mais palpável das pessoas comuns. A natureza não tem por que hostilizar os que não a incomodam com perguntas indesejadas.
Talvez, ao invés de um conto, eu devesse fazer uma crônica do material que disponho, de sorte que o episódio ligeiramente descrito a seguir de fato aconteceu: é tão autêntico quando a vertigem de Borges, às margens do rio Charles, em fevereiro de 1969. Não inventarei outro, nem um dia nem uma data, a fim de fraudar os dados que esqueci. O que narrarei poderia ser escrito para o jornal da manhã seguinte, ao invés de aspirar a forma literária.
O objetivo desta peça simples, cuja principal virtude é o panteísmo, é falar de espelhos: a imagem preferida de Borges. Concluí, após uma tarde de revelações, que os espelhos têm verdadeira correspondência no universo de Aristóteles. Para tanto, bastou uma ocasião trivial e a feliz intuição deste plagiário. Felizmente, as metáforas têm o dom da diversidade (realmente esta frase não me pertence). Minha conclusão não encerra todas as possibilidades e ângulos do problema, mas certamente encontrei um de seus termos (outra fraude). É talvez o produto de uma alucinação e poderia integrar o rol das teorias conspiratórias.
Percebam que realmente não pretendo ser igual a Borges. Como, se inclusive sou militante de um partido político? Não sei ainda se por sorte ou infelicidade, a história é que vai dizer.
O desprezo do mestre pela matéria nunca me escandalizou, sobretudo depois que, por aqui, fomos cúmplices da infâmia, como todos os outros que estiveram no poder. Infalivelmente o poder tresmalha, infalivelmente desagrada. Pouco saberíamos pelas páginas do renomado portenho qual a sua opinião sobre os generais que pisaram sua pátria argêntea. Talvez soubéssemos sobre Péron, a quem a literatura política consagrou um ismo. No mais, preferiu ignorar nossos desencantados Sólons. Foi a forma sutil que encontrou de, outra vez, repetir os gregos e metê-los no ostracismo. Neste caso, permanente:
“Contam que Ulisses, farto de prodígios, Chorou de amor ao avistar sua Ítaca Humilde e verde. A arte é essa Ítaca De um eterno verdor, não de prodígios”.
Assim é Borges. Seja como for, como Dante, que não envergonhou-se de servir à sua cidade, a política me interessa como caminho sem volta. É por isso que cultivo a leitura daquele Carlos Daneri que, com uma só pergunta, afrontou os extremismos que assolam esse mundo: “Quantas igrejas tem o céu?” Minha resposta é nenhuma.
Mas, então, aconteceu o fato, e inevitável foi associá-lo ao gênero fantástico. De repente, certas provocações metafísicas de Borges me pareceram cobertas de sentido. Um plano repete outro, e isto é São Paulo e outras metáforas a que Borges recorreu. Tudo só depende de você estar no lugar certo e na hora certa para perceber as correspondências. Em meu caso, foi quando recebi a visita de dois missionários em casa.
O endereço foi a rua 7, e achei que eram corajosos. À maneira de Pedro e os outros discípulos, vivem de bater nas portas, infinitas, e operar o convencimento, reclusos por anos a fio em sua própria versão de Nicósia, Patmos e Éfeso. Essa loteria vulgar (uma locução típica do mestre) os pôs diante de mim e os atendi, e talvez tenham me visto como um pagão. Pedi que entrassem e se sentassem, embora soubesse que o convite alargasse a sua insistência. Sabia que não seria convencido por nada desse mundo, mas dei-lhes guarida por tolerância. Sorriram, eu os retribuí com sinceridade e tudo ficou bem entre nós.
Não fosse pela delonga, nossa conversa teria sido apenas curiosa. Um dos dois rapazes, o louro de cabelos lisos, falou-me enquanto seu companheiro limitou-se a ouvir com atenção (este talvez iniciasse o colega no complexo idioma de Manuel Bandeira). Trazia no peito o nome fictício de Elder Benquerer, um missionário vermelho de uma tal Castle Deale, Utah. O outro, mais baixo, mais franzino e pardo era natural do Maranhão, e atendia pelo mesmo nome, Elder. Este último Elder contou que morou em Pires do Rio, e eu informei que foi lá que nasci. É verdade que essa cidade do interior goiano não foi para mim, aos trinta e tantos anos, mais do que um berço puramente imaginário, tão improvável quanto... o Indostão, é claro.
Foi ao escutar o forasteiro que Borges se intrometeu entre nós, com sua mania de replicar a realidade. Julguei disparatosa a história que Benquerer se pôs a me contar, absolutamente certo de sua veracidade. Quanto ao livro que me vendeu — eu o comprei como um objeto curioso, mas, verdade seja dita, nunca tive paciência de lê-lo (já nem sei mais onde o guardei) — seria trabalho de uma civilização do oriente médio. Povos dessa região atravessaram não sei que oceano e vieram parar em nosso continente. Curioso é que tenham alcançado o território norte-americano, onde também despencou a ogiva do Super-Homem. Não quis, entretanto, parecer deselegante com minhas ironias e deixei que concluíssem sua exposição.
Tive a impressão de que falávamos sobre fábulas e não sobre fatos, sobre Atlântida e não sobre o Oriente. Os arqueólogos e historiadores legaram informações precisas sobre as populações originárias desta região: medos, partos, cassitas, hititas, cananeus, jebuseus. Que eu me lembre, nada sobre os nefitas. Faço um desconto, porém, e suplicaria desculpas aos meus visitantes: é que minha opinião teve o dom de juntar um cético a um leigo.
Aliás, que eu seja apenas um ignorante é a mais pura verdade. Nunca ostentei ferrenhamente um credo. Qualquer instituição me é suspeita, pelo simples fato de agregar pessoas: a conjugação dos homens trás consigo a força e o poder, mas também o teatro, inevitavelmente. Até a juventude eu quis acreditar nas associações, mas as próprias pessoas levaram-me a desconfiar delas e de seus objetivos.
O tal livro que os missionários trouxeram é uma imitação da Bíblia, com profetas, mandamentos e povo eleito. A despeito do meu ceticismo insignificante, um estado inteiro da América acredita na realidade dessa história e no profeta Joseph Smith, recebedor de algumas placas e sucedâneo de Moisés. Seus seguidores repetiram mitos antigos e atravessaram milhares de quilômetros até se internarem, também, num deserto, que (eu me ative) é feito de areia: a matéria-prima dos espelhos. O tom é fantástico, mas mais fantástico ainda é que eu não estou inventando nada.
Isto não poderia mesmo se chamar ficção, que é o que são as peças borgianas. Isto aqui, caro leitor, é a mais assombrosa realidade, motivo suficiente para que a confusão entre mestre e admirador seja apenas aparente.
Benquerer lembrou-me uma gasta fabulação: a de que os Estados Unidos souberam com mestria confundir o seu destino com o de Israel. Recapitulo para o leitor: os perseguidos de Tutmés I foram os mesmos que perseguiu a intolerante coroa dos Stuarts; o deserto dos 40 anos foi o mar do Myflower (e certamente a penosa travessia de Brigham Young e seus adeptos pelo Meio-Oeste); a Terra Prometida a Nova Inglaterra, aonde, decerto, também abundaram o mel e o leite; o povo eleito de Deus, os norte-americanos, entre os quais Kissinger e Leo Strauss, que escreveram uma parte da história, uma página torpe e decadente. Talvez o fim esteja mesmo próximo.
Quem sabe se Canaã não é extensa como o mundo e nela preservaram-se muitos filisteus, aos quais é necessário declarar a sua guerra? Não sem perplexidade ou assombro, pressenti pela primeira vez, sob o auspício de meus simpáticos visitantes do Norte, como os espelhos de Borges são fatos da realidade, bem próximos de nós. Assim como esta imitação, deliberada e naturalmente imperfeita.
J.C. Guimarães é ensaísta, contista e historiador.
via Revista Bula
Leitores e colaboradores apontam os poemas mais significativos do poeta mato-grossense

[caption id="attachment_10332" align="alignright" width="620"] Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM[/caption]
Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM[/caption]
Hélverton Baiano Especial para o Jornal Opção
A derrota da Seleção Brasileira de futebol na Copa de 2014 ensejou muita baboseira, comentários de futebolistas querendo aparecer e muita gente, nas redes sociais ou na imprensa de um modo geral, posou de politicamente correto, querendo consertar alguns erros que acometeram a nossa Seleção e também o nosso futebol. Muitos querem fazer do Brasil uma Alemanha, para ficarmos na maior das bobagens, como se não houvesse diferenças culturais, econômicas, sociais e tudo o mais. Mais interessante é que há muito alemão querendo o seu país como o Brasil no futebol.
Êxitos e desacertos são normais no futebol e na vida também. Como o futebol é o assunto, vamos às bobagens. Nossa maior dificuldade é querermos que o Brasil vença sempre, mesmo com times inferiores, como foi o caso da Copa 2014. Às vezes um time de futebol inferior ganha do melhor (vide Copa de 1982) e aí reside mais uma graciosidade do futebol. Mais um detalhe: num campeonato de tiro curto, como uma Copa do Mundo, e com jogos de mata-mata, acontecem surpresas, para nosso gáudio.
Não estou falando que a organização no futebol seja ruim, não. Ela é importante, mas nem sempre suficiente. Um exemplo: a Alemanha estava com o futebol totalmente desorganizado em 2000, 2001, mas chegou à final da Copa do Mundo de 2002. Outro exemplo: nosso futebol brasileiro, que sempre foi muito desorganizado e corrupto, vivia uma merda em 1993, inclusive com viradas de mesa nas classificações e subidas de série, mas fomos campeões da Copa do Mundo de 1994 (Tetra).
Mais um exemplo: em 2000 o campeonato brasileiro viveu um dos períodos mais conturbados, com uma bagunça total e instituições de Módulos, Copa João Havelange e Clube dos 13, várias aberrações; quem foi o campeão da Copa do Mundo de 2002? O Brasil (Penta), dono deste desorganizado e esculhambado futebol. Nossos dois últimos títulos de Copa do Mundo foram conseguidos nesta desorganização total e com dirigentes que não eram exemplo de boa conduta com o dinheiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Essa é uma história triste, mas os exemplos mostram que não pode ser usada para justificar êxito ou derrocada do futebol jogado em campo. Além do que, nos últimos 30 anos, o Brasil rivalizou com a organizada Alemanha.
Na verdade, o Brasil foi até melhor: ganhou dois títulos mundiais, foi segundo colocado em 1998, deixou duas Copas nas Quartas-de-Final e ganhou quatro Copas das Confederações (1997/2005/2009/ 2013). Dá raiva quando vejo comentaristas de futebol invocando essas coisas para justificar a derrota. Fazem o mesmo tipo de corrupção com a opinião pública como os cartolas (que dirigem o futebol) com o dinheiro do futebol.
Não gosto desse parâmetro de Copa do Mundo para avaliar o futebol de um país e talvez esteja aí o nosso maior erro. Nem quero também sacrificar o técnico Felipão pelo erro que cometeu contra a Alemanha, no fatídico 7 a 1. Ele errou, mas os jogadores erraram muito também e isso é imprevisível. Da mesma forma, os jogadores da Espanha erraram no primeiro jogo, contra a Holanda. Quero dizer que a discussão sobre a convocação feita pelo Felipão é outro papo. Até o momento em que a Seleção se habilitou para a semifinal, ninguém questionava isso, mesmo porque ela vinha de ganhar a Copa das Confederações. (Chegaram a elogiar as ligações diretas (defesa-ataque), sem passar pelo meio de campo, mesmo porque quando a bola era passada para nossos jogadores do meio campo, nesta Copa, era um deus-nos-acuda). Com a Argentina foi diferente, houve questionamento da convocação, mas ela chegou, elogiada, à final e quase ganha. Não é por aí. Brasil e Argentina estão no mesmo nível de organização e corrupção no futebol.
Outra bobagem ouvida até de político que não entende nada de futebol (e devia ficar calado ou calada) é que precisamos reter nossos jogadores (novos valores) do futebol por aqui. Antes, no entanto, falavam que o Neymar precisava ter experiência no exterior. Baita incoerência. O Brasil é o maior exportador de jogador de futebol do mundo e isso traz divisas e melhora a vida de milhares de famílias brasileiras. Brasil e Argentina são grandes exportadores de futebol, Alemanha e Holanda, não. Foram as quatro melhores seleções da Copa do Mundo 2014. Vê-se que a argumentação não é boa. Messi, um dos maiores valores do futebol na atualidade, saiu da Argentina com 13 anos de idade e foi para o Barcelona (Espanha), depois de ser rejeitado por vários clubes do seu país.
É furado também o argumento de que a Seleção Brasileira precisa ser constituída mais de jogadores que atuam aqui. Balela. Há uns 30 anos, tudo bem. Mas agora, depois que o futebol mundial se globalizou, esse argumento não faz sentido. É usado para tentar engambelar a opinião do incauto torcedor. Desconfie de quem usa esse argumento ou então desligue a TV ou o rádio ou mude de canal. O Brasil é celeiro de jogadores de futebol e foi o único país com 30 atletas nesta Copa, 23 do selecionado e outros sete de outras equipes: Espanha, Portugal, Itália, Croácia e Chile. Isso não é ruim e nem demérito, ao contrário.
Não vale o argumento de criticar a Lei Pelé (que na verdade é Lei Zico) por isso. Ela tem seus pontos negativos, seus defeitos, e precisa ser revista, principalmente para valorizar mais o clube formador do jogador. Mas não é a Lei Pelé sozinha a responsável pelo êxodo dos nossos jogadores. Dos últimos 30 anos para cá, o jogador de futebol passou a ser uma mercadoria valiosíssima, que dá dinheiro e emprego a muita gente e também esconde muita malandragem por trás das negociações. Mas isso é em todo lugar, não apenas no Brasil. Vimos uma Copa com praticamente todas as seleções cheias de ‘estrangeiros’.
E quando todos se organizarem, que argumentos vão usar? Praticamente todos os países da Europa têm o futebol organizado e investem na formação de novos atletas. As escolinhas do mundo todo estão cheias de garotos bons de bola e o futebol tem melhorado de nível. A Copa serviu para mostrar isso. Três times se destacaram na competição: Alemanha, Argentina e Holanda. Mostraram organização, jogadores se doando e tiveram o que considero essencial no futebol: técnica, raça e melhor preparo físico. Esses três fatores decidem o futebol hoje, aliados à tática, essa em uma escala menor.
Acho que a Seleção Brasileira teve dificuldades nesses aspectos, isso era visível. Felipão chegou a falar, em segredo, que não convocaria um dos que estavam no grupo. Para mim, uns cinco ou seis ali estavam em maus momentos nas partes física e técnica e também não deveriam ser convocados. Por isso mesmo não conseguiam também cumprir bem as determinações táticas e, sem um bom preparo físico, não puderam mostrar raça também. Em todos os jogos o Brasil apresentou defeitos visíveis, que deveriam ser corrigidos especialmente para enfrentar adversários que se mostraram melhores na competição.
Acho que assim como em outros esportes, o futebol precisa incorporar mais tecnologia para que tenhamos resultados mais justos e também deve melhorar as regras para que o esporte seja mais atraente. O vôlei fez isso, o futsal também e ficaram melhores. As mudanças no futebol são muito lentas.
Sobre a decisão, a Alemanha teve duas oportunidades claras e aproveitou uma. A Argentina teve três e não aproveitou. Mas soube ler bem o jogo alemão e anular suas principais jogadas. A Alemanha faz um jogo simples, mas bem organizado e não entrega a bola fácil ao adversário. Não ficou muito evidente o que os comentaristas politicamente corretos apregoaram. O futebol, dentro de campo, foge, e muito, dessa razão cartesiana e por isso mesmo derruba muito comentarista. Chato é que - talvez em função disso fica mais atraente - machuca também a paixão da gente, muitas vezes até em demasia.
Hélverton Baiano é jornalista e poeta.

Mostrando grande habilidade no manejo com a linguagem, Luiz Ruffato mescla ficção e realidade para contar a história de personagens desiludidos e, de certo modo, resignados quanto ao rumo que o destino lhes deu
[caption id="attachment_9664" align="alignleft" width="1008"] Luiz Ruffato: estilo escorreito e econômico, sem resvalar para a aridez vocabular[/caption]
Luiz Ruffato: estilo escorreito e econômico, sem resvalar para a aridez vocabular[/caption]
Carlos Augusto Silva Especial para o Jornal Opção
“Flores Artificiais”, de Luiz Ruffato, só é um romance, na concepção tradicional da palavra, se assim quiser o leitor que por ele se aventurar. Trata-se de um conjunto de histórias independentes que, em um olhar de superfície, tem como único elemento de ligação o fato de serem todas conduzidas por um mesmo narrador. Lembra um pouco a estrutura de “Os Inocentes”, de Hermann Broch, na qual histórias independentes foram reestruturadas de modo a se tornarem parte de um todo. Distancia-se da perspectiva de “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, de “romance desmontável”, dada a possibilidade de se poder ler, no caso do livro de Graciliano, cada um dos capítulos como narrativas independentes.
Na obra de Ruffato, desde o seu início, com uma apresentação na qual o autor se pronuncia, quebrando o que Henry James chamaria de pacto ficcional — segundo o qual o leitor deveria tomar por verdade absoluta o que lhe é contado e o autor deveria praticamente desaparecer do imaginário daquele que lê —, vemos que o livro não seguirá o molde clássico de romance.
“Flores Artificiais” é o resultado de memórias que lhe foram enviadas por um engenheiro, Dório Finetto, funcionário do Banco Mundial, sujeito de vida errante, que não fixou raízes em nenhuma cidade ou país. Suas memórias, sem qualquer cuidado de estilo, foram enviadas para Ruffato para que este delas se desfizesse ou as transformasse em literatura. Dório, que enviou as memórias para Ruffato, reconhece que, para ser literatura, é necessário mais que enredo: o autor não lhe priva dessa lição. Sentencia: “assunto demandando estilo”. E disso nasce o “romance”, que grosso modo poderia ser assim resumido: oito narrativas apresentadas por esse viajante, sempre a trabalho, nas quais apresenta pessoas que lhe rendem histórias para contar.
A apresentação inicial, coisa pouco usual para um livro de ficção, que pode sempre soar como um “senão” preventivo do autor com forte tendência a levá-lo a uma redundância não planejada, não tem efeito negativo no livro. Pelo contrário, justifica-se e recebe uma nota a mais de harmonia quando, nas páginas finais, o autor volta a aparecer, literalizando, em um capítulo que é bem nominado de “Memorial descritivo”, a vida de Dório Finetto.
As narrativas, por mais que sejam aparentemente parte de um todo apenas pelo fato de serem contadas pela mesma voz, têm mais fatores de unidade, que acabam dando ao livro organicidade, harmonia quanto à forma e ao conteúdo, mostrando grande habilidade no manejo com a linguagem por parte do autor.
Todos os personagens apresentam desilusão quanto à vida, e estão, de certo modo, resignados quanto ao rumo que o destino lhes deu. A presença do narrador diante dessas personagens é tímida, ressaltando seu aparente aspecto de escada para que a história das figuras com as quais se encontrou possa aparecer, o que em alguns casos leva a um discurso demasiado longo por parte das narrações feitas pelos personagens a esse interlocutor que, diante das cenas que lhe são contadas, simplesmente desaparece. Um discurso indireto, que desse mais voz ao narrador, poderia conferir ao texto menos rememorações com aspecto de monólogo que leva o texto a uma quebra de verossimilhança — quem, em um bar, ficaria horas calado diante de um estranho ouvindo uma história, de forma ininterrupta, que não lhe é familiar, por mais que seja esse ouvinte interessado em histórias, digamos, exemplares?
Outro aspecto de unidade do livro é que os personagens, de alguma forma, são expatriados, tal como o narrador, e voltam ao passado para terem seus momentos catárticos. O interesse pelo outro é o motor das narrativas, que torna o íntimo matéria de interesse. Isso os coloca também em um clima de encontro com a solidão, porque, sendo os personagens dotados de histórias que se revelam somente quando encontram alguém que se interesse por elas, e sendo esse ouvinte alguém sem raízes e declaradamente sozinho, que, caso morresse, como ele mesmo diz, não seria chorado por ninguém, revela-nos uma dupla enseada de solidão: quem ouve o faz porque é só, como quem conta o faz pelo mesmo motivo.
O texto de Ruffato é firme, com estilo escorreito e econômico, sem resvalar para a aridez vocabular. Ruffato não desliza ao apresentar personagens e ambientes de forma categórica e precisa, e assim o leitor é muito bem conduzido por um estilo que sabe de onde parte e para onde quer ir, e especialmente de que forma chegar lá. É um trabalho de linguagem amadurecido e consciente dos instrumentos de que faz uso para atingir o seu efeito, e por isso merece ser lido.
Carlos Augusto Silva é crítico literário.
via Revista Bula
Ao invés de arenas de rodeio e estádios suntuosos, ou o hexacampeonato (que vai sendo adiado pela nossa incompetência de jogar bem em casa), deveríamos sonhar mesmo com de salas de aula e bibliotecas, erguer o caneco do índice de leituras e de alfabetização
Ronaldo Cagiano Especial para o Jornal Opção
O vexame, o fiasco, a vergonha e a humilhação do oito de julho já vieram tarde. Há muito o povo brasileiro merecia essa surra. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi o maior holocausto imposto a um povo.
A nação brasileira precisa deter-se no essencial, no que realmente importa, não na ilha de fantasia do milionário e corrupto futebol brasileiro, com seus cartolas miliardários e jogadores ídolos de barro, que jogam sem suar a camisa, sem amor à arte, mas com os olhos nos contratos milionários.
Não precisamos de neyMARKETING Jr. Não necessitamos de daviDOLAR Luiz. Muito menos de feliPROPAGANDA Scolari ou de freDINHEIRO ou de imperadores de araque, como Júlio César (que não impedem a derrocada desse império sujo do futebol de várzea que jogaram).
[caption id="attachment_9634" align="alignleft" width="300"] Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM[/caption]
Foto: Jefferson Bernardes/VIPCOMM[/caption]
Se precisamos de atletas com espírito esportivo (como foram um Garrincha, um Pelé, um Nilton Santos e um Barbosa), tanto mais almejamos vencer outro campeonato. Golear as carências e construir mais escolas, hospitais; ao invés dos bilhões para novos templos do futebol, verbas para segurança, estrada, emprego, saneamento, moradia popular.
Venho dizendo há tempos que o Brasil vai se mediocrizando há décadas e a passos largos, nivelando tudo por baixo. E o sintoma disso é tanto o futebol anêmico como temos praticado (ganhamos as últimas Copas sem brilho e sem jogadas inteligentes), como nas artes e na política, esta apequenada, da negociata e do escândalo (esse o padrão FIFA a que estamos sendo condenados?).
Um país que dá mais valor ao futebol e ao Pedro Bial; à tv e ao BBB; que enche estádios para ver Michel Teló, Luan Santana, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury ou entra em delírio diante da profusão de duplas sertanojo; que lota praças num transe demencial para assistir à manipulação estelionatária e mercenária das pregações evangélicas, esse país está fadado a se bestializar cada vez mais.
Ao invés de arenas de rodeio e estádios suntuosos, ou o hexacampeonato (que vai sendo adiado pela nossa incompetência de jogar bem em casa), deveríamos sonhar mesmo com de salas de aula e bibliotecas, erguer o caneco do índice de leituras e de alfabetização, orgulhar-se do diploma de um curso bem concluído e da qualificação profissional. No lugar de templos evangélicos e presídios, precisamos semear livros e cultura de qualidade. Mais salas e menos celas. Mais educadores e menos pastores. Mais Paulos Freires e menos Edir Macedo. Mais Pestalozzis e menos Marcelo Rossi.
O nosso jogo é contra a miséria, a ignorância. É para driblar a pobreza de espírito, a falta de educação (que vaiou equipes adversárias nos estádios). É para dar um olé na péssima condição da saúde e do ensino público, da insegurança. É para derrotar a alienação e o provincianismo de todas as classes que dominam o país.
É tudo isso que nos avilta e humilha mais que a goleada germânica sobre a seleção macunaíma. O que empobrece e nos joga ainda mais no esgoto da civilização são os salários nababescos desses jogadores (a maioria sequer sabe usar o plural ou colocar corretamente um pronome), enquanto um professor, um médico do SUS, um policial, um gari, um trabalhador rural ganham uma miséria. Essa é a grande tragédia, não o Maracanazo de 1950 ou o Mineirazo de 2014. O Brasil da Copa, agora é um povo na Cova. Como diria Nelson Rodrigues, “o pior cego é aquele que só vê a bola”. Esse país que lê Paulo Coelho e Fábio de Melo, que ouve pagode e funk, só podia ser goleado por quem nos deu um Goethe e Thomas Mann; por quem tem Mozart e Beethoven na escalação de sua civilização.
Toma jeito, Brasil!
Ronaldo Cagiano é escritor.