Opção cultural

Timothy Snyder diz sobre “A Terra Inabitável’, de David Wallace Wells: “Se você não quer que nossos netos nos odeiem, você precisa ler este livro”
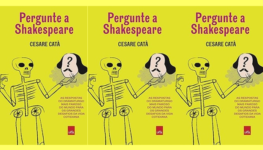
“Pergunte a Shakespeare”, do filósofo Cesare Catà, passa longe da receita de bolo dos livros de autoajuda. É um livro sério

Para o italiano Dante Alighieri as estrelas são uma estrada larga para Deus. Para o irlandês James Joyce obviamente não

Benjamin definia que uma política revolucionária deveria ser “a organização do pessimismo” — um pessimismo em todas as linhas: desconfiança quanto ao destino da liberdade e do povo europeu

Por Catherine Moraes
Essa música, é, com certeza, a que eu mais ouvi depois que o Matheus nasceu. A voz dos Veloso tocou baixinho no quarto dele e mais que isso, tocou grandão no meu coração. Eu, que nunca quis ser a mãe de um homem, tô aqui apaixonada pelo presente que Deus me deu. Quando a Cecília nasceu, uma Catherine morreu pra nascer outra que nunca mais seria igual. Agora, outra versão surge e o mistério é se reconhecer. Todo homem precisa de uma mãe. O que eu não sabia, é que eu também precisava de você.
Eu chorei ao descobrir a gravidez. Chorei de novo quando peguei sozinha o teste de sexagem fetal e li masculino. Deus, eu seria capaz de ser mãe de um homem? Lá no fundo eu sabia a resposta. Claro que sim. E foi aí que conversando sobre isso, uma amiga me disse: “Que bom que você vai ser a mãe de um menino. É de mães como você que homens precisam. É a certeza de que vamos mudar as próximas gerações”. Será? Será que em um mundo machista e homofóbico com homens que não conseguem fazer serviços básicos ou assumir responsabilidades pequenas e são pra sempre chamados de meninos, que eu, euzinha conseguiria fazer diferente?
Mas aí o Matheus nasceu e eu descobri o óbvio: antes de ser um homem, ele é um bebê. Não tem um segredo enorme. E se eu fizer o mesmo que eu fiz com a Cecília? Se eu encher ele de amor, afeto e dar a oportunidade de ele administrar os próprios sentimentos. E se eu ensinar que depois de comer o prato precisa ir pra pia e que a gente precisa ser gentil com as pessoas? E se ele perceber que na nossa casa não existem serviços de homem ou de mulher e que quando o pai e a mãe, exaustos, param de trabalhar, eles se unem para uma faxina. Será que ele aprende olhando? vivendo?
Barriga, dois irmãos.
Eu sempre quis ter dois filhos, desde quando adolescente eu brincava imaginando o futuro. Eu queria casar, queria ser mãe, ter uma família, viajar, me formar. E eu sempre me imaginei mãe de menina: brincar de boneca, maquiagem, usar as mesmas roupas e sapatos como eu fiz com a minha mãe, com a minha irmã. Mas eu achava que não ia rolar, que essa vontade era grande demais pra acontecer.
Escolhemos o nome Matheus quando engravidei pela primeira vez. Se fosse menina, a gente escolhia depois. Lá no fundo do meu coração, eu sonhava com a minha garota. E ela veio, confirmada com 12 semanas: Cecília. Pronto, eu que cresci numa casa cheia de mulheres, trazia mais uma ao mundo. Meu sonho estava ali no meu colo e hoje está completando 9 anos.
Mas eu queria outro filho, outra filha. Guardei roupas que amarelaram. Perdi as contas da quantidade de testes de gravidez. Escolhi o nome: Maria. E levei 6 anos para tentar e pra desistir dela. Doei tanto, vendi roupas, sapatos e enxoval para depositar o dinheiro na poupança da Cecília. Refiz a rota, mudei de planos, marquei pra colocar um DIU. Criei uma nova lista de desejos. E foi aí que Matheus apareceu. Eu precisei desistir da Maria para que o Matheus viesse. E que bom que ele veio.
Eu sei que o amor por um filho nasce de diversas formas. O meu nasceu na barriga de ambos, mas se fortaleceu ali, no parto. Mas ainda não era um amor completo. A gente ama ainda mais quando se conhece, quando se entende. Comigo essa regra também funciona para as crianças, as minhas crianças. Eu amo os dois a cada dia mais. E quando parece que não cresce mais, esse amor transborda.
Que você, meu menino, seja um homem digno de orgulho e que eu seja a mãe que você precisa e merece! Te amo!
Leia também:

O filólogo e membro da Academia Brasileira de Letras explicará por que o brasileiro lê pouco. O poeta lança “O Cálice de Orfeu”

Tanto nos tempos machadianos como agora, a hipocrisia da seriedade, do moralismo, do bom cristão, é algo abundante; em Mateus 23, os hipócritas são chamados de “sepulcros caiados”
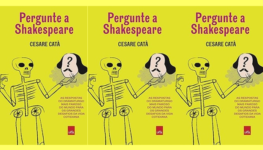
Perguntaram a Barbara Heliodora: “Já fez análise?”; sua resposta: “Não. Porque vou recorrer a Freud se ele foi beber na sabedoria de Shakespeare para estruturar a psicanálise”

O médico e escritor assinala: “Há muitas dores no mundo, todas inúteis para a evolução da vida, mas úteis para deixar marcas na carne e na mente”
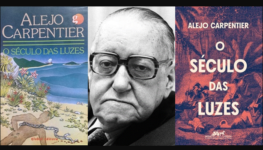
Revisitada como farsa cruel pela pena barroca de Carpentier, a revolução impõe-se ao Caribe com a mesma violência de outras empresas do colonialismo europeu na história

Por Diogo Alves
É inconcebível pensarmos em um mundo contemporâneo sem imaginarmos uma existência centrada por imagens. Tudo o que vivemos, experienciamos e sentimos é, de certa forma, mediado por uma criação imagética. Seja através de uma série de fotografias feitas durante uma viagem ou posts em redes sociais de pessoas com as quais possuímos pouquíssimo contato não virtual, a realidade em que vivemos é, inevitavelmente, uma existência visual.
Imagem, todavia, em um mundo constituído de experiências visuais, não se limita exclusivamente ao olhar, mas relaciona-se também com a percepção que temos de certas existências. A maneira de se comportar, a pronúncia das palavras ao se comunicar, os gestos corporais e o posicionamento social diante das situações cotidianas constituem uma poderosa maneira de estabelecer uma imagem não visual que legitima as ações e a vivência de um indivíduo perante seu meio. Se bem encenada e repetida à exaustão, trata-se de uma poderosa máscara com a qual pode-se atravessar qualquer situação.
M. Night Shyamalan é um diretor que, desde seus primeiros trabalhos, preza pela imagem enquanto mediadora da narrativa. Trata-se de uma das características mais louváveis que um cineasta comercial pode ter. Pensar naquilo que vemos como um guia formal para o desenvolvimento da história, e não como uma muleta cosmética ou como algo complexo por mera firula visual. Nesse aspecto, Armadilha (2024), seu lançamento, é um de seus filmes que mais leva adiante a ideia da imagem enquanto legitimador da realidade, em especial devido às condições psicológicas de seu protagonista.
É justamente através da centralidade de Cooper, em uma interpretação de altos e baixos de Josh Harnett, que Shyamalan consegue demonstrar suas principais virtudes. Assistir a um de seus filmes, quer seja extraordinário como A Visita (2015), Tempo (2021) e Corpo Fechado (2000) ou ruim como O Último Mestre do Ar (2010), é ter a certeza de deparar-se com uma decupagem no mínimo profundamente criativa e estimulante, e Armadilha é um excelente exemplo disso. O que há de melhor aqui é a maneira como os planos relacionam-se, a princípio, com uma relação amorosa entre pai e filha, mas sempre inserindo um elemento de estranhamento, e o posterior uso dos ângulos não convencionais e das linhas de fuga conforme adentramos mais na perturbada psique de nosso protagonista, levando-nos a refletir sobre como a confiança cega em imagens pode nos levar a lugares sombrios tal qual ao simpatizarmos por um assassino em série psicótico.
Assim como em seus melhores trabalhos, o filme possui um dispositivo central muito claro e um recorte espacial profundamente bem definido. Em uma época na qual as superlotações em shows geram notórias tragédias, existe algo mais aterrorizante do que escapar de um silencioso cerco persecutório em um grande concerto de uma diva pop? Shyamalan aproveita-se muito bem da constante busca pelo escape enquanto dispositivo, e a arena lotada não só delimita muito bem os acontecimentos, mas serve também como gatilho para uma série de ações que levam a trama adiante e centralizam-nos ainda mais na psicose que media nossa visão perante aquele mundo.
É justamente na arena e no show que estão os grandes momentos da obra. Destaque para a forma como os close-ups de Cooper vão tornando-se cada vez mais invasivos e os espaços enquadrados em planos abertos são usados para gradualmente aproximá-lo dos policiais e dos agentes de segurança, ainda que sempre separados por um elemento como uma parede ou uma porta, ressaltando a dicotomia entre proximidade e impossibilidade, e especialmente, a maneira como a diva pop Lady Raven sempre é mostrada em planos gerais, muito distante e sempre enquadrada em conjunto com sua imagem maximalizada no telão. Não seriam as pessoas que mais admiramos e que mais nos tocam, para além de muito distantes de nossas vivências, meras imagens que projetamos a partir de performances de si mesmas? E o que acontece quando elas deixam de ser meros ícones acima de um palco?
Tais escolhas visuais e narrativas de um cineasta cujos filmes têm algumas das decupagens mais criativas do cinema contemporâneo, alinhada ao talento magistral de Sayombhu Mukdeeprom, diretor de fotografia tailandês que assina trabalhos como Me chame pelo seu nome (2017) e Tio Boonmee, que pode recordar suas vidas passadas (2010), notório pelo seu olhar único diante dos espaços e pelo domínio do uso da película, criam uma obra que não somente é uma confirmação de todo o cinema de Shyamalan, mas especialmente uma subversão de tudo o que há de marcante em suas obras. Para além da lógica da imagem, aqui distorcida para nos levar a refletir em como confiamos plenamente em tudo o que vemos, especialmente se for guiada por alguém com rosto e atitudes de bom moço, a ingenuidade possui um papel muito marcante, refletida por Jamie, trabalhador que confia demasiadamente e entrega tudo única e exclusivamente por confiar em demasia naquilo que vê.
A partir do momento em que abandonamos a arena, todavia, é que as coisas se tornam mais problemáticas. O que era muito delimitado nas ambientações do show vai se perdendo na maneira como Shyamalan anseia por subverter a si mesmo, e o abandono da lógica de reflexão imagética para a inserção nos meandros da psicopatia leva a uma série de situações frustrantes que anulam muito do que havia sido construído antes. Um homem aparentemente comum torna-se alguém quase tão poderoso e cheio de recursos com um super-herói, e tal mudança não poderia estar mais distante daquilo que há de melhor na obra.
A ingenuidade juvenil, simbolizada por uma situação que vai do céu ao inferno através de um piano e resolvida por uma rede social, sempre mediada pela figura de Lady Raven, agora não mais ícone e, portanto, enquadrada em planos próximos, contraposta com a infância perturbada justamente pela falta de inocência, apresenta um meandro muito preguiçoso para o desenrolar da obra, e é triste observar como as coisas desmoronam do meio do segundo ato em diante. Mesmo que central em seus filmes e já utilizada antes em Armadilha, a ingenuidade perdida aqui trata-se mais de uma artimanha batida de roteiro do que qualquer outra coisa. Mesmo os melhores momentos descambam em algo problemático, como a cena do encontro entre a esposa Rachel, iluminada à Rembrandt e consequentemente retratada sob um viés de sanidade, e o marido Cooper, com o rosto iluminado somente pela parca luz ambiente, já totalmente entregue à fúria, de uma construção visual impecável que desemboca em uma fraca conclusão que não poderia ser mais simbólica do desmoronamento que assola o filme.
Conceitualmente, a ideia de um mundo desmoronando a partir do momento em que a psicose abandona um ambiente controlado é o cerne da obra. Entretanto, Shyamalan confia tanto na subversão do que há de mais marcante em seu cinema e de um aprofundamento da lógica hitchcockiana do suspense que acaba tropeçando em suas próprias pernas. Às vezes, a consciência de que há uma bomba sob uma mesa e que ela pode explodir a qualquer momento é muito mais funcional do que acrescentar incontáveis elementos e artimanhas abaixo e acima dessa mesma mesa. E a conclusão não poderia ser mais simbólica de como as coisas se perdem completamente.
Ainda que M. Night Shyamalan seja um dos grandes nomes do cinema contemporâneo e um contador de história com uma das vozes mais singulares da Sétima Arte, é decepcionante pensar como, algumas vezes, acaba se perdendo nas peculiaridades e na profunda suavidade de seu próprio timbre. É notável que Armadilha possui uma primeira metade de almanaque, prendendo-nos em nossos assentos através de uma construção visual e narrativa extraordinária e imersiva, mas não deixa de ser frustrante observar como as coisas desmoronam próximas ao final. Shyamalan nos ensina aqui que não devemos confiar em demasia nas imagens para não nos decepcionarmos e nem nos surpreendermos negativamente. É uma pena que essa lição se aplique ao seu próprio filme.

O caburé, menor corujinha do mundo, é uma ave de rapina em cujo cardápio entram pequenas aves, roedores, lagartos, pequenas cobras. Dias atrás, apareceu um na minha sacada e levou uma rolinha-roxa para sua ceia. Saí na sacada e o vi com a rolinha presa em suas garras na ponta de um poste. Eu tinha acabado de colocar comida para ela e outras iguais e também para outras de espécies diferentes: avoantes e periquitos-de-encontro-amarelo. Agora também está vindo chupins, que é uma ave malandra, que bota seus ovos em ninhos de outras espécies e cai no mundo.
Acredito que essa corujinha deve morar perto da minha casa, pois a ouço cantando frequentemente à noite. Seu canto é uma sequência de assobios. Já fotografei uma após capturar um calango, que comia mosquitos que se alimentavam das frutas de calabura caídas no chão. Os pássaros frugívoros fazem a festa na época de frutificação, já na floração, a festança é dos insetos, principalmente das abelhas. Em alguns parques de Goiânia, há calabura. Eu também faço a minha festinha com as frutas num pé que existe no Bosque dos Buritis.
Entre as rolinhas que escaparam da investida do caburé, uma acabou entrando na minha sala e pôs-se a voar desesperada batendo na parede sem encontrar a porta pela qual entrou. Inclusive derrubou o poeta e filósofo Thoreau da parede, ou melhor, uma foto do bardo americano. Ainda bem que a moldura não quebrou. Para evitar que ela se machucasse a ponto de não conseguir mais voar, entrei em ação: consegui pegá-la jogando sobre ela uma toalha de banho quando estava no chão. Senti, em minha mão, seu coraçãozinho batendo acelerado. Recomendei-lhe calma enquanto a segurava, dizendo que tudo estava bem. Levei-a até a sacada, depois de alguns instantes, recobrou as forças, bateu asas e foi embora.
Estou contando esse episódio da rolinha para relacioná-lo ao trágico acidente aéreo no qual morreram 62 pessoas, ocorrido recentemente em Vinhedo, cidade paulista. Um homem que não conseguiu embarcar, por ter chegado atrasado, disse, numa matéria televisiva, que foi Deus que o salvou da morte. Será mesmo? Tenho dúvida. Conversei com uma amiga de trabalho, que me disse ser espírita, sobre esse entendimento do homem quanto ao milagre que recebera. Perguntei-lhe onde estava a racionalidade de Deus em salvar um e deixar que 62 morressem. Me respondeu que os 62 fazem parte de um carma coletivo: que é quando, ao mesmo tempo, um grupo de pessoas morrem num evento ou tragédia, isso pelo destino delas de virem ao mundo e se defuntarem para marcar um fato ou acidente.
O fato de poder nos moldarmos por nossas escolhas, pela construção dos nossos pensamentos, isso me deixa incrédulo em relação ao destino, atrás do qual está o fato de que a morte tem a finalidade de expiar erros de nossas vidas anteriores. Se o conjunto da nossa vida é decorrente de forças exteriores e não vindas de nossas escolhas, para que então fomos dotados de faculdade mentais? Há um bom tempo, coisa de muitos anos, um jornalista goiano, que era espírita, falou num artigo que alguém certa vez o perguntou por que uma determinada criança nasceu com anomalia física, e ele respondeu que foi em virtude de erros de outras vidas daquela criança. Não consegui digerir a resposta dele. A subjetividade religiosa constrói verdades que até Deus duvida e a razão desconhece totalmente.
Sobre a rolinha que escapou da fome do caburé, penso que, se ela pensasse (numa capenguice subjetiva), certamente diria que foi Deus que a salvou e assim deixou a outra para encher o bucho do caburé. Não passo por tal questionamento metafísico, minha toada de vida é singela. O que sei mesmo (parafraseando Fernando Pessoa), é que quero uma casa no cimo de um outeiro, haja vista que meus olhos foram empurrados para longe de todo o céu; o horizonte me foi escondido, e isso pelo fato de as casas da cidade terem fechado minha vista à chave.

Sinésio Dioliveira é jornalista, poeta e fotógrafo da natureza
- Leia também: Sono de pedra e flores do morador de rua

O escritor e pesquisador estava se preparando para lançar seu livro sobre a Amazônia em Paris. Não deu tempo. Ele morreu no dia 12 de agosto

“Vala Comum” é daqueles romances que envolvem o leitor do início ao fim. O personagem principal é cativante na sua fragilidade, pois não é uma pessoa bem-sucedida

Obra polêmica do escritor português Mário Cláudio sobre o relacionamento entre Leonardo da Vinci e Salaì ganha tradução para o italiano




