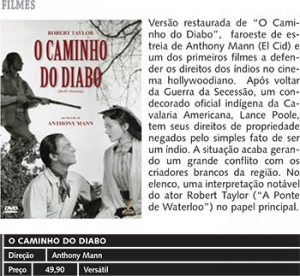Opção cultural

[caption id="attachment_9020" align="alignright" width="620"] Foto: Gaspar Nóbrega/VIPCOMM[/caption]
Maurício Falleiros
Especial para o Jornal Opção
Do nada, o homem resolveu puxar assunto no elevador, coisa que nunca tinha feito antes. Se arrependeu mortalmente.
— E a seleção ontem, hein?
— Não tem pra ninguém, né? O Neymar joga demais.
— Hum... Não acho ele tudo isso, não.
— Como não?! O cara come a bola.
— Só firula.
— Que firula, o quê?! O cara é gênio.
— Gênio é cientista, essas coisas. Ele só joga bola.
— Mas quando o assunto é bola, ele é o cara.
— Puro marketing.
Pararam no andar do homem. O outro morador saiu junto do elevador.
— Você mora nesse andar também? Nunca te vi por aqui...
— Não, moro no décimo-oitavo.
— E desceu aqui por quê?
— Pra gente terminar o nosso papo.
— Para com isso. Só tava puxando assunto.
— Você me fala que o Neymar não joga nada e fica por isso mesmo?
— Isso pode continuar outra hora. — Disse isso e entrou de supetão no apartamento.
No dia seguinte, ele abriu a porta do apartamento e deu de cara com o neymarzete.
— Que você tá fazendo aqui?
— Tomando coragem.
— Pra?
— Tocar sua campainha.
— Pra?
— Terminar aquela conversa.
— Tá nessa ainda?
— Você ainda acha que o Neymar é só firula?
— Acho.
Sem dar chance de resposta para o inconveniente, o homem correu para o elevador. O vizinho impediu a porta com o pé:
— Ainda não terminamos.
— Terminamos, sim! — Falou, empurrando o pé do vizinho para fora do elevador.
Horas mais tarde, ao chegar do trabalho, o homem por pouco não atropelou um ser que estava parado feito um cone na sua vaga. Era o vizinho.
— Não é possível! O que você quer de mim, cara?
— Que você reconheça que falou besteira!
— Eu não vou reconhecer porcaria nenhuma. O Neymar é um firulento. E você, um mala!
— Também não concordo com essa sua opinião. — Retrucou, seguindo o homem até a porta do elevador.
O homem questionou:
— Você vai subir de elevador?
— Vou, sim.
— Então, eu vou de escada.
— Eu te acompanho.
— Se você for de escada, eu vou de elevador.
— Por que isso, cara? Tá fugindo da conversa?
— Não, tô fugindo de você.
Com um salto ornamental, o homem voou para dentro do elevador apertou todos os botões e se mandou. Quando entrou no seu apartamento, o interfone tocou. Ele teve a chance de deixar o aparelho tocando, mas atendeu. Se arrependeu novamente: — Pronto.
— Arrá! Me driblou igual ao Neymar, hein? Lance de gênio! Mas eu te peguei. Bora trocar aquela ideia?
— Você?! Vai arranjar alguma coisa pra fazer, dar um trato na sua esposa, se você tiver uma ainda, sei lá!
— Tô descendo aí.
— Se aparecer aqui, eu te dou um tiro. Eu juro. E faço parecer suicídio!
Desligou o interfone e depois o tirou do gancho. Passou todas as travas na porta, preparou um uísque e pensou alto: — Nunca mais puxo assunto com ninguém. E se alguém puxar comigo, eu me faço de surdo.
Deu um gole no uísque e ouviu um barulho na porta da sacada. Virou para lado e viu um vulto. Adivinha quem era.
Maurício Falleiros é escritor.
Foto: Gaspar Nóbrega/VIPCOMM[/caption]
Maurício Falleiros
Especial para o Jornal Opção
Do nada, o homem resolveu puxar assunto no elevador, coisa que nunca tinha feito antes. Se arrependeu mortalmente.
— E a seleção ontem, hein?
— Não tem pra ninguém, né? O Neymar joga demais.
— Hum... Não acho ele tudo isso, não.
— Como não?! O cara come a bola.
— Só firula.
— Que firula, o quê?! O cara é gênio.
— Gênio é cientista, essas coisas. Ele só joga bola.
— Mas quando o assunto é bola, ele é o cara.
— Puro marketing.
Pararam no andar do homem. O outro morador saiu junto do elevador.
— Você mora nesse andar também? Nunca te vi por aqui...
— Não, moro no décimo-oitavo.
— E desceu aqui por quê?
— Pra gente terminar o nosso papo.
— Para com isso. Só tava puxando assunto.
— Você me fala que o Neymar não joga nada e fica por isso mesmo?
— Isso pode continuar outra hora. — Disse isso e entrou de supetão no apartamento.
No dia seguinte, ele abriu a porta do apartamento e deu de cara com o neymarzete.
— Que você tá fazendo aqui?
— Tomando coragem.
— Pra?
— Tocar sua campainha.
— Pra?
— Terminar aquela conversa.
— Tá nessa ainda?
— Você ainda acha que o Neymar é só firula?
— Acho.
Sem dar chance de resposta para o inconveniente, o homem correu para o elevador. O vizinho impediu a porta com o pé:
— Ainda não terminamos.
— Terminamos, sim! — Falou, empurrando o pé do vizinho para fora do elevador.
Horas mais tarde, ao chegar do trabalho, o homem por pouco não atropelou um ser que estava parado feito um cone na sua vaga. Era o vizinho.
— Não é possível! O que você quer de mim, cara?
— Que você reconheça que falou besteira!
— Eu não vou reconhecer porcaria nenhuma. O Neymar é um firulento. E você, um mala!
— Também não concordo com essa sua opinião. — Retrucou, seguindo o homem até a porta do elevador.
O homem questionou:
— Você vai subir de elevador?
— Vou, sim.
— Então, eu vou de escada.
— Eu te acompanho.
— Se você for de escada, eu vou de elevador.
— Por que isso, cara? Tá fugindo da conversa?
— Não, tô fugindo de você.
Com um salto ornamental, o homem voou para dentro do elevador apertou todos os botões e se mandou. Quando entrou no seu apartamento, o interfone tocou. Ele teve a chance de deixar o aparelho tocando, mas atendeu. Se arrependeu novamente: — Pronto.
— Arrá! Me driblou igual ao Neymar, hein? Lance de gênio! Mas eu te peguei. Bora trocar aquela ideia?
— Você?! Vai arranjar alguma coisa pra fazer, dar um trato na sua esposa, se você tiver uma ainda, sei lá!
— Tô descendo aí.
— Se aparecer aqui, eu te dou um tiro. Eu juro. E faço parecer suicídio!
Desligou o interfone e depois o tirou do gancho. Passou todas as travas na porta, preparou um uísque e pensou alto: — Nunca mais puxo assunto com ninguém. E se alguém puxar comigo, eu me faço de surdo.
Deu um gole no uísque e ouviu um barulho na porta da sacada. Virou para lado e viu um vulto. Adivinha quem era.
Maurício Falleiros é escritor.

A inter-relação entre homem e máquina atinge atualmente um nível jamais visto na história, gerando questionamentos e temores acerca do que ainda está por vir

“As Coisas Incríveis do Futebol” reúne 25 crônicas do jornalista Mário Filho, constituindo um recorte significativo de seu estilo de escrita e modo de ver o futebol. As crônicas são compostas de modo fluente, num tom coloquial, com pitadas de fina erudição, repletas de frases de efeito e construções sonoras
Ademir Luiz Especial para o Jornal Opção
[caption id="attachment_8377" align="alignright" width="260"] Mário Filho: um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro na primeira metade do século passado[/caption]
Mário Filho: um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro na primeira metade do século passado[/caption]
Eu falo muito sobre futebol. Há tempos deixei de torcer, atualmente sou mais um entusiasta do esporte pelo que ele possui de épico e humano. Admiro-me do fato do futebol ser o maior bem simbólico da humanidade. Quase todos os povos do globo, independentemente de crenças religiosas e regimes políticos, o praticam. Fique claro que estou longe de ser um cientista, um pesquisador, um catedrático da bola. Sento na arquibancada quando vou ao estádio, não fico nos camarotes ou nas cadeiras numeradas tomando chá, enrolado num cachecol e tirando fotos para postar na internet. Embora, por motivos de senso estético, evite participar da “hola”, futebol para mim é, sobretudo, diversão, ainda que diversão reflexiva. Tenho lá minhas idiossincrasias. Sou do tipo que analisa estatística, inventa esquemas táticos mirabolantes, escala equipes impossíveis formadas com os melhores de todos os tempos, de diferentes épocas. Coleciono uniformes da seleção da Holanda, tendo atualmente seis deles, incluindo o clássico de 1974. Coisa de doido!
Quem sofre são meus alunos na UEG (Universidade Estadual de Goiás). Eles, diferentemente de meus amigos e familiares, em tese, não podem me mandar calar a boca. Ultimamente, no esquenta do mundial de 2014, tenho observado que entre os estudantes universitários esse é um assunto controverso. Muitos estão influenciados pela ingênua campanha do “não vai ter Copa”, versão pós-moderna da velha ladainha de que o “futebol é ópio do povo”. Outros simplesmente afirmam que é perda de tempo, que não gostam. Outro tanto são apreciadores, mas não apresentam muito senso histórico e de proporções. Pelé, por exemplo, perdeu muito de seu prestígio nacional (não internacional) com as novas gerações, fenômeno esse que atribuo a expansão do politicamente correto que tomou conta do esporte desde a era Senna. Pouco se fala de Garrincha. Romário está se tornando folclore, enquanto Ronaldo está se tornando piada pronta. O mito de Zico tem resistido bem, talvez por se encaixar perfeitamente no arquétipo sennista de atleta.
Diante desse cenário costumo apresentar certa bibliografia para justificar meu entusiasmo, até porque na universidade tudo o que apresenta bibliografia ao final ganha ares de irrefutabilidade. Aconselho a leitura das crônicas de Nelson Rodrigues, reunidas nos volumes “À Sombra das Chuteiras Imortais” e “A Pátria em Chuteiras”, organizadas por Ruy Castro, no qual se tem verdadeiras aulas de História do Brasil, Sociologia e Antropologia via futebol. Recomendo o denso “A Dança dos Deuses”, do medievalista Hilário Franco Jr., para se aprofundar nas estruturas históricas da formação do mundo moderno e suas relações com o desenvolvimento do futebol. Insisto que leiam até o mediano “Futebol ao Sol e à Sombra”, de Eduardo Galeano, para me ancorar no prestígio do exagerado “As Veias Abertas da América Latina”, pois, espero que assim raciocinem, se o autor do segundo escreveu o primeiro, talvez o futebol não seja tão ópio assim.
Finalmente, para dar solidez de diamante aos meus argumentos, não me furto de citar dois clássicos: “O Negro no Futebol Brasileiro”, de 1947, e “Viagem em Torno de Pelé” (1964), ambos do jornalista Mário Filho (1908 – 1966). Gilberto Freyre escreveu o prefácio de “O Negro no Futebol Brasileiro”, reconhecendo-o como um trabalho fundamental para compreender a formação do Brasil. Certamente, é digno de figurar na mesma estante que os livros de Freyre. Segundo José Trajano, “nenhum de nós, jornalistas esportivos, somos capazes de engraxar os seus sapatos. Não me venham de Armando Nogueira, João Saldanha, Thomas Mazzoni ou Nelson Rodrigues, irmão dele, todos sensacionais e de tirar o chapéu. Perto de Mário Filho eles estão distantes anos-luz”. Apesar de tamanha importância, mesmo na era do PDF de internet, a obra de Mário Filho estava se tornando de difícil acesso. Depois da biografia “A Infância de Portinari”, de 1966, a última vez em que foi publicado foi na coletânea de crônicas “Sapo de Arubinha”, de 1994.

Para suprir essa lacuna a editora Ex Machina, fundada recentemente por Bruno Costa, ex-sócio da Editora Hedra de São Paulo, lançou “As Coisas Incríveis do Futebol — as melhores crônicas de Mário Filho”, com apresentação de José Trajano e organização de Francisco Michielin. Não poderia ser em melhor hora, considerando que Mário Filho foi um dos nomes mais importantes nos bastidores da Copa de 1950, sendo que o estádio Maracanã foi batizado oficialmente com seu nome. Sessenta e quatro anos depois o Brasil sedia novamente o mundial. “As Coisas Incríveis do Futebol” reúne 25 crônicas de Mário Filho, constituindo um recorte significativo de seu estilo de escrita e modo de ver o futebol. As crônicas são compostas de modo fluente, num tom coloquial, com pitadas de fina erudição, repletas de frases de efeito e construções sonoras, boas para serem lidas em voz alta. Parece-me que ali está capturado, e retrabalhado literariamente, o modo de falar das décadas de 1940 e 50, corte cronológico do volume. A crônica mais antiga, intitulada “Sururu”, foi publicada em “O Globo Esportivo” em 5 de outubro de 1945, enquanto a mais recente, intitulada “O individualismo no futebol brasileiro”, foi publicada na “Manchete Esportiva” no dia 6 de abril de 1957. O título da coletânea foi extraído de uma série de sete crônicas que Mário Filho publicou entre setembro e outubro de 1947, em “O Globo Esportivo”, sendo que algumas delas, trazendo histórias pitorescas sobre personagens do mundo do futebol, estão presentes no livro.
Mas o livro vai muito além de histórias pitorescas. Entranhadas nas crônicas, quase que como anéis escondidos, estão presentes algumas reflexões profundas e complexas sobre a realidade sociocultural do Brasil. Na citada crônica sobre “O individualismo no futebol brasileiro”, Mário Filho dialoga com a tese de Sérgio Buarque de Holanda sobre o bacharelismo reinante das relações sociais brasileiras ao escrever que a “maneira de ser brasileira, a do brilho pessoal, a do anel de doutor no dedo, mesmo sem diploma, a do título de doutor, mesmo sem anel, a do discurso, a do soneto, pecados que todos cometiam ou se vangloriavam de ter cometido, às vezes em confissões como que envergonhadas mas que no fundo eram sussurros do orgulho humilhado”, motivavam o futebol livre, leve e solto praticado pelos brasileiros, que subvertia a lógica original do esporte frio e calculado dos inventores ingleses.
Em outro momento, na crônica “O torcedor de rádio”, de 10 de fevereiro de 1950, Mário Filho antevê a importância que o futebol teria nas décadas seguintes para a cultura de massa. Pergunta: “Quem não andou torcendo pelo rádio por ocasião do campeonato do mundo? Gente que nunca se preocupara com futebol descobriu, de um momento para outro, uma vocação irresistível de torcedor”.
A seleção de textos realizada por Francisco Michielin enfoca, sobretudo, episódios cotidianos do esporte, usando-os como trampolim para voos maiores de imaginação, como na crônica “O poeta e o passado”, com participação especial de José Lins do Rego, e reflexões sobre o desenvolvimento e as características peculiares do futebol conforme praticado no Brasil. No posfácio, Michielin explica que “Mário Filho foi um pioneiro, um inovador, alargando sua influência. Que ele tenha mudado a abordagem do futebol, através da imprensa, é fato notoriamente reconhecido e celebrado por todos (...) dotado de uma estética de rara singeleza, a nos fazer rodopiar por um carrossel de alegorias e alegrias; existenciais, expositivas, dramáticas, irreverentes e, sobretudo, inteligentes”. Por esse trecho parece-me evidente que os critérios de seleção foram mais estético-literários do que históricos. Certamente, é um critério válido já que o livro se propõe a republicar as “melhores crônicas” do autor. Contudo, não deixa de fazer falta a faceta de Mário Filho enquanto testemunha da história. Seria interessante ler suas perspectivas acerca de episódios como a surpreendente campanha da Seleção Brasileira na Copa de França de 1938, o Maracanaço de 1950, a Batalha de Berna de 1954, a vitória em 1958, o bi em 1962. Quem sabe pode ser o mote para um segundo volume.
[caption id="attachment_8378" align="alignright" width="620"] Mário Filho e o irmão Nelson Rodrigues: enquanto Nelson buscava o épico, Mário cultivava o humano[/caption]
Mário Filho e o irmão Nelson Rodrigues: enquanto Nelson buscava o épico, Mário cultivava o humano[/caption]
Ao mesmo tempo chama atenção a opção por praticamente não enfocar grandes craques da época, como Pelé, Garrincha, Di Stefano ou Puskas. Estrela o livro figuras semiesquecidas, como Belfort Duarte, Haroldo e Mimi Sodré. O célebre zagueiro Domingos da Guia é uma exceção, e mesmo essa exceção surge de modo a reforçar o esquema geral.
Nesse ponto cabe uma comparação, que fiz questão de evitar até o momento, entre Mário Filho e Nelson Rodrigues. Embora a escrita do caçula fosse claramente devedora do estilo do primogênito, os objetivos eram diametralmente opostos. Enquanto Nelson Rodrigues buscava o épico, Mário Filho cultivava o humano. Não é por acaso que o título da coluna de Nelson Rodrigues era “à sombra das chuteiras imortais”, ele de fato retratava seus personagens como deuses do futebol, como figuras acima da vida. Afirmava que o meia Didi possuía a dignidade inata de um “Príncipe Etíope”, defendia que do peito de Pelé “parecem pender mantos invisíveis”, para ele “Garrincha está acima do bem e do mal”.
Nada disso aparece no irmão mais velho. Mário Filho fala do capitão de time que não tem tostão para pegar o bonde, do jogador honesto demais para fazer falta em um companheiro de trabalho, do perneta que jogava futebol. Tipos muito próximos dos torcedores, dando a sensação que os protagonistas de suas crônicas poderiam ser seus vizinhos, amigos ou até eles mesmos. A crônica “Notas para uma biografia de Domingos da Guia” é sintomática. Nela não aparece o beque genial, lendário, mitológico, o atleta acima de todos os outros. Não, longe disso, aqui Domingos da Guia surge como Domingos Antônio, apenas o mais habilidoso de uma família que trazia o futebol no sangue (Mário Filho não sabia que o melhor estava por vim, na figura do divino mestre Ademir da Guia). Domingos é retratado como um homem humilde, até ingênuo, mas muito correto e trabalhador. Um homem que achava que “meu futuro não está no futebol”, que labutou como mata-mosquitos e serralheiro, só jogando futebol nos finais de semana, que tinha receio de ofender os cartolas ao negociar seus contratos. O Domingos da Guia de Mário Filho não joga com chuteiras imortais, é, sim, humano, demasiadamente humano.
Esse senso de humanidade é justamente o maior legado deixado por Mário Filho, que fez pelo futebol o que Gilberto Freyre fez pela Casa-grande, pela Senzala, pelos sobrados e pelos mucambos. Suas crônicas são obrigatórias, foram coisas incríveis que o futebol permitiu que existissem.
Ademir Luiz é escritor e doutor em História.
Editor da Ex Machina é o goiano Bruno Costa
A Ex Machina, editora nacional, é dirigida pelo goiano Bruno Costa, ex-editor da Hedra (onde fez um trabalho magistral). Ele mora em São Paulo há vários anos.
Bruno Costa, além de editor nato e atilado, é tradutor do primeiro time. Intelectual, conhece literatura como poucos.
“As Coisas Incríveis do Futebol — As Melhores Crônicas de Mário Filho” é o primeiro livro editado pela Ex Machina. As crônicas, em tempo de Copa do Mundo, ganharam resenhas e notas nos principais jornais do país. O livro foi publicado com o habitual capricho do jovem editor.

Vem a vida em sua energia secreta e natural, intraduzível e irrevelada, cozinhando devagar suas transformações de cada dia, em silêncio. Conspirando para fazer o nosso tempo passar mais devagar

Em “Complacência” os economistas Fábio Giambiagi e Alexandre Schwartsman navegam por temas complexos da economia brasileira procurando desmitificar e responder por que o país, mesmo com a grande oferta de empregos, vem crescendo tão pouco

O cantor, compositor e escritor concede uma entrevista exclusiva, tão inteligente e criativa quanto suas músicas. O leitor ficará surpreso com a pertinência das respostas

Leitor de vida inteira de Marcel Proust, Pedro Nava, também conhecedor de Henri Bergson, entendeu os mecanismos da memória involuntária. Sua obra é profundamente proustiana, influência que proclamou abertamente. Daí sua fixação obsessiva com a passagem do tempo, como confessava

A principal característica do Prêmio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa é que não perde o rigor de sua narrativa nem tem medo de enveredar por experiências formais

“Widmung” é uma declaração de amor invulgar, cuja letra foi extraída dos versos do poeta Friedrich Rückert. Tornou-se especialmente famosa entre os cultores da música erudita, sobretudo, por sua popularização crescente como peça fundamental do canto lírico mundial

J.C. Guimarães
Especial para o Jornal Opção
 Martiniano Almeida Rossi, 61 anos: não inventarei um personagem. É este aí mesmo. Militante político, publicitário e engenheiro (gostaria nessa ordem, provavelmente), foi um dos fundadores do nosso partido. Foi também um líder de caráter, idealista e coerente.
Faleceu num sábado, 29 de agosto. Um dia antes me ligara: era o último de sua vida — como poderia saber? —, mas estava interessado numa coisa de somenos importância, diante da enormidade do passo seguinte. Queria saber se eu topava pleitear uma vaga na direção municipal. Com a voz estrangulada pela rouquidão, quase não entendi o que falava. Propora indicar o meu nome para a chapa vencedora; se dispôs a defendê-lo como postulante do grupo. Aceitei sua ilusão e respondi-lhe com firmeza, como se travássemos um despreocupado diálogo entre Esculápio e Ganimedes. Foi a última vez que nos falamos.
Antes que morresse nos encontramos algumas vezes, em sequência. A quarta vez foi há duas semanas, em sua casa, nas proximidades da Praça Cívica. O motivo, ordinário, era o partido: o partido era o elo que nos unia e nos separava. Marcus Messner, o egoísta, não tinha mais o gosto religioso das confrarias, como seu amigo de outros tempos, que se tornava, gradativamente, uma relíquia histórica. Messner achava insuportável a ideia de viver e morrer em função do grupo, como se o mundo permanecesse dividido entre comunistas e capitalistas: talvez o quiséssemos; talvez fosse insuportável perder o chão, mas a vida não liga. A história é a maior potência da história. Desenraiza-nos, atropela nossas paixões. É invencível.
Entre debiques e fumaradas, Martiniano se divertia com reuniões muito mais do que eu — como aliás se divertiu, naquele dia, no início da tarde. Na roda encontrávamos eu, ele, uma professora do primário, um casal de funcionários públicos, uma empregada doméstica e um jornaleiro gordo e bonachão, que descia de Nerópolis: Daniel, a erva daninha.
Quase nunca dava certo de nos encontrar: éramos poucos e pouca a motivação. Suspeitei, por isso, que a urgência do seu caso foi mais interessante do que o pretexto original: pela primeira vez havia um acordo mútuo, entre nós. Com muito custo nos encontrávamos durante o ano e, agora, num único mês conseguimos articular duas reuniões em sequência: foram o terceiro e o segundo encontros. Se morresse um de nós a cada mês, em breve passaríamos de uma centena. Tentamos trazer outros elementos e a conversa estendeu-se até a uma importante entidade de trabalhadores rurais. Vislumbramos uma terceira reunião com um número dobrado de participantes. Só que não houve a terceira reunião, nem houve mais planos. As adesões não se confirmaram. Fracassamos pela enésima vez, admiravelmente quixotescos.
Na noite seguinte retornei sozinho à casa de Martiniano, a seu pedido, pois ele queria avaliar o quadro. Recolhemo-nos na área dos fundos, de parelha com a cozinha. A empregada trouxe à mesa pães de queijo assados na hora e um saquinho de soja torrada. Martiniano abriu uma Bohemia e tomamos juntos.
Bem baixinho, ouvi uma valsa de Strauss vindo de seu escritório (por alguma motivo eu me lembrei das músicas incidentais, nos filmes). Não era na verdade uma valsa de Strauss, mas eu não sabia que música era aquela e acreditei que ele poderia gostar de Strauss. Tinha seus refinamentos burgueses, apesar da filiação comunista. Sua casa era enorme e ele possuía um Fritz Dobbert, jazendo solenemente num dos cômodos espaçosos. Uma litografia de Siron, quadros de Antônio Poteiro e de outros artistas de renome enfeitavam as paredes da sala de visitas.
Martiniano vivia bem, da forma que se merece, e eu não poderia censurar aquele amigo dos pobres por ter conquistado alguma dignidade. Na estante destacavam-se, ao primeiro golpe de vista, as grossas lombadas vermelhas das biografias de Che, Stálin e Mao, vidas pelas quais nunca me interessei. Enquanto degustávamos os aperitivos, olhei para ele e sugeri:
“Vamos esquecer a formação do grupo. Já há muitos partidos no partido, não acha?”
Preparei-me para ser duramente altercado, pois ele envolvera-se na causa a ponto de ainda mandar tomar no cu, como fazia todas as vezes em que se sentia contrariado. Era bom sinal que me mandasse tomar no cu, coisa que eu não tinha coragem de mandá-lo fazer. Era bem mais velho do que eu e, apesar de ser liberal e curtidor, uma espécie de respeito se me impunha e eu não conseguia tratá-lo com tanta intimidade.
Apesar da doença Martiniano teimava em viver com certa normalidade seus últimos dias, e por isso portava-se como um imaculado. Tentando enganar-se, acho, ele agia como se tudo estivesse sob controle, embora porcaria nenhuma estivesse mais sobre controle. Ainda me ligava com a frequência habitual, passava e-mails, jogava paciência em seu computador, bebia cerveja e interessava-se pelos destinos do grêmio. E continuava fumando um cigarro atrás do outro, mais ansioso do que nunca. Eram expressões de seu interesse pela vida. Como repreendê-lo pela anestésica carteira diária de Carlton?
Se tinha medo, não é o que desejava transparecer, irônico ainda, risonho ainda. Um lapso e a certeza: vai se recuperar, por que não? Com tal interesse pela vida, eu poderia jurar que daria a volta por cima e faríamos muitas outras reuniões — quem sabe ainda viraríamos o mundo de pernas pro ar, como ele sonhava! Erámos sete personagens típicos, que lembravam o germe das revoluções inacabadas. Que me lembravam “A Jangada”, de Gericault... De qualquer modo achei sinceramente que seria possível: a vida não é um amontoado de absurdos? Tudo pode mesmo acontecer, se você acredita, se você se empenha.
Para minha surpresa, ante a ideia de abortar nossos movimentos, Martiniano apenas olhou para mim e deu um sorriso de aceitação. Isso não fazia parte do script.
Tive a impressão de que o sorriso dele flutuara fora do tempo. Pensamentos terríveis minavam a atenção de Martiniano, enquanto ele sorvia a cerveja e tragava um cigarro, que o tragava. A intervalos tossia e pigarreava, massageando a garganta enfermiça. O pijama de seda deixava seu aspecto ainda mais lívido e convalescente: quase morto. Não respondeu nada durante alguns minutos, sentado, quieto. Limitou-se a contemplar o que já não cabia em pensamentos. Dado instante, fechara os olhos e roçara a testa, afogando-se para dentro de si. Eu estava vendo derreter uma estátuas de cera, como aquelas dos museus. Novo trago. Olhei de novo; novo e discreto sorriso, eloquente de doer (um amigo por perto pode servir de boia no pânico, eu recordaria nas próximas horas).
Deixar tudo de lado já não soava uma perda tão importante assim. Dali a pouco eu me despedi com a trivialidade de sempre, sem saber, ignorante, que nunca mais apertaria a sua mão. O último contato e a última palavra entre amigos podem ser de uma banalidade impressionante. Assim aconteceu entre eu e ele.
Na segunda-feira, 31, ao chegar ao trabalho, meu diretor me surpreende ao dizer que Martiniano “morreu”. Incrédulo, fui ao jornal do dia, olhei e lá estava ele, Martiniano, estampado sob a nota ruim e inequívoca, despertando-me para a realidade, mais irreal do que o sonho. Era mesmo ele: o homem de chapéu de feltro e barba destruída pela quimioterapia — um líder perdido para a doença. Mas, alegre, continuava sorrindo para nós, como se fosse imune. A alegria que é a maior recusa, o maior protesto. Vá lá o corpo — mas o que são feitos dos sentimentos de uma pessoa, quando ela morre? Caberá mesmo numa cova o coração de um homem?
Leio o conteúdo inacreditável, conheço sua agonia e descubro que tinha sido sepultado no dia anterior. Enquanto morria eu traçava planos de futuro, sem nunca imaginar como foi duro o seu final de semana. Hemorragia, parada cardíaca e óbito.
Conhecia Martiniano há três anos. Apesar da diferença de idade que nos separava, quis de mim um amigo, desses de sair para o boteco. Fiquei devendo a ele uma rodada, que para sempre teceu um vínculo de afeto entre nós. Nunca lhe perguntei se acreditava na vida após a morte (não sofria a doença da gravidade, como eu). Se ela existe, saberá agora que não resisti de fazer esse conto, com feitio de crônica, em sua homenagem. As palavras me atormentaram e tive de me livrar delas, para sobreviver sem omissão. Naquela mesma segunda-feira, à noite, eu conferi no celular as chamadas recebidas e lá estava, pela última vez, o seu nome: “Martiniano 28/08/09 15:22”.
Fiquei olhando seu nome, o dia e a hora cravada. Deti-me por um momento, perplexo com esses dados, aparentemente insignificantes. Eu estava agora diante do último criptograma, diante já do mistério insondável e surpreendente que nos assusta feito crianças.
J.C. Guimarães é escritor e crítico literário.
Martiniano Almeida Rossi, 61 anos: não inventarei um personagem. É este aí mesmo. Militante político, publicitário e engenheiro (gostaria nessa ordem, provavelmente), foi um dos fundadores do nosso partido. Foi também um líder de caráter, idealista e coerente.
Faleceu num sábado, 29 de agosto. Um dia antes me ligara: era o último de sua vida — como poderia saber? —, mas estava interessado numa coisa de somenos importância, diante da enormidade do passo seguinte. Queria saber se eu topava pleitear uma vaga na direção municipal. Com a voz estrangulada pela rouquidão, quase não entendi o que falava. Propora indicar o meu nome para a chapa vencedora; se dispôs a defendê-lo como postulante do grupo. Aceitei sua ilusão e respondi-lhe com firmeza, como se travássemos um despreocupado diálogo entre Esculápio e Ganimedes. Foi a última vez que nos falamos.
Antes que morresse nos encontramos algumas vezes, em sequência. A quarta vez foi há duas semanas, em sua casa, nas proximidades da Praça Cívica. O motivo, ordinário, era o partido: o partido era o elo que nos unia e nos separava. Marcus Messner, o egoísta, não tinha mais o gosto religioso das confrarias, como seu amigo de outros tempos, que se tornava, gradativamente, uma relíquia histórica. Messner achava insuportável a ideia de viver e morrer em função do grupo, como se o mundo permanecesse dividido entre comunistas e capitalistas: talvez o quiséssemos; talvez fosse insuportável perder o chão, mas a vida não liga. A história é a maior potência da história. Desenraiza-nos, atropela nossas paixões. É invencível.
Entre debiques e fumaradas, Martiniano se divertia com reuniões muito mais do que eu — como aliás se divertiu, naquele dia, no início da tarde. Na roda encontrávamos eu, ele, uma professora do primário, um casal de funcionários públicos, uma empregada doméstica e um jornaleiro gordo e bonachão, que descia de Nerópolis: Daniel, a erva daninha.
Quase nunca dava certo de nos encontrar: éramos poucos e pouca a motivação. Suspeitei, por isso, que a urgência do seu caso foi mais interessante do que o pretexto original: pela primeira vez havia um acordo mútuo, entre nós. Com muito custo nos encontrávamos durante o ano e, agora, num único mês conseguimos articular duas reuniões em sequência: foram o terceiro e o segundo encontros. Se morresse um de nós a cada mês, em breve passaríamos de uma centena. Tentamos trazer outros elementos e a conversa estendeu-se até a uma importante entidade de trabalhadores rurais. Vislumbramos uma terceira reunião com um número dobrado de participantes. Só que não houve a terceira reunião, nem houve mais planos. As adesões não se confirmaram. Fracassamos pela enésima vez, admiravelmente quixotescos.
Na noite seguinte retornei sozinho à casa de Martiniano, a seu pedido, pois ele queria avaliar o quadro. Recolhemo-nos na área dos fundos, de parelha com a cozinha. A empregada trouxe à mesa pães de queijo assados na hora e um saquinho de soja torrada. Martiniano abriu uma Bohemia e tomamos juntos.
Bem baixinho, ouvi uma valsa de Strauss vindo de seu escritório (por alguma motivo eu me lembrei das músicas incidentais, nos filmes). Não era na verdade uma valsa de Strauss, mas eu não sabia que música era aquela e acreditei que ele poderia gostar de Strauss. Tinha seus refinamentos burgueses, apesar da filiação comunista. Sua casa era enorme e ele possuía um Fritz Dobbert, jazendo solenemente num dos cômodos espaçosos. Uma litografia de Siron, quadros de Antônio Poteiro e de outros artistas de renome enfeitavam as paredes da sala de visitas.
Martiniano vivia bem, da forma que se merece, e eu não poderia censurar aquele amigo dos pobres por ter conquistado alguma dignidade. Na estante destacavam-se, ao primeiro golpe de vista, as grossas lombadas vermelhas das biografias de Che, Stálin e Mao, vidas pelas quais nunca me interessei. Enquanto degustávamos os aperitivos, olhei para ele e sugeri:
“Vamos esquecer a formação do grupo. Já há muitos partidos no partido, não acha?”
Preparei-me para ser duramente altercado, pois ele envolvera-se na causa a ponto de ainda mandar tomar no cu, como fazia todas as vezes em que se sentia contrariado. Era bom sinal que me mandasse tomar no cu, coisa que eu não tinha coragem de mandá-lo fazer. Era bem mais velho do que eu e, apesar de ser liberal e curtidor, uma espécie de respeito se me impunha e eu não conseguia tratá-lo com tanta intimidade.
Apesar da doença Martiniano teimava em viver com certa normalidade seus últimos dias, e por isso portava-se como um imaculado. Tentando enganar-se, acho, ele agia como se tudo estivesse sob controle, embora porcaria nenhuma estivesse mais sobre controle. Ainda me ligava com a frequência habitual, passava e-mails, jogava paciência em seu computador, bebia cerveja e interessava-se pelos destinos do grêmio. E continuava fumando um cigarro atrás do outro, mais ansioso do que nunca. Eram expressões de seu interesse pela vida. Como repreendê-lo pela anestésica carteira diária de Carlton?
Se tinha medo, não é o que desejava transparecer, irônico ainda, risonho ainda. Um lapso e a certeza: vai se recuperar, por que não? Com tal interesse pela vida, eu poderia jurar que daria a volta por cima e faríamos muitas outras reuniões — quem sabe ainda viraríamos o mundo de pernas pro ar, como ele sonhava! Erámos sete personagens típicos, que lembravam o germe das revoluções inacabadas. Que me lembravam “A Jangada”, de Gericault... De qualquer modo achei sinceramente que seria possível: a vida não é um amontoado de absurdos? Tudo pode mesmo acontecer, se você acredita, se você se empenha.
Para minha surpresa, ante a ideia de abortar nossos movimentos, Martiniano apenas olhou para mim e deu um sorriso de aceitação. Isso não fazia parte do script.
Tive a impressão de que o sorriso dele flutuara fora do tempo. Pensamentos terríveis minavam a atenção de Martiniano, enquanto ele sorvia a cerveja e tragava um cigarro, que o tragava. A intervalos tossia e pigarreava, massageando a garganta enfermiça. O pijama de seda deixava seu aspecto ainda mais lívido e convalescente: quase morto. Não respondeu nada durante alguns minutos, sentado, quieto. Limitou-se a contemplar o que já não cabia em pensamentos. Dado instante, fechara os olhos e roçara a testa, afogando-se para dentro de si. Eu estava vendo derreter uma estátuas de cera, como aquelas dos museus. Novo trago. Olhei de novo; novo e discreto sorriso, eloquente de doer (um amigo por perto pode servir de boia no pânico, eu recordaria nas próximas horas).
Deixar tudo de lado já não soava uma perda tão importante assim. Dali a pouco eu me despedi com a trivialidade de sempre, sem saber, ignorante, que nunca mais apertaria a sua mão. O último contato e a última palavra entre amigos podem ser de uma banalidade impressionante. Assim aconteceu entre eu e ele.
Na segunda-feira, 31, ao chegar ao trabalho, meu diretor me surpreende ao dizer que Martiniano “morreu”. Incrédulo, fui ao jornal do dia, olhei e lá estava ele, Martiniano, estampado sob a nota ruim e inequívoca, despertando-me para a realidade, mais irreal do que o sonho. Era mesmo ele: o homem de chapéu de feltro e barba destruída pela quimioterapia — um líder perdido para a doença. Mas, alegre, continuava sorrindo para nós, como se fosse imune. A alegria que é a maior recusa, o maior protesto. Vá lá o corpo — mas o que são feitos dos sentimentos de uma pessoa, quando ela morre? Caberá mesmo numa cova o coração de um homem?
Leio o conteúdo inacreditável, conheço sua agonia e descubro que tinha sido sepultado no dia anterior. Enquanto morria eu traçava planos de futuro, sem nunca imaginar como foi duro o seu final de semana. Hemorragia, parada cardíaca e óbito.
Conhecia Martiniano há três anos. Apesar da diferença de idade que nos separava, quis de mim um amigo, desses de sair para o boteco. Fiquei devendo a ele uma rodada, que para sempre teceu um vínculo de afeto entre nós. Nunca lhe perguntei se acreditava na vida após a morte (não sofria a doença da gravidade, como eu). Se ela existe, saberá agora que não resisti de fazer esse conto, com feitio de crônica, em sua homenagem. As palavras me atormentaram e tive de me livrar delas, para sobreviver sem omissão. Naquela mesma segunda-feira, à noite, eu conferi no celular as chamadas recebidas e lá estava, pela última vez, o seu nome: “Martiniano 28/08/09 15:22”.
Fiquei olhando seu nome, o dia e a hora cravada. Deti-me por um momento, perplexo com esses dados, aparentemente insignificantes. Eu estava agora diante do último criptograma, diante já do mistério insondável e surpreendente que nos assusta feito crianças.
J.C. Guimarães é escritor e crítico literário.

A nova legislação dizia bem assim: que cada família se virasse e tomasse tento dos seus doentes mentais, ao invés de atirá-los à clausura, ao abandono, ao esquecimento de um hospício cujos corredores tinham um cheiro de fezes mesclado ao eucalipto dos desinfetantes”

Proust não foi apenas um analista da alma. Ele viveu o fim de uma era e foi o historiador dessa agonia. Um cronista da decadência que produziu a crônica impiedosa e fiel de uma sociedade moribunda que desaguou na carnificina da primeira Guerra Mundial
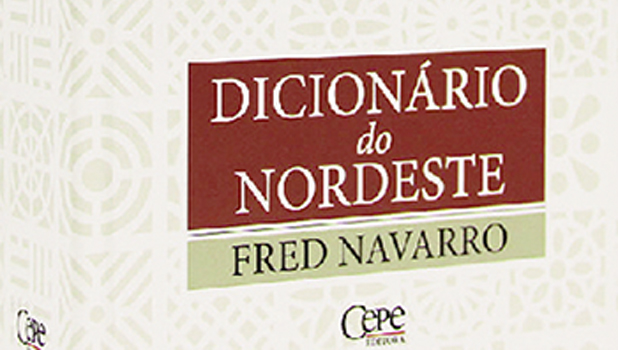
Em “Dicionário do Nordeste”, Fred Navarro lança sua rede em várias direções, como que batendo uma foto polaroide do Nordeste, em sua geografia, história, culinária, vestimenta, literatura, gíria, fauna e flora

Crítico norte-americano é arquétipo a ser perseguido pelo jornalismo cultural — há tempos relegado aos rodapés dos periódicos e pálido em suas econômicas observações