Opção cultural

Projeto começa no próximo dia 29, em Inhumas. Os grupos Cocada Coral e Ave Eva se apresentarão às 16h em um show aberto ao público

Texto daquele que seria seu 14º longa-metragem é uma adaptação do romance “Segredo Ardente”, escrito pelo austríaco Stefan Zweig em 1913

Peça será apresentada nesta quarta-feira (25), às 20h, no teatro-sede localizado na Rua do Lazer (rua 8), no Centro, em Goiânia

Há 40 anos, neste mesmo mês de julho (dia 6), morria um dos maiores escritores católicos do Brasil

Informação de que GoT voltará em 2019 já era de conhecimento geral, mas diretor Casey Bloys revelou mais um detalhe; oitava temporada será a última da série

Marcarão presença as artistas Cláudia Lucia, Jéssika Gomes, Isabella Bruno, Luz Negra, Renata, além de Janaína Soldera, Camila Ribeiro e Juliana Jardel
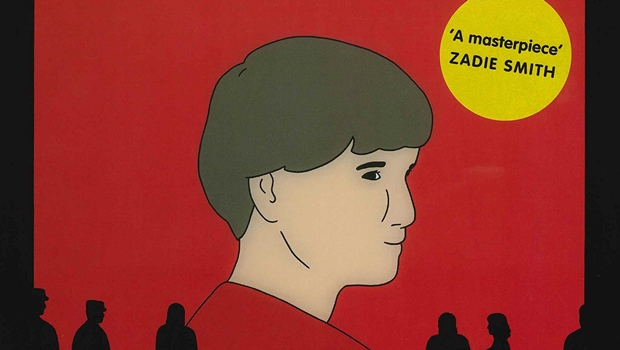
Sabrina, do norte-americano Nick Drnaso, é uma das 13 indicadas. Obra fala do desaparecimento de uma garota através de 24 horas de notícias

Curadora acredita que a escolha da homenageada trará discussões mais existenciais e filosóficas ao evento, sem abrir mão da diversidade e debates políticos

São vagas para Desenho, Fotografia, Narrativas Audiovisuais, Serigrafia, Dança Espanhola, K Pop, Ballet, Dança de Salão, Teatro e iniciação à técnica vocal, leitura musical e prática coral

Leilão com a raridade será feito em setembro

Personagens Juca Mole e Ana Banana são as atrações da peça “Uma História de Amor ou um Rato Astronauta”. Entrada é franca
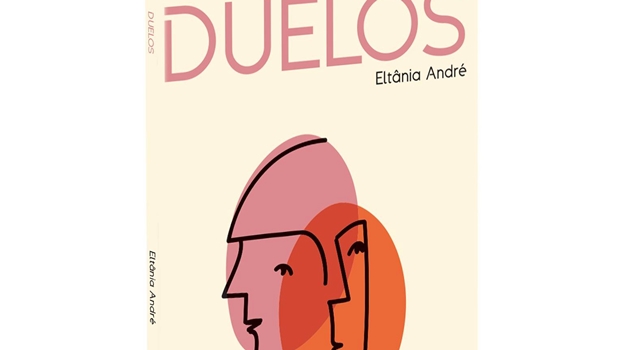
Autora lança a coletânea de contos "Duelos", pela editora Patuá, no Festival Literário de Paraty, que tem início nesta quarta-feira (25)

Balanço de inscrições do festival soma um total 999 curtas-metragens inscritos

Em Goiás, apesar de não haver registros recentes, diversos episódios de fraude de obras de arte já causaram ruidosa repercussão entre marchands e colecionadores. Especialistas comentam o assunto, permeado pela subjetividade e controvérsia

Publicada este ano pela editora gaúcha Dublinense, a primeira obra do escritor angolano a entrar no mercado brasileiro conta a história desta Maria do título, numa estrutura que lembra um romance epistolar


