Imprensa
O aforismo “pobre México: tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos” pode ser refeito, em parte, com a grande notícia da semana em termos de imprensa. O bilionário mexicano Carlos Slim — fortuna avaliada em 73 bilhões de dólares — se tornou, na semana passada, o acionista majoritário de um símbolo máximo dos Estados Unidos, seu principal jornal, o “New York Times”. Talvez seja possível dizer: “Pobre ‘New York Times: tão longe de Deus e tão perto do México”. Depois de fazer um empréstimo para o “Times”, Carlos Slim comprou mais ações e agora tem 16,8% da Time Co., grupo que dirige o jornal. Os Estados Unidos ampliou seu território abusando de atos violentos contra o México. Agora, via finanças, o México compra uma “parte” significativa dos Estados Unidos, um de seus símbolos culturais e de poder. O “Times” é o World Trade Center da imprensa americana.

 O ex-jogador Alex, que estava no Coritiba e brilhou em vários times, como o Palmeiras, é o mais novo comentarista esportivo da ESPN. Em campo, Alex era craque, às vezes lembrando Eneias, o da Portuguesa, com suas “ausências” do jogo. Na televisão, com sua ampla visão do que é futebol, certamente vai brilhar.
De futebol, Alex entende, e muito. Precisa tão-somente aprender a falar para os telespectadores. Os debates esportivos são centrados mais no ego dos comentaristas e os telespectadores são quase sempre esquecidos. PVC brilha porque jamais esquece de que não está falando para convertidos. Ele dialoga com aqueles que estão assistindo, entendem de futebol, mas não são especialistas. É didático, com seus muitos dados, mas não é chato nem pretensioso.
O ex-jogador Alex, que estava no Coritiba e brilhou em vários times, como o Palmeiras, é o mais novo comentarista esportivo da ESPN. Em campo, Alex era craque, às vezes lembrando Eneias, o da Portuguesa, com suas “ausências” do jogo. Na televisão, com sua ampla visão do que é futebol, certamente vai brilhar.
De futebol, Alex entende, e muito. Precisa tão-somente aprender a falar para os telespectadores. Os debates esportivos são centrados mais no ego dos comentaristas e os telespectadores são quase sempre esquecidos. PVC brilha porque jamais esquece de que não está falando para convertidos. Ele dialoga com aqueles que estão assistindo, entendem de futebol, mas não são especialistas. É didático, com seus muitos dados, mas não é chato nem pretensioso.
Jornais precisam de pautas que provocam polêmica, e políticos — não apenas José Nelto, do PMDB — são experts em produzir pautas que não levam a nada. A história do fim do Tribunal de Contas dos Municípios, que também já foi ventilada pelo Jornal Opção, é quase tão velha quanto Matusalém. Mas o que o leitor deve saber, agora e sempre, é que o TCM não será extinto. Assim como deputados — ou um deputado — não querem seu fim. Alguns querem tão-somente ser conselheiros. O resto é ficção.

 Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, Hermes Leal é um ser múltiplo, de muitas inquietudes e criações. Ele é jornalista, escritor, biógrafo, roteirista e documentarista. É mestre em cinema pela Universidade de São Paulo e doutorando em semiótica na mesma unidade de ensino. Escreveu o romance “Faca na Garganta”, as biografias “O Enigma do Coronel Fawcett” (copiadíssimo por um jornalista americano, que não lhe deu o devido crédito) e “O Homem da Montanha” e o livro “O Quilombo Perdido”. Agora está lançando o romance “Antes Que o Sonho Acabe”, que ainda não li, mas entrou para minha lista penelopiana. Como não li, publico o longo release da Geração Editorial.
O romance “Antes Que o Sonhe Acabe” tem 208 páginas e custa R$ 29,90.
Material da Geração Editorial
Dançando conforme a música
No antigo seriado “Túnel do Tempo”, os personagens são enviados ao passado e dançam conforme a música para escapar de situações difíceis, como uma guerra em andamento. Na verdade, isso acontece com cada um de nós. Quem nasce hoje, por exemplo, terá que enfrentar o mundo tal qual ele é, com todas as suas virtudes e vicissitudes. Em “Antes Que o Sonho Acabe”, o personagem Daniel vê-se enredado pelos acontecimentos da década de 1970, entre os quais a guerrilha na selva amazônica. Mas este episódio é apenas um pano de fundo para apresentar um rapazinho meigo, sem malícia, amigo íntimo da natureza, que sonhava com uma vida melhor e fugir daquele fim de mundo às margens do rio Tocantins. Mas as circunstâncias vão alterando os seus planos. A cada dificuldade, no entanto, Daniel vai crescendo, transformando espinhos em amadurecimento, dificuldades em sabedoria. Mas não tinha muita consciência disso durante a turbulência da vida. Nada como a memória para voltar ao passado e aprender duas vezes. É o túnel do tempo que existe em cada um de nós. O personagem Daniel é maior que a história que tenta aprisioná-lo como um bicho. Com a palavra, Hermes Leal.
Uma paixão arrebatadora nasce em meio a uma revolução
Baseado em fatos reais, “Antes Que o Sonho Acabe” é uma aula singela sobre o triste episódio de caça aos comunistas na selva amazônica, mas, sobretudo, a história de um adolescente sonhador, que vira herói sem querer. Os acontecimentos se desenrolam nos anos 60 e 70 do século recém-findo [20]. O personagem Daniel relata a sua visão sobre aspectos da guerrilha e da ditadura militar brasileira (1964-1971), período em que passou a infância e a adolescência em lugares remotos do norte do Brasil, às margens do Rio Tocantins, não muito distante do Rio Araguaia. Para lá se embrenharam parte dos guerrilheiros brasileiros que sonhavam com uma sociedade igualitária, influenciados pelos ideais socialistas e comunistas soprados pela ex-União Soviética e Cuba. Eram estudantes de São Paulo e Rio de Janeiro, em sua maioria. Chamados de terroristas, eles se instalaram inicialmente às margens do Tocantins e depois migraram para áreas de combate na selva, próximo às cidades de Marabá (PA) e Xambioá (TO).
Se o povo das grandes cidades apenas ouvia falar “dos tais comunistas que comiam criancinhas”, o personagem Daniel viveu bem pertinho deles e percebeu que a história está mal contada. Os absurdos que presenciou logo o levaram a ajudar um casal de guerrilheiros (Diana e Osvaldo) a fugir pela floresta amazônica, escapando, os três, sob o fogo cruzado do exército. O envolvimento deu-se por acaso, mas, de qualquer modo, Daniel acabou tomando parti do, colocando a própria vida em risco. E percebeu que a ditadura espalhava boatos mentirosos acerca dos “terroristas”, para que eles fossem caçados como bichos pelos mateiros e pistoleiros da região, os quais recebiam pelo “serviço”. A ordem era prender, torturar, arrancar o máximo de informações e matar logo. Antes de se envolver com a guerrilha acidentalmente, o maior sonho de Daniel, um rapaz até então ingênuo, sem nenhuma formação política, era, simplesmente, fugir daquele fim de mundo e procurar uma vida melhor. Ele tentou fazer isso várias vezes, mas as circunstâncias começaram a enredá-lo como uma caça presa na armadilha. Embora criado de maneira selvagem, nadando em rios caudalosos ao lado de filhotes de sucuris, o seu maior desejo era, mesmo, ir morar no Rio de Janeiro ou em outra cidade de que tanto o rádio falava.
A televisão ainda estava chegando aos lares brasileiros das grandes cidades e o mundo vivia as ameaças da Guerra Fria, de um possível confronto entre russos e norte-americanos. O país estava sob o Ato Institucional nº 5, instrumento que a ditadura usava para censurar músicas, filmes, livros e até mesmo o ato de pensar. Também transcorria a Guerra do Vietnã. Os Beatles e o rock conquistavam o mundo. O pai de Daniel, um ferreiro matuto que bati a no filho para “educá-lo”, construía obsessivamente um abrigo antiaéreo para proteger a família, composta por outras três filhas (a mulher havia morrido com malária). Russos e americanos prometiam destruir o mundo caso entrassem em guerra. A Terceira Guerra Mundial poderia eclodir a qualquer momento. É neste clima que Daniel, apaixonado por uma garota da região (Heloísa), ficou dividido após conhecer a guerrilheira Diana, que ajudara a fugir pela selva. Daniel jamais seria o mesmo, saindo ou não daquele sertão profundo. A história foi ao encontro dele e o abraçou bem forte.
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, Hermes Leal é um ser múltiplo, de muitas inquietudes e criações. Ele é jornalista, escritor, biógrafo, roteirista e documentarista. É mestre em cinema pela Universidade de São Paulo e doutorando em semiótica na mesma unidade de ensino. Escreveu o romance “Faca na Garganta”, as biografias “O Enigma do Coronel Fawcett” (copiadíssimo por um jornalista americano, que não lhe deu o devido crédito) e “O Homem da Montanha” e o livro “O Quilombo Perdido”. Agora está lançando o romance “Antes Que o Sonho Acabe”, que ainda não li, mas entrou para minha lista penelopiana. Como não li, publico o longo release da Geração Editorial.
O romance “Antes Que o Sonhe Acabe” tem 208 páginas e custa R$ 29,90.
Material da Geração Editorial
Dançando conforme a música
No antigo seriado “Túnel do Tempo”, os personagens são enviados ao passado e dançam conforme a música para escapar de situações difíceis, como uma guerra em andamento. Na verdade, isso acontece com cada um de nós. Quem nasce hoje, por exemplo, terá que enfrentar o mundo tal qual ele é, com todas as suas virtudes e vicissitudes. Em “Antes Que o Sonho Acabe”, o personagem Daniel vê-se enredado pelos acontecimentos da década de 1970, entre os quais a guerrilha na selva amazônica. Mas este episódio é apenas um pano de fundo para apresentar um rapazinho meigo, sem malícia, amigo íntimo da natureza, que sonhava com uma vida melhor e fugir daquele fim de mundo às margens do rio Tocantins. Mas as circunstâncias vão alterando os seus planos. A cada dificuldade, no entanto, Daniel vai crescendo, transformando espinhos em amadurecimento, dificuldades em sabedoria. Mas não tinha muita consciência disso durante a turbulência da vida. Nada como a memória para voltar ao passado e aprender duas vezes. É o túnel do tempo que existe em cada um de nós. O personagem Daniel é maior que a história que tenta aprisioná-lo como um bicho. Com a palavra, Hermes Leal.
Uma paixão arrebatadora nasce em meio a uma revolução
Baseado em fatos reais, “Antes Que o Sonho Acabe” é uma aula singela sobre o triste episódio de caça aos comunistas na selva amazônica, mas, sobretudo, a história de um adolescente sonhador, que vira herói sem querer. Os acontecimentos se desenrolam nos anos 60 e 70 do século recém-findo [20]. O personagem Daniel relata a sua visão sobre aspectos da guerrilha e da ditadura militar brasileira (1964-1971), período em que passou a infância e a adolescência em lugares remotos do norte do Brasil, às margens do Rio Tocantins, não muito distante do Rio Araguaia. Para lá se embrenharam parte dos guerrilheiros brasileiros que sonhavam com uma sociedade igualitária, influenciados pelos ideais socialistas e comunistas soprados pela ex-União Soviética e Cuba. Eram estudantes de São Paulo e Rio de Janeiro, em sua maioria. Chamados de terroristas, eles se instalaram inicialmente às margens do Tocantins e depois migraram para áreas de combate na selva, próximo às cidades de Marabá (PA) e Xambioá (TO).
Se o povo das grandes cidades apenas ouvia falar “dos tais comunistas que comiam criancinhas”, o personagem Daniel viveu bem pertinho deles e percebeu que a história está mal contada. Os absurdos que presenciou logo o levaram a ajudar um casal de guerrilheiros (Diana e Osvaldo) a fugir pela floresta amazônica, escapando, os três, sob o fogo cruzado do exército. O envolvimento deu-se por acaso, mas, de qualquer modo, Daniel acabou tomando parti do, colocando a própria vida em risco. E percebeu que a ditadura espalhava boatos mentirosos acerca dos “terroristas”, para que eles fossem caçados como bichos pelos mateiros e pistoleiros da região, os quais recebiam pelo “serviço”. A ordem era prender, torturar, arrancar o máximo de informações e matar logo. Antes de se envolver com a guerrilha acidentalmente, o maior sonho de Daniel, um rapaz até então ingênuo, sem nenhuma formação política, era, simplesmente, fugir daquele fim de mundo e procurar uma vida melhor. Ele tentou fazer isso várias vezes, mas as circunstâncias começaram a enredá-lo como uma caça presa na armadilha. Embora criado de maneira selvagem, nadando em rios caudalosos ao lado de filhotes de sucuris, o seu maior desejo era, mesmo, ir morar no Rio de Janeiro ou em outra cidade de que tanto o rádio falava.
A televisão ainda estava chegando aos lares brasileiros das grandes cidades e o mundo vivia as ameaças da Guerra Fria, de um possível confronto entre russos e norte-americanos. O país estava sob o Ato Institucional nº 5, instrumento que a ditadura usava para censurar músicas, filmes, livros e até mesmo o ato de pensar. Também transcorria a Guerra do Vietnã. Os Beatles e o rock conquistavam o mundo. O pai de Daniel, um ferreiro matuto que bati a no filho para “educá-lo”, construía obsessivamente um abrigo antiaéreo para proteger a família, composta por outras três filhas (a mulher havia morrido com malária). Russos e americanos prometiam destruir o mundo caso entrassem em guerra. A Terceira Guerra Mundial poderia eclodir a qualquer momento. É neste clima que Daniel, apaixonado por uma garota da região (Heloísa), ficou dividido após conhecer a guerrilheira Diana, que ajudara a fugir pela selva. Daniel jamais seria o mesmo, saindo ou não daquele sertão profundo. A história foi ao encontro dele e o abraçou bem forte.
 A jornalista Karolina Vieira deixou a Kasane Comunicação, na qual trabalhou durante dois anos.
Karolina Vieira comenta que, no momento, busca "a realização de alguns projetos pessoais” e que em breve estará de volta.
A profissional é apontada pelos colegas como "competente" e "dona de bom texto".
A jornalista Karolina Vieira deixou a Kasane Comunicação, na qual trabalhou durante dois anos.
Karolina Vieira comenta que, no momento, busca "a realização de alguns projetos pessoais” e que em breve estará de volta.
A profissional é apontada pelos colegas como "competente" e "dona de bom texto".
Ler a realidade atual impõe ao leitor do presente uma alta capacidade de interpretação, tal como de um leitor de romance de ficção se exige tanta imaginação…
 O site Blue Bus era parada obrigatória para leitores interessados em publicidade e, mesmo, assuntos jornalísticos. As notas curtas, às vezes de matiz polêmico, eram quase sempre interessantes e provocativas. De repente, depois de fazer sucesso na internet, seu criador, Júlio Hungria, anunciou uma “parada”, sem explicar de maneira precisa seus motivos. O jornalista tinha câncer e morreu no domingo, 11, no Rio de Janeiro, aos 76 anos.
O Blue Bus publicou uma nota contando a do criador do Blue Bus: “Júlio começou a carreira no início dos anos 60 como produtor de discos na Philips e na EMI Odeon, depois de ter produzido o primeiro show da bossa nova em 1959. Chefiou o departamento de produção da Rádio Jornal do Brasil por 14 anos – desde 60 até 1974.
“Foi subeditor do Jornal de Vanguarda na TV e editor e crítico de música popular do ‘Jornal do Brasil’ entre 1967 e 1974. Assinou coluna no ‘Pasquim’ no início dos anos 70. Entre 1975 e 1978, chefiou o copy desk e foi editor do ‘Segundo Caderno’ da ‘Última Hora’. Em 1980, abriu a Rádio Atividade, produtora de jingles. Entre 1990 e 1994 editou o jornal do Clube de Criação do RJ. Fundou o Blue Bus em 1995 como um BBS para o mercado publicitário carioca. Em janeiro de 1997, inaugurou o site na internet. Julio deixa 4 filhos e 2 netas.”
O site Blue Bus era parada obrigatória para leitores interessados em publicidade e, mesmo, assuntos jornalísticos. As notas curtas, às vezes de matiz polêmico, eram quase sempre interessantes e provocativas. De repente, depois de fazer sucesso na internet, seu criador, Júlio Hungria, anunciou uma “parada”, sem explicar de maneira precisa seus motivos. O jornalista tinha câncer e morreu no domingo, 11, no Rio de Janeiro, aos 76 anos.
O Blue Bus publicou uma nota contando a do criador do Blue Bus: “Júlio começou a carreira no início dos anos 60 como produtor de discos na Philips e na EMI Odeon, depois de ter produzido o primeiro show da bossa nova em 1959. Chefiou o departamento de produção da Rádio Jornal do Brasil por 14 anos – desde 60 até 1974.
“Foi subeditor do Jornal de Vanguarda na TV e editor e crítico de música popular do ‘Jornal do Brasil’ entre 1967 e 1974. Assinou coluna no ‘Pasquim’ no início dos anos 70. Entre 1975 e 1978, chefiou o copy desk e foi editor do ‘Segundo Caderno’ da ‘Última Hora’. Em 1980, abriu a Rádio Atividade, produtora de jingles. Entre 1990 e 1994 editou o jornal do Clube de Criação do RJ. Fundou o Blue Bus em 1995 como um BBS para o mercado publicitário carioca. Em janeiro de 1997, inaugurou o site na internet. Julio deixa 4 filhos e 2 netas.”
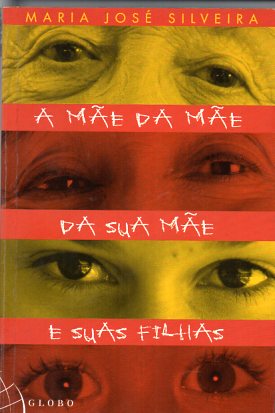 Maria José Silveira é uma prosadora do primeiro time, além de tradutora precisa. No domingo, 11, o principal colunista de “O Globo”, Ancelmo Gois, publicou: “‘A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas’, de Maria José Silveira, será lançado nos EUA em 2016 pela editora Open Letters.
“O romance conta a trajetória de gerações de mulheres brasileiras desde o nascimento da indiazinha tupiniquim Indaiá, em 1500. A venda no exterior foi fechada pela agência literária VBM”.
Maria José Silveira é uma prosadora do primeiro time, além de tradutora precisa. No domingo, 11, o principal colunista de “O Globo”, Ancelmo Gois, publicou: “‘A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas’, de Maria José Silveira, será lançado nos EUA em 2016 pela editora Open Letters.
“O romance conta a trajetória de gerações de mulheres brasileiras desde o nascimento da indiazinha tupiniquim Indaiá, em 1500. A venda no exterior foi fechada pela agência literária VBM”.
 Maria José Silveira, que mora em São Paulo, é irmã do poeta e marchand PX Silveira e tia do deputado federal Thiago Peixoto. Ela é autora de vários livros -- romances e biografias.
Maria José Silveira, que mora em São Paulo, é irmã do poeta e marchand PX Silveira e tia do deputado federal Thiago Peixoto. Ela é autora de vários livros -- romances e biografias.
Jornalistas brasileiros, dos mais qualificados, estão participando de batalhas que, no lugar de promover, fecham e empobrecem o debate. Resenha de Ruy Fausto na Piauí é modelo de crítica contundente e respeitosa
 A jornalista Sandra Stefan (foto acima; de seu Facebook) morreu no sábado, 10, em Goiânia, em decorrência de uma pneumonia. A profissional, que trabalhava no Sesc, havia passado por uma depressão desde a morte de uma filha, formada em medicina. Foi sepultada no domingo, 11.
Sandra Stefan é apontada por colegas como uma profissional “competente, inteligente, íntegra e de fácil relacionamento”. “O jornalismo perde uma grande profissional e os amigos e colegas de trabalho perdem uma grande figura humana”, define uma amiga, também jornalista.
Repercussão no Facebook
Da jornalista Adrianne Vitoreli: “Profissional competente e uma pessoa querida, de sorriso aberto. Muita tristeza...”.
Da jornalista Sônia Ferreira: “Lamentável. Sandra era uma pessoa do bem. Estou chocada”.
Do jornalista e escritor Jj Leandro: “Sandra Stefan era da turma de jornalismo de 79 da UFG. Fizemos o curso juntos. Perda lamentável”.
Do poeta, jornalista e cronista Hélverton Baiano: “Descurtir. Perdemos um doce”.
Do jornalista Deusmar Barreto: “Sandra: eternamente em nossos corações!”
A jornalista Sandra Stefan (foto acima; de seu Facebook) morreu no sábado, 10, em Goiânia, em decorrência de uma pneumonia. A profissional, que trabalhava no Sesc, havia passado por uma depressão desde a morte de uma filha, formada em medicina. Foi sepultada no domingo, 11.
Sandra Stefan é apontada por colegas como uma profissional “competente, inteligente, íntegra e de fácil relacionamento”. “O jornalismo perde uma grande profissional e os amigos e colegas de trabalho perdem uma grande figura humana”, define uma amiga, também jornalista.
Repercussão no Facebook
Da jornalista Adrianne Vitoreli: “Profissional competente e uma pessoa querida, de sorriso aberto. Muita tristeza...”.
Da jornalista Sônia Ferreira: “Lamentável. Sandra era uma pessoa do bem. Estou chocada”.
Do jornalista e escritor Jj Leandro: “Sandra Stefan era da turma de jornalismo de 79 da UFG. Fizemos o curso juntos. Perda lamentável”.
Do poeta, jornalista e cronista Hélverton Baiano: “Descurtir. Perdemos um doce”.
Do jornalista Deusmar Barreto: “Sandra: eternamente em nossos corações!”
Se após o ataque não surgir um crescimento do sentimento anti-islâmico ou um fortalecimento da extrema direita na Europa, seus ideólogos irão se reunir para rever o que aconteceu de errado...pois são estes os objetivos

[caption id="attachment_25397" align="alignleft" width="300"] Momentos depois do ataque ao jornal Charlie Hebdo, na França / Foto: William Molinié/ Twitter[/caption]
O terrorismo, contra a democracia e o indivíduo, aproveita-se de que nas democracias modernas, apesar do suposto big brother, os espaços públicos e privados são escassamente protegidos. Os terroristas que mataram dez jornalistas e chargistas da revista “Charlie Hebdo” — que satiriza, entre outros, o profeta Maomé — e dois policiais usaram da liberdade de ir e vir, típica da sociedade democrática, para cometer um atentado contra a vida e a liberdade de expressão. A França, com sua tendência a assimilar as diferenças, apesar das pressões da extrema direita, tornou-se vítima por ser, em geral, libertária.
George Packer escreveu, no site da revista “New Yorker” — a síntese é de Caio Blinder, no portal da “Veja” —, que “o ataque contra ‘Charlie Hebdo’ foi apenas a última salva de uma ideologia que tenta conquistar o poder por décadas” por intermédio “do terror. A mesma que foi ao encalço do escritor Salman Rushdie a mando da teocracia iraniana, a mesma que matou 3 mil pessoas nos EUA em 11 de setembro de 2001, a mesma que assassinou Theo van Gogh nas ruas de Amsterdã em 2004 por fazer um filme, a mesma que pratica decapitação e estupro na Síria e Iraque, a mesma que massacrou 132 crianças e adultos em uma escola em Peshawar, no Paquistão, em dezembro. E como observa Packer, é a mesma que mata nigerianos com tanta regularidade, especialmente jovens, a que o mundo mal presta atenção”.
“Todos nós devemos ser Charlie não apenas hoje, mas todo dia”, sugere George Packer.
O problema é que o terrorismo, embora intolerante e contra a liberdade de expressão, não vai acabar. O filósofo britânico John Gray afirma, no polêmico livro “Al-Qaeda e o Que Significa Ser Moderno” (Record, 176 páginas, tradução de Maria Beatriz de Medina), que a Al-Qaeda modernizou o terrorismo (a barbárie), inclusive suas comunicações — daí sua eficiência letal.
Destaco, neste breve texto, o comportamento celerado de certa intelectualidade. O livro “Passado Imperfeito — Um Olhar Crítico Sobre a Intelectualidade Francesa no Pós-Guerra” (Nova Fronteira, 478 páginas), do historiador britânico Tony Judt, mostra como o filósofo Jean-Paul Sartre e mesmo Merleau-Ponty justificaram, sem meias palavras, o inominável — o stalinismo. Em 1952, numa resposta a Albert Camus, Sartre assinalou: “Nós podemos ficar indignados ou horrorizados diante da existência desses campos [de concentração soviéticos]; nós podemos até ficar obcecados por eles, mas por que eles deveriam nos constranger?” Constrangidos com o Gulag soviético, Camus, François Mauriac e Raymond Aron optaram pela crítica ao stalinismo, indicando que não é dever do intelectual “acanalhar-se” por razões ideológicas ou quaisquer outras.
No caso da França atual, intelectuais de uma certa esquerda avaliaram que o terrorismo é um instrumento legítimo da guerra. Óbvio que, para chocar menos, retorcem as palavras, ao estilo do facinoroso Frantz Fanon, espantosamente seguido nas universidades brasileiras, até por pessoas inteligentes e responsáveis. Os cartunistas que desenhavam Maomé, políticos e outras figuras públicas, sugerindo que todos podem e devem ser criticados, estavam em guerra? Não estavam. A guerra, no caso, era unilateral. Os cartunistas e jornalistas eram tão inocentes quanto as vítimas do terrorismo nas Torres Gêmeas ou em trens e ônibus.
Seja religioso, político, de esquerda ou de direita, o terrorismo é sempre condenável. Não só o terrorismo dos árabes. Há ações de militares americanos e agentes da CIA no Oriente que são igualmente condenáveis. Não cabem aos intelectuais, mas eles se convocam para esta missão, justificar a violência.
Momentos depois do ataque ao jornal Charlie Hebdo, na França / Foto: William Molinié/ Twitter[/caption]
O terrorismo, contra a democracia e o indivíduo, aproveita-se de que nas democracias modernas, apesar do suposto big brother, os espaços públicos e privados são escassamente protegidos. Os terroristas que mataram dez jornalistas e chargistas da revista “Charlie Hebdo” — que satiriza, entre outros, o profeta Maomé — e dois policiais usaram da liberdade de ir e vir, típica da sociedade democrática, para cometer um atentado contra a vida e a liberdade de expressão. A França, com sua tendência a assimilar as diferenças, apesar das pressões da extrema direita, tornou-se vítima por ser, em geral, libertária.
George Packer escreveu, no site da revista “New Yorker” — a síntese é de Caio Blinder, no portal da “Veja” —, que “o ataque contra ‘Charlie Hebdo’ foi apenas a última salva de uma ideologia que tenta conquistar o poder por décadas” por intermédio “do terror. A mesma que foi ao encalço do escritor Salman Rushdie a mando da teocracia iraniana, a mesma que matou 3 mil pessoas nos EUA em 11 de setembro de 2001, a mesma que assassinou Theo van Gogh nas ruas de Amsterdã em 2004 por fazer um filme, a mesma que pratica decapitação e estupro na Síria e Iraque, a mesma que massacrou 132 crianças e adultos em uma escola em Peshawar, no Paquistão, em dezembro. E como observa Packer, é a mesma que mata nigerianos com tanta regularidade, especialmente jovens, a que o mundo mal presta atenção”.
“Todos nós devemos ser Charlie não apenas hoje, mas todo dia”, sugere George Packer.
O problema é que o terrorismo, embora intolerante e contra a liberdade de expressão, não vai acabar. O filósofo britânico John Gray afirma, no polêmico livro “Al-Qaeda e o Que Significa Ser Moderno” (Record, 176 páginas, tradução de Maria Beatriz de Medina), que a Al-Qaeda modernizou o terrorismo (a barbárie), inclusive suas comunicações — daí sua eficiência letal.
Destaco, neste breve texto, o comportamento celerado de certa intelectualidade. O livro “Passado Imperfeito — Um Olhar Crítico Sobre a Intelectualidade Francesa no Pós-Guerra” (Nova Fronteira, 478 páginas), do historiador britânico Tony Judt, mostra como o filósofo Jean-Paul Sartre e mesmo Merleau-Ponty justificaram, sem meias palavras, o inominável — o stalinismo. Em 1952, numa resposta a Albert Camus, Sartre assinalou: “Nós podemos ficar indignados ou horrorizados diante da existência desses campos [de concentração soviéticos]; nós podemos até ficar obcecados por eles, mas por que eles deveriam nos constranger?” Constrangidos com o Gulag soviético, Camus, François Mauriac e Raymond Aron optaram pela crítica ao stalinismo, indicando que não é dever do intelectual “acanalhar-se” por razões ideológicas ou quaisquer outras.
No caso da França atual, intelectuais de uma certa esquerda avaliaram que o terrorismo é um instrumento legítimo da guerra. Óbvio que, para chocar menos, retorcem as palavras, ao estilo do facinoroso Frantz Fanon, espantosamente seguido nas universidades brasileiras, até por pessoas inteligentes e responsáveis. Os cartunistas que desenhavam Maomé, políticos e outras figuras públicas, sugerindo que todos podem e devem ser criticados, estavam em guerra? Não estavam. A guerra, no caso, era unilateral. Os cartunistas e jornalistas eram tão inocentes quanto as vítimas do terrorismo nas Torres Gêmeas ou em trens e ônibus.
Seja religioso, político, de esquerda ou de direita, o terrorismo é sempre condenável. Não só o terrorismo dos árabes. Há ações de militares americanos e agentes da CIA no Oriente que são igualmente condenáveis. Não cabem aos intelectuais, mas eles se convocam para esta missão, justificar a violência.
Barbárie americana
Se o leitor quiser saber o que os Estados Unidos fizeram (e fazem) no Oriente Médio, e noutros lugares, nos últimos anos, não deve deixar de ler “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalhas” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson Garschagen), de Jeremy Scahill. O jornalista mostra, com fartos exemplos documentados, que, em nome da civilização e dos valores democráticos, os Estados Unidos também levam sua barbárie ao Oriente, matando indivíduos de maneira indiscriminada. Não é livro de esquerdista, e sim de repórter independente e íntegro.Terror na literatura
A literatura tratou do terrorismo com rara felicidade. Fiódor Dostoiévski escreveu o clássico “Os Demônios” (vale ler a tradução de Paulo Bezerra, publicada pela Editora 34). Joseph Conrad é autor do celebrado “O Agente Secreto”. O romance “A Terrorista”, de Doris Lessing, relata o mundinho perfunctório e raso dos criadores de terror. John Updike enfrentou o tema em “Terrorista”. O atentado das Torres Gêmeas, em Nova York, no qual morreram mais de 3 mil pessoas — uma violência com a marca da Al-Qaeda, de Bin Laden —, rendeu livros de qualidade, como “Extremamente Alto & Incrivelmente Perto”, a narrativa fascinante de Jonathan Safran Foer, e “Homem em Queda”, de Don DeLillo. “Sábado”, de Ian McEwan, também toca no assunto.
Um dos mais importantes filósofos da atualidade, John Gray afirma que a Al-Qaeda nada tem a ver com a Idade Média e que usa muito bem os recursos dos tempos modernos
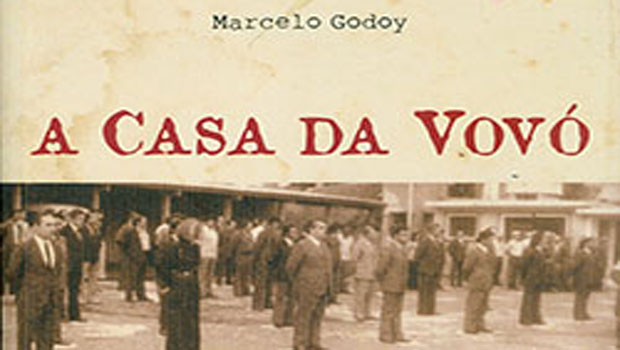
 “A Casa da Vovó — Uma Biografia do DOI-Codi (1969-1991), o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar” (Alameda, 611 páginas), do jornalista Marcelo Godoy, de “O Estado de S. Paulo”, é um notável livro de história. Não é um mero relato jornalístico. Trata-se de uma pesquisa exaustiva, nuançada e bem escrita. O livro esclarece histórias às vezes tão-somente esboçadas noutras obras.
Para contar a história do DOI-Codi, além de pesquisar noutras fontes, inclusive livros, Marcelo Godoy decidiu ouvir agentes — inclusive mulheres — que trabalharam no órgão de combate à guerrilha das esquerdas brasileiras. Seu relato, porém, não é subserviente às fontes. É “seu”, quer dizer, ouve os agentes, mas confronta suas versões e apresenta, de maneira equilibrada, um denominador comum.
O repórter, no lugar de “desmentir” o coronel Brilhante Ustra, abre espaço para os agentes — alguns deles com nomes reais apresentados, outros com codinome — contestarem as versões do comandante do DOI-Codi.
Baseado nas entrevistas, Marcelo Godoy conclui que a guerrilha foi destroçada, em larga medida, devido ao trabalho dos “cachorros”, guerrilheiros que, “virados” pelos militares e policiais, se tornaram informantes. “O uso de informantes foi um dos métodos mais eficazes, às vezes até mais do que a tortura, para a destruição das organizações de esquerda”, afirma. Os esquerdistas se tornavam informantes mais para sobreviver do que por convicção. Há, claro, aqueles que se tornaram apoiadores da ditadura, como o Cabo Anselmo.
A Ação Libertadora Nacional foi destroçada, em grande parte, graças ao informante João Henrique Ferreira de Carvalho, que se tornou o informante Jota. Ele deu informações precisas sobre os guerrilheiros da ALN. Era amigo do poeta Pedro Tierra (Hamilton Pereira da Silva), que militava em Goiás e São Paulo. O Molipo foi destroçado com a ajuda do informante Camilo. Gilberto Prata Soares contribui para a destruição da APML. Ele entregou o cunhado e Honestino Guimarães caiu ao se pôr em contato com José Carlos da Mata-Machado. O Cabo Anselmo contribuiu para a liquidação da VPR e da VAR-Palmares. Jover Teles (o informante VIP) entregou, por dinheiro, a cúpula do PC do B.
Uma história mostra a coragem suicida do guerrilheiro Frederico Mayr, do Molipo. Preso e baleado, foi levado para a Casa da Vovó (o DOI). O comandante Brilhante Ustra “abriu a porta do interrogatório e aproximou-se de Mayr:
— Ô, meu filho, fala aí, é melhor pra você...
— Eu não vou falar, seu gorila filho da puta...
Ustra deu-lhe as costas para sair e o guerrilheiro enfiou-lhe o pé na bunda. O chute tornou mais duro o tratamento que lhe foi reservado. “Mayr agonizou nas mãos do capitão Ramiro e morreu na sede do DOI em consequência dos ferimentos e das torturas”, relata Marcelo Godoy.
A morte do arquiteto-guerrilheiro Antônio Benetazzo impressiona pela brutalidade dos policiais e militares.
Pessoas de Goiás ou ligadas ao Estado que são citadas no livro: A.C. Scartezini, Aldo Arantes, Athos Pereira da Silva (irmão de Tierra), Edmilson de Souza Lima (repórter de “O Popular”), Gilberto Prata Soares, Marco Antônio Tavares Coelho (trabalhou no “Diário da Manhã), Pedro Tierra, Renato Dias (seu livro sobre o Molipo é listado) e Tarzan de Castro.
“A Casa da Vovó — Uma Biografia do DOI-Codi (1969-1991), o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar” (Alameda, 611 páginas), do jornalista Marcelo Godoy, de “O Estado de S. Paulo”, é um notável livro de história. Não é um mero relato jornalístico. Trata-se de uma pesquisa exaustiva, nuançada e bem escrita. O livro esclarece histórias às vezes tão-somente esboçadas noutras obras.
Para contar a história do DOI-Codi, além de pesquisar noutras fontes, inclusive livros, Marcelo Godoy decidiu ouvir agentes — inclusive mulheres — que trabalharam no órgão de combate à guerrilha das esquerdas brasileiras. Seu relato, porém, não é subserviente às fontes. É “seu”, quer dizer, ouve os agentes, mas confronta suas versões e apresenta, de maneira equilibrada, um denominador comum.
O repórter, no lugar de “desmentir” o coronel Brilhante Ustra, abre espaço para os agentes — alguns deles com nomes reais apresentados, outros com codinome — contestarem as versões do comandante do DOI-Codi.
Baseado nas entrevistas, Marcelo Godoy conclui que a guerrilha foi destroçada, em larga medida, devido ao trabalho dos “cachorros”, guerrilheiros que, “virados” pelos militares e policiais, se tornaram informantes. “O uso de informantes foi um dos métodos mais eficazes, às vezes até mais do que a tortura, para a destruição das organizações de esquerda”, afirma. Os esquerdistas se tornavam informantes mais para sobreviver do que por convicção. Há, claro, aqueles que se tornaram apoiadores da ditadura, como o Cabo Anselmo.
A Ação Libertadora Nacional foi destroçada, em grande parte, graças ao informante João Henrique Ferreira de Carvalho, que se tornou o informante Jota. Ele deu informações precisas sobre os guerrilheiros da ALN. Era amigo do poeta Pedro Tierra (Hamilton Pereira da Silva), que militava em Goiás e São Paulo. O Molipo foi destroçado com a ajuda do informante Camilo. Gilberto Prata Soares contribui para a destruição da APML. Ele entregou o cunhado e Honestino Guimarães caiu ao se pôr em contato com José Carlos da Mata-Machado. O Cabo Anselmo contribuiu para a liquidação da VPR e da VAR-Palmares. Jover Teles (o informante VIP) entregou, por dinheiro, a cúpula do PC do B.
Uma história mostra a coragem suicida do guerrilheiro Frederico Mayr, do Molipo. Preso e baleado, foi levado para a Casa da Vovó (o DOI). O comandante Brilhante Ustra “abriu a porta do interrogatório e aproximou-se de Mayr:
— Ô, meu filho, fala aí, é melhor pra você...
— Eu não vou falar, seu gorila filho da puta...
Ustra deu-lhe as costas para sair e o guerrilheiro enfiou-lhe o pé na bunda. O chute tornou mais duro o tratamento que lhe foi reservado. “Mayr agonizou nas mãos do capitão Ramiro e morreu na sede do DOI em consequência dos ferimentos e das torturas”, relata Marcelo Godoy.
A morte do arquiteto-guerrilheiro Antônio Benetazzo impressiona pela brutalidade dos policiais e militares.
Pessoas de Goiás ou ligadas ao Estado que são citadas no livro: A.C. Scartezini, Aldo Arantes, Athos Pereira da Silva (irmão de Tierra), Edmilson de Souza Lima (repórter de “O Popular”), Gilberto Prata Soares, Marco Antônio Tavares Coelho (trabalhou no “Diário da Manhã), Pedro Tierra, Renato Dias (seu livro sobre o Molipo é listado) e Tarzan de Castro.
Há um consenso no Grupo Jaime Câmara: o profissional que quiser sair, sobretudo por motivos salariais, não vai receber uma proposta superior à ofertada. No caso de Bruno Rocha Lima, pela primeira vez, mesmo não cobrindo a proposta do governo do Estado de Goiás, R$ 11 mil, o GJC decidiu segurá-lo. Por dois motivos. Primeiro, Bruno Rocha Lima é um editor diplomático, agregador e, profissionalmente, está em ascensão na redação. Segundo, comenta-se que está sendo, mais do que preparado, observado para que, adiante, assuma o comando da redação.


