Imprensa

[caption id="attachment_28567" align="alignleft" width="282"] Eneida, na tradução de Carlos Alberto Nunes e na edição caprichada da Editora 34: revalorização da qualidade[/caption]
O poeta, tradutor e crítico Alexei Bueno era um dos poucos a defender a qualidade das traduções de Carlos Alberto Nunes (1897-1990). O médico maranhense, tio do filósofo e crítico literário Benedito Nunes, traduziu Homero (“Ilíada” e “Odisseia”), Platão, Virgílio, Shakespeare (o teatro completo) e Goethe (“Clavigo” e “Ifigênia em Táuride”. No domingo, 8, no suplemento “Ilustríssima”, da “Folha de S. Paulo”, o jornalista, poeta, tradutor e editor Jorge Henrique Bastos publicou um excelente ensaio, “Um tradutor para Eneias”, que finalmente valoriza, sem provincianismo, o significativo trabalho de Carlos Alberto Nunes. O “pretexto” para o artigo é a republicação de “Eneida”, de Virgílio.
O poema “Eneida” narra “o mito fundador do império milenar romano”. O ensaísta alemão Ernst Robert Curtius, citado por Bastos, escreveu que Agostinho (sim, o santo) era fascinado pelo texto de Virgílio. Chorou “ao ler o relato que Eneias faz a Dido de suas aventuras”. Dante preferiu Virgílio a Homero como guia na sua “Divina Comédia”. O escritor austríaco Hermann Broch escreveu o romance “A Morte de Virgílio”, no qual “ficcionou as 18 derradeiras horas do poeta que, imerso em dúvida, queria destruir a ‘Eneida’”.
Depois da breve exposição sobre a tradição derivada de Virgílio, Bastos comenta as primeiras traduções de “Eneida” para o português. A versão do maranhense Odorico Mendes, em decassílabo heroico, é de 1854. Sua tradução saiu pelas editoras Unicamp e Ateliê. A tradução dos portugueses José Victorino Barreto Feio e José Maria da Costa e Silva é de 1845. Tassilo Orpheu Spalding (Cultrix), no Brasil, e Agostinho da Silva (Temas e Debates), em Portugal, também traduziram a obra-prima.
A tradução de Carlos Alberto Nunes foi publicada, em 1981, pela editora A Montanha. “A circulação restrita” impediu a vulgarização de um trabalho de qualidade. Uma edição mais bem cuidada de “Eneida” saiu, no ano passado, pela Editora 34, com a mesma tradução, e organizada por João Ângelo Oliva Neto.
Bastos nota que “dois dos nossos maiores tradutores nasceram no Maranhão, e ambos legaram um rol de traduções cuja relevância aumenta com o passar dos anos”.
Sobre as traduções, Bastos comenta: “A versão de Odorico Mendes, como era típico de seu estilo, utiliza um léxico rebuscado, a sintaxe peculiar e a profusão de neologismos que interrompe a compreensão do leitor a todo instante. (...) Carlos Alberto Nunes explorou o verso de 16 sílabas poéticas, aproximando-se da tendência narrativa dos hexâmetros do original. Essa maneira de traduzir, que os mais precipitados tachariam de conservadora e excessivamente prosaica, investia-se de um aspecto narrativo cujo fim era exprimir com absoluta objetividade o sentido do poema, sem se socorrer de malabarismos vocabulares ou fogos de artifícios estilísticos que vedam, na maior parte das vezes, a expressividade genuína. Desde que suas traduções apareceram, revelaram essa convergência, procurando aproximar-se do original”.
De fato, as traduções de Carlos Alberto Nunes são menos, por assim dizer, “inventivas” ou, como está na moda dizer, “transcriativas”. Porém, ganham em clareza, objetividade e expressividade. Há certa luminosidade clássica nas suas versões. Foram feitas para os leitores, não para o debate acadêmico, sempre dado a filigranas e questiúnculas. Homero e Shakespeare ficam mais precisos e, digamos, límpidos. O que não quer dizer que as versões são mais “pedestres” do que as demais. As traduções de Odorico Mendes têm mesmo certos malabarismos, uma recriação estilizada em Língua Portuguesa — como se estivesse não apenas traduzindo para a Língua Portuguesa, e sim inventando uma nova língua, a partir daquilo que leu em grego ou latim —, que tanto agradaram os concretistas e agradam seus epígonos. Porém, para elevar o ótimo Carlos Alberto Nunes, não é preciso pôr defeitos nos esforços linguísticos de Odorico Mendes. Suas traduções são diferentes, é certo. O mais importante é que são de alta qualidade e inspiradoras para novos tradutores. Odorico Mendes inspirou, por certo, Haroldo de Campos, mais, e Trajano Vieira, menos, nas traduções de Homero. Tenho apreço especial pela arte de “espichar” a Língua Portuguesa, transformando-a numa língua paralela para traduzir o grego Homero e o latino Virgílio — que parece ser a missão a que se impôs Odorico Mendes.
Goiano organizou tradução de Platão
Depois de pôr Homero na Língua Portuguesa dos falantes brasileiros — mas sem coloquialismos forçados, com caipirices brejeiras ou ditas cultas —, Carlos Alberto Nunes decidiu traduzir o filósofo Platão. “Durante uma década”, registra Bastos, cuidou exclusivamente da obra do discípulo de Sócrates.
Como uma editora não quis publicar as traduções, Carlos Alberto Nunes doou 14 volumes para a Universidade Federal do Pará, que decidiu publicá-los numa edição bilíngue. O material foi editado por Plínio Martins Filho — o goiano que dirige a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) e é proprietário da Ateliê Editorial. Trata-se, seguramente, de um dos mais importantes editores do país. Ousou editar “Finnegans Wake”, de James Joyce.
A hora e a vez do poeta Virgílio
Com Homero e Platão “falando” português, Carlos Alberto Nunes, com o apoio de sua mulher, a latinista Filomena Turelli, decidiu traduzir o poema de Virgílio. “Os hexâmetros que cunhou para reproduzir os dramas, aventuras e errância de Eneias expõem o estilo característico de Carlos Alberto Nunes”, sublinha Bastos. Ao terminar a tradução, em 1981, contava 86 anos.
Embora seja um tradutor do primeiro time, “sobre Carlos Alberto Nunes paira o desconhecimento ou a omissão tácita que só esta recente edição pode alterar”, afirma Bastos.
“Torna-se imperativo reavaliar o seu projeto tradutório, submetê-lo a uma análise lúcida e descomprometida, a fim de acolher a sua elegância expressiva, a narratividade equilibrada e objetiva, o apuro formal do verso que forjou, para receber, sem condicionamentos extemporâneos, o impacto das traduções deste senhor franzino, de olhar vivaz, que nos deixou uma das maiores heranças literárias que se pode cobiçar”, afirma Bastos.
Para além do cânone concretista
Possivelmente para não estabelecer polêmicas, sobretudo com os setores universitários — cada vez mais dominantes no debate tradutório —, embora deixe implícita certas divergências, Bastos não explica os motivos de Carlos Alberto Nunes ter sido colocado em segundo plano, quase folclorizado. Alguns tradutores, que reinventam mestres do passado, como Odorico Mendes, Sousândrade e Pedro Kilkerry, para se criar uma tradição local — por exemplo, para o concretismo de Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos —, no lugar de admitir diferenças e sugerir confluências, trabalham para “liquidar”, com suas críticas excludentes e contundentes, aquilo que não se encaixa na “tradição recém-criada”. Há, tanto no campo literário quanto no político, uma disputa pela hegemonia. Aquilo que não se encaixa no cânone concretista — o ótimo tradutor Trajano Vieira, em termos de tradição helênica, parece ser o novo guardião do haroldo-campismo — deve ser ignorado e enviado para o limbo.
O fato é que as traduções de Odorico Mendes e de Carlos Alberto Nunes, embora muito diferentes, não são excludentes. Talvez sejam complementares. Os leitores, aqueles que não perdem tempo com disputas paroquiais — embora apresentadas como cosmopolitas —, ganham tanto com a leitura das versões de um quanto de outro. Aquele que busca mais inventividade, a língua como certo ludismo ou jogo, vai sorrir para o texto posto em português por Odorico Mendes. Aquele que busca mais objetividade e luminosidade — um texto mais límpido, mas não pedestre — tende a sorrir para o trabalho de Carlos Alberto Nunes. Uma coisa é certa: nenhum leitor vai chorar ou lamentar se ler as duas traduções. Certamente vai se sentir afortunado de poder ler em português a obra-prima do gênio mantuano.
Eneida, na tradução de Carlos Alberto Nunes e na edição caprichada da Editora 34: revalorização da qualidade[/caption]
O poeta, tradutor e crítico Alexei Bueno era um dos poucos a defender a qualidade das traduções de Carlos Alberto Nunes (1897-1990). O médico maranhense, tio do filósofo e crítico literário Benedito Nunes, traduziu Homero (“Ilíada” e “Odisseia”), Platão, Virgílio, Shakespeare (o teatro completo) e Goethe (“Clavigo” e “Ifigênia em Táuride”. No domingo, 8, no suplemento “Ilustríssima”, da “Folha de S. Paulo”, o jornalista, poeta, tradutor e editor Jorge Henrique Bastos publicou um excelente ensaio, “Um tradutor para Eneias”, que finalmente valoriza, sem provincianismo, o significativo trabalho de Carlos Alberto Nunes. O “pretexto” para o artigo é a republicação de “Eneida”, de Virgílio.
O poema “Eneida” narra “o mito fundador do império milenar romano”. O ensaísta alemão Ernst Robert Curtius, citado por Bastos, escreveu que Agostinho (sim, o santo) era fascinado pelo texto de Virgílio. Chorou “ao ler o relato que Eneias faz a Dido de suas aventuras”. Dante preferiu Virgílio a Homero como guia na sua “Divina Comédia”. O escritor austríaco Hermann Broch escreveu o romance “A Morte de Virgílio”, no qual “ficcionou as 18 derradeiras horas do poeta que, imerso em dúvida, queria destruir a ‘Eneida’”.
Depois da breve exposição sobre a tradição derivada de Virgílio, Bastos comenta as primeiras traduções de “Eneida” para o português. A versão do maranhense Odorico Mendes, em decassílabo heroico, é de 1854. Sua tradução saiu pelas editoras Unicamp e Ateliê. A tradução dos portugueses José Victorino Barreto Feio e José Maria da Costa e Silva é de 1845. Tassilo Orpheu Spalding (Cultrix), no Brasil, e Agostinho da Silva (Temas e Debates), em Portugal, também traduziram a obra-prima.
A tradução de Carlos Alberto Nunes foi publicada, em 1981, pela editora A Montanha. “A circulação restrita” impediu a vulgarização de um trabalho de qualidade. Uma edição mais bem cuidada de “Eneida” saiu, no ano passado, pela Editora 34, com a mesma tradução, e organizada por João Ângelo Oliva Neto.
Bastos nota que “dois dos nossos maiores tradutores nasceram no Maranhão, e ambos legaram um rol de traduções cuja relevância aumenta com o passar dos anos”.
Sobre as traduções, Bastos comenta: “A versão de Odorico Mendes, como era típico de seu estilo, utiliza um léxico rebuscado, a sintaxe peculiar e a profusão de neologismos que interrompe a compreensão do leitor a todo instante. (...) Carlos Alberto Nunes explorou o verso de 16 sílabas poéticas, aproximando-se da tendência narrativa dos hexâmetros do original. Essa maneira de traduzir, que os mais precipitados tachariam de conservadora e excessivamente prosaica, investia-se de um aspecto narrativo cujo fim era exprimir com absoluta objetividade o sentido do poema, sem se socorrer de malabarismos vocabulares ou fogos de artifícios estilísticos que vedam, na maior parte das vezes, a expressividade genuína. Desde que suas traduções apareceram, revelaram essa convergência, procurando aproximar-se do original”.
De fato, as traduções de Carlos Alberto Nunes são menos, por assim dizer, “inventivas” ou, como está na moda dizer, “transcriativas”. Porém, ganham em clareza, objetividade e expressividade. Há certa luminosidade clássica nas suas versões. Foram feitas para os leitores, não para o debate acadêmico, sempre dado a filigranas e questiúnculas. Homero e Shakespeare ficam mais precisos e, digamos, límpidos. O que não quer dizer que as versões são mais “pedestres” do que as demais. As traduções de Odorico Mendes têm mesmo certos malabarismos, uma recriação estilizada em Língua Portuguesa — como se estivesse não apenas traduzindo para a Língua Portuguesa, e sim inventando uma nova língua, a partir daquilo que leu em grego ou latim —, que tanto agradaram os concretistas e agradam seus epígonos. Porém, para elevar o ótimo Carlos Alberto Nunes, não é preciso pôr defeitos nos esforços linguísticos de Odorico Mendes. Suas traduções são diferentes, é certo. O mais importante é que são de alta qualidade e inspiradoras para novos tradutores. Odorico Mendes inspirou, por certo, Haroldo de Campos, mais, e Trajano Vieira, menos, nas traduções de Homero. Tenho apreço especial pela arte de “espichar” a Língua Portuguesa, transformando-a numa língua paralela para traduzir o grego Homero e o latino Virgílio — que parece ser a missão a que se impôs Odorico Mendes.
Goiano organizou tradução de Platão
Depois de pôr Homero na Língua Portuguesa dos falantes brasileiros — mas sem coloquialismos forçados, com caipirices brejeiras ou ditas cultas —, Carlos Alberto Nunes decidiu traduzir o filósofo Platão. “Durante uma década”, registra Bastos, cuidou exclusivamente da obra do discípulo de Sócrates.
Como uma editora não quis publicar as traduções, Carlos Alberto Nunes doou 14 volumes para a Universidade Federal do Pará, que decidiu publicá-los numa edição bilíngue. O material foi editado por Plínio Martins Filho — o goiano que dirige a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) e é proprietário da Ateliê Editorial. Trata-se, seguramente, de um dos mais importantes editores do país. Ousou editar “Finnegans Wake”, de James Joyce.
A hora e a vez do poeta Virgílio
Com Homero e Platão “falando” português, Carlos Alberto Nunes, com o apoio de sua mulher, a latinista Filomena Turelli, decidiu traduzir o poema de Virgílio. “Os hexâmetros que cunhou para reproduzir os dramas, aventuras e errância de Eneias expõem o estilo característico de Carlos Alberto Nunes”, sublinha Bastos. Ao terminar a tradução, em 1981, contava 86 anos.
Embora seja um tradutor do primeiro time, “sobre Carlos Alberto Nunes paira o desconhecimento ou a omissão tácita que só esta recente edição pode alterar”, afirma Bastos.
“Torna-se imperativo reavaliar o seu projeto tradutório, submetê-lo a uma análise lúcida e descomprometida, a fim de acolher a sua elegância expressiva, a narratividade equilibrada e objetiva, o apuro formal do verso que forjou, para receber, sem condicionamentos extemporâneos, o impacto das traduções deste senhor franzino, de olhar vivaz, que nos deixou uma das maiores heranças literárias que se pode cobiçar”, afirma Bastos.
Para além do cânone concretista
Possivelmente para não estabelecer polêmicas, sobretudo com os setores universitários — cada vez mais dominantes no debate tradutório —, embora deixe implícita certas divergências, Bastos não explica os motivos de Carlos Alberto Nunes ter sido colocado em segundo plano, quase folclorizado. Alguns tradutores, que reinventam mestres do passado, como Odorico Mendes, Sousândrade e Pedro Kilkerry, para se criar uma tradição local — por exemplo, para o concretismo de Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Augusto de Campos —, no lugar de admitir diferenças e sugerir confluências, trabalham para “liquidar”, com suas críticas excludentes e contundentes, aquilo que não se encaixa na “tradição recém-criada”. Há, tanto no campo literário quanto no político, uma disputa pela hegemonia. Aquilo que não se encaixa no cânone concretista — o ótimo tradutor Trajano Vieira, em termos de tradição helênica, parece ser o novo guardião do haroldo-campismo — deve ser ignorado e enviado para o limbo.
O fato é que as traduções de Odorico Mendes e de Carlos Alberto Nunes, embora muito diferentes, não são excludentes. Talvez sejam complementares. Os leitores, aqueles que não perdem tempo com disputas paroquiais — embora apresentadas como cosmopolitas —, ganham tanto com a leitura das versões de um quanto de outro. Aquele que busca mais inventividade, a língua como certo ludismo ou jogo, vai sorrir para o texto posto em português por Odorico Mendes. Aquele que busca mais objetividade e luminosidade — um texto mais límpido, mas não pedestre — tende a sorrir para o trabalho de Carlos Alberto Nunes. Uma coisa é certa: nenhum leitor vai chorar ou lamentar se ler as duas traduções. Certamente vai se sentir afortunado de poder ler em português a obra-prima do gênio mantuano.
Jornalista José Augusto Ribeiro pesquisou durante anos para resgatar a história do político mineiro
 O primeiro livro alentado sobre o autor de “O Complexo de Pornoy” finalmente chega ao Brasil. “Roth Libertado” (Companhia das Letras, 480 páginas, tradução de Carlos Afonso Malferrari), de Claudia Roth Pierpont, é, por assim dizer, mais uma “biografia” da obra do que de Philip Roth.
O foco do livro de Pierpont é a obra, mas a autora não deixa de examinar o escritor e as relações com seus pares, como Saul Bellow (sua grande influência) e John Updike.
PhD. em história da arte pela Universidade de Nova York, Pierpont trabalha na “New Yorker”. Seu livro ilumina a obra de Philip Roth, esclarecendo pontos aparentemente nebulosos e situando-o na literatura mundial, sobretudo na americana, como um parceiro de jornada, em termos de qualidade, de Bellow e Updike, entre outros.
O primeiro livro alentado sobre o autor de “O Complexo de Pornoy” finalmente chega ao Brasil. “Roth Libertado” (Companhia das Letras, 480 páginas, tradução de Carlos Afonso Malferrari), de Claudia Roth Pierpont, é, por assim dizer, mais uma “biografia” da obra do que de Philip Roth.
O foco do livro de Pierpont é a obra, mas a autora não deixa de examinar o escritor e as relações com seus pares, como Saul Bellow (sua grande influência) e John Updike.
PhD. em história da arte pela Universidade de Nova York, Pierpont trabalha na “New Yorker”. Seu livro ilumina a obra de Philip Roth, esclarecendo pontos aparentemente nebulosos e situando-o na literatura mundial, sobretudo na americana, como um parceiro de jornada, em termos de qualidade, de Bellow e Updike, entre outros.
 Marco Antônio da Silva Lemos é uma mistura da malícia do escritor inglês Evelyn Waugh com a pegada certeira do crítico americano H. L. Mencken (vale ler “O Livro dos Insultos”). Numa época (entre as décadas de 1970 e 1980) em que praticamente todos os jornalistas eram de esquerda — quando não eram, fingiam que eram companheiros de jornada, como se buscassem uma forma de proteção —, Marco Antônio da Silva Lemos, com seu nome gigante (jornalistas apreciam nomes menores, duplos, mas ele nunca foi um ortodoxo), era, por assim dizer, um livre atirador, crítico, contundente, divertido e, importante, sério (a seriedade de um Karl Kraus). Seu charme não era exatamente a posição política, o fato de não ser de esquerda, e sim o fato de escrever muito bem, de tornar a Língua Portuguesa mais elástica e corrosiva, cheia de vida e fissuras, nada burocrática. Pense na turma de “O Pasquim”, pois Marco Lemos teria feito imenso sucesso na redação, se de fato havia uma, dos esquerdistas altamente festivos que organizaram o jornal mais debochado da história do país. Pode-se sugerir que seria uma espécie de “Contra-Pasquim”, dada sua proximidade com os libertários — de fato, os liberais são mais libertários do que os indivíduos de esquerda —, mas teria se entrosado com facilidade com a turma mais brilhante, como Millôr Fernandes, Paulo Francis, Ruy Castro e Sérgio Augusto (Ziraldo e Jaguar era da turma do porra-louquismo).
Mais jovem, eu lia Paulo Francis, na mídia nacional, e Marco Lemos na imprensa goiana. Os dois me divertiam sempre, pela crítica inteligente, às vezes ferina. Mais tarde, com Marco Lemos já atuando no Judiciário, li uma resenha que fez das memórias do embaixador Pio Corrêa ("O Mundo Em Que Vivi”), publicada no “Diário da Manhã”. Comprei o livro, em dois volumes, e, de fato, o resenhista estava certo: é uma obra importante, mas fadada ao ostracismo, dado o fato de Pio Corrêa não integrar os quadros da esquerda patropi; antes, era de direita.
Na década de 1980, eu estudava História na Universidade Católica de Goiás e Filosofia na Universidade Federal de Goiás. Meu objetivo — lia com interesse Platão, Aristóteles (quase decorei a “Ética a Nicômaco”) e Espinosa — era seguir carreira acadêmica na área de Filosofia (devido ao meu interesse mesmo e ao incentivo do brilhante professor Jordino). Mas a leitura de jornais, dos textos de Francis, Sérgio Augusto, Ruy Castro, Washington Novaes, José Guilherme Merquior (que li primeiro nas páginas dos jornais) e, sobretudo, Marco Antônio da Silva Lemos (até hoje reluto em diminuir o nome), levou-me para o curso de Jornalismo, em 1983.
Marco Antônio da Silva Lemos escrevia no Jornal Opção e no “Diário da Manhã” — tanto artigos como reportagens. Fico a pensar como uma redação de esquerdistas se comportava em relação a um sábio liberal, com veia satírica, com alta capacidade para o debate de ideias. Depois, alguém (não me lembro quem, talvez uma amiga comum, a jornalista Consuelo Nasser) me disse: “Leia alguns texto do ‘Top News’. São escritos pelo Marco Antônio da Silva Lemos”. Nunca investiguei se eram mesmo dele, mas li todos. Eram bem escritos. Não eram idênticos aos textos de Marco Antônio da Silva Lemos, mas havia alguma identidade.
Não sei exatamente por qual razão Marco Antônio da Silva Lemos “abandonou” o jornalismo, mas é provável que tenha sido devido aos salários baixos e à irregularidade dos jornais (como empresas), com sua dependência extrema dos humores dos governantes. Formado em Direito, prestou concurso no Poder Judiciário, tornou-se juiz e, em seguida, desembargador. Ouvia falar dele, pela Consuelo Nasser. “Está em Brasília”, “mudou-se de Brasília”, “voltou para Brasília”. Depois, um amigo comum, Paulo, me contou que havia prestado novo concurso e trabalhava em Brasília como juiz. Recentemente, Marco Antônio da Silva Lemos reapareceu, no Facebook. Permanece o crítico implacável, mas refinado. Sua ironia é tão sofisticada — às vezes não deixa de ser descarada — que muitos não parecem entendê-la.
Desconsiderando as regras básicas do jornalismo, deixei para publicar a informação essencial, a que interessa, no último parágrafo (felizmente, publiquei-a no título). Marco Lemos assume, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o cargo de desembargador no dia 3 de março (terça-feira), em Brasília. Gostaria de ler algumas sentenças do magistrado. Retirada a tecnicidade, a linguagem do meio judicial, deve conter textos de primeira linha.
Marco Antônio da Silva Lemos é uma mistura da malícia do escritor inglês Evelyn Waugh com a pegada certeira do crítico americano H. L. Mencken (vale ler “O Livro dos Insultos”). Numa época (entre as décadas de 1970 e 1980) em que praticamente todos os jornalistas eram de esquerda — quando não eram, fingiam que eram companheiros de jornada, como se buscassem uma forma de proteção —, Marco Antônio da Silva Lemos, com seu nome gigante (jornalistas apreciam nomes menores, duplos, mas ele nunca foi um ortodoxo), era, por assim dizer, um livre atirador, crítico, contundente, divertido e, importante, sério (a seriedade de um Karl Kraus). Seu charme não era exatamente a posição política, o fato de não ser de esquerda, e sim o fato de escrever muito bem, de tornar a Língua Portuguesa mais elástica e corrosiva, cheia de vida e fissuras, nada burocrática. Pense na turma de “O Pasquim”, pois Marco Lemos teria feito imenso sucesso na redação, se de fato havia uma, dos esquerdistas altamente festivos que organizaram o jornal mais debochado da história do país. Pode-se sugerir que seria uma espécie de “Contra-Pasquim”, dada sua proximidade com os libertários — de fato, os liberais são mais libertários do que os indivíduos de esquerda —, mas teria se entrosado com facilidade com a turma mais brilhante, como Millôr Fernandes, Paulo Francis, Ruy Castro e Sérgio Augusto (Ziraldo e Jaguar era da turma do porra-louquismo).
Mais jovem, eu lia Paulo Francis, na mídia nacional, e Marco Lemos na imprensa goiana. Os dois me divertiam sempre, pela crítica inteligente, às vezes ferina. Mais tarde, com Marco Lemos já atuando no Judiciário, li uma resenha que fez das memórias do embaixador Pio Corrêa ("O Mundo Em Que Vivi”), publicada no “Diário da Manhã”. Comprei o livro, em dois volumes, e, de fato, o resenhista estava certo: é uma obra importante, mas fadada ao ostracismo, dado o fato de Pio Corrêa não integrar os quadros da esquerda patropi; antes, era de direita.
Na década de 1980, eu estudava História na Universidade Católica de Goiás e Filosofia na Universidade Federal de Goiás. Meu objetivo — lia com interesse Platão, Aristóteles (quase decorei a “Ética a Nicômaco”) e Espinosa — era seguir carreira acadêmica na área de Filosofia (devido ao meu interesse mesmo e ao incentivo do brilhante professor Jordino). Mas a leitura de jornais, dos textos de Francis, Sérgio Augusto, Ruy Castro, Washington Novaes, José Guilherme Merquior (que li primeiro nas páginas dos jornais) e, sobretudo, Marco Antônio da Silva Lemos (até hoje reluto em diminuir o nome), levou-me para o curso de Jornalismo, em 1983.
Marco Antônio da Silva Lemos escrevia no Jornal Opção e no “Diário da Manhã” — tanto artigos como reportagens. Fico a pensar como uma redação de esquerdistas se comportava em relação a um sábio liberal, com veia satírica, com alta capacidade para o debate de ideias. Depois, alguém (não me lembro quem, talvez uma amiga comum, a jornalista Consuelo Nasser) me disse: “Leia alguns texto do ‘Top News’. São escritos pelo Marco Antônio da Silva Lemos”. Nunca investiguei se eram mesmo dele, mas li todos. Eram bem escritos. Não eram idênticos aos textos de Marco Antônio da Silva Lemos, mas havia alguma identidade.
Não sei exatamente por qual razão Marco Antônio da Silva Lemos “abandonou” o jornalismo, mas é provável que tenha sido devido aos salários baixos e à irregularidade dos jornais (como empresas), com sua dependência extrema dos humores dos governantes. Formado em Direito, prestou concurso no Poder Judiciário, tornou-se juiz e, em seguida, desembargador. Ouvia falar dele, pela Consuelo Nasser. “Está em Brasília”, “mudou-se de Brasília”, “voltou para Brasília”. Depois, um amigo comum, Paulo, me contou que havia prestado novo concurso e trabalhava em Brasília como juiz. Recentemente, Marco Antônio da Silva Lemos reapareceu, no Facebook. Permanece o crítico implacável, mas refinado. Sua ironia é tão sofisticada — às vezes não deixa de ser descarada — que muitos não parecem entendê-la.
Desconsiderando as regras básicas do jornalismo, deixei para publicar a informação essencial, a que interessa, no último parágrafo (felizmente, publiquei-a no título). Marco Lemos assume, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o cargo de desembargador no dia 3 de março (terça-feira), em Brasília. Gostaria de ler algumas sentenças do magistrado. Retirada a tecnicidade, a linguagem do meio judicial, deve conter textos de primeira linha.
O leitor Carlos Humberto Costa pergunta: “Procede que há em Goiás jornalista bissexto?” Envio um e-mail e explico que não entendi a pergunta ou brincadeira. O leitor acrescenta: “Quero saber se procede que há jornalista em Goiás que escreve um artigo num ano e passa outro ano sem escrever?” Respondo que, embora não saiba responder à indagação, vou ficar de olho. Outro leitor, Arthur de Lucca, costuma dizer que, no Pop, alguns jornalistas escrevem um artigo por mês. “Estourando.” Noutro e-mails, Carlos Humberto, que se apresenta como professor de inglês, sublinha que, no Pop, os principais articulistas não são de Goiás. Procede. O “Pop” reproduz o provincianismo de avaliar que opiniões sobre a política e a economia nacional só podem ser formuladas por jornalistas de São Paulo e Rio de Janeiro.
Quem está reinventando o trânsito de Goiânia talvez seja um gênio. Ao final da mexidas é provável que o trânsito flua com mais facilidade e, sobretudo, o transporte coletivo — a essência de uma cidade — se torne mais eficiente. Porém, num país em que o automóvel é o centro da vida dos indivíduos, as mudanças em algumas das avenidas estão contribuindo mais para engessar do que para liberar o trânsito — e sem facilitar o tráfego de ônibus. Na Avenida 85, para citar um exemplo, a prefeitura fechou entradas laterais, o que praticamente impede o acesso rápido à Avenida 136 e outras, o que contribui para engarrafar o trânsito. Se é para melhorar o transporte coletivo, com os corredores exclusivos para ônibus, não há do que reclamar. Mas os especialistas em trânsito têm de pensar também no tráfego dos automóveis. Na Rua 146, no Setor Marista, a prefeitura colocou alguns semáforos, com o objetivo de reduzir acidentes. A intenção é positiva. Mas os acidentes continuam. Motivo: o semáforo, se está aberto ou não, só é visto pelo motorista que está trafegando pela 146 (não há sinais nas paralelas). Os motoristas que estão nas outras ruas e precisam atravessar a 146 não percebem se o sinal está aberto ou não. Claro que o motorista tem de parar e verificar, mas, se for um pouco desatento, pode provocar uma batida.
 [Paulo Henrique Amorim e Gilmar Mendes: disputa férrea nos tribunais]
A politização excessiva leva à perda do bom senso? Ou, no caso do jornalista Paulo Henrique Amorim, editor do blog “Conversa Afiada”, a politização é bom senso, quer dizer, racionalidade? Pode ser que a segunda pergunta seja a mais verdadeira. Porém, do ponto de vista estritamente jurídico, Paulo Henrique Amorim, profissional de história respeitável — brilhou na imprensa, na revista “Veja”, e se provou comentarista qualitativo de economia na televisão —, ante algumas derrotas judiciais, pelas quais terá de indenizar seus “oponentes”, deixa a impressão de que faz críticas que comportam uma certa dose de “irracionalidade”, para não dizer “amadorismo”. Nesta semana, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do jornalista, que terá de pagar 50 mil reais para o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. Ele ofendeu a honra do magistrado, no entendimento do STJ, quando, na montagem de uma fotografia de Gilmar Mendes, escreveu a legenda: “Cartão Dantas Diamond. Comprar um dossiê — R$ 25.000,00; Comprar um jornalista — de R$ 7.000,00 a R$ 15.000,00; Comprar um delegado da PF — R$ 1.000.000,00; Ser comparsa do presidente do STF — Não tem preço”. É aquilo que os jornalistas costumam chamar de “batom na cueca”. Indefensável.
Na defesa apresentada no STJ, quando tentava revogar a condenação anterior, Paulo Henrique Amorim postulou a tese de que a decisão cerceava sua liberdade de expressão. O ministro Marco Buzzi, relator do caso, contestou-o: “A liberdade de imprensa não autoriza ninguém a ofender a honra de outra pessoa”.
Gilmar Mendes move um segundo processo contra Paulo Henrique Amorim, que, nos seu blog, escreveu: “Gilmar Mendes instala o golpe de Estado. O Supremo Presidente Gilmar Mendes transformou o Supremo Tribunal Federal num balcão de negócios”. Indefensável, especialmente porque, com a denúncia correspondente, gravíssima, o jornalista não apresentou provas, nem superficiais nem contundentes. Tudo indica que sua “denúncia” é estribada unicamente na sua opinião pessoal.
Se se tratasse de denúncias formuladas por um garoto de 18 anos, em alguma rede social, seria possível dizer que a causa era mais a imaturidade, a falta de percepção do que às vezes se diz, de maneira impensada. No entanto, Paulo Henrique Amorim, 73 anos (em 22 de fevereiro), não é mais um garotinho que está na faculdade de Jornalismo. É, acima de tudo, um grande jornalista e, como tal, tem de repensar suas formulações “críticas”. Não é deixar de fazê-las, e sim de “sustentá-las” com documentação, evidências.
[Paulo Henrique Amorim e Gilmar Mendes: disputa férrea nos tribunais]
A politização excessiva leva à perda do bom senso? Ou, no caso do jornalista Paulo Henrique Amorim, editor do blog “Conversa Afiada”, a politização é bom senso, quer dizer, racionalidade? Pode ser que a segunda pergunta seja a mais verdadeira. Porém, do ponto de vista estritamente jurídico, Paulo Henrique Amorim, profissional de história respeitável — brilhou na imprensa, na revista “Veja”, e se provou comentarista qualitativo de economia na televisão —, ante algumas derrotas judiciais, pelas quais terá de indenizar seus “oponentes”, deixa a impressão de que faz críticas que comportam uma certa dose de “irracionalidade”, para não dizer “amadorismo”. Nesta semana, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação do jornalista, que terá de pagar 50 mil reais para o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. Ele ofendeu a honra do magistrado, no entendimento do STJ, quando, na montagem de uma fotografia de Gilmar Mendes, escreveu a legenda: “Cartão Dantas Diamond. Comprar um dossiê — R$ 25.000,00; Comprar um jornalista — de R$ 7.000,00 a R$ 15.000,00; Comprar um delegado da PF — R$ 1.000.000,00; Ser comparsa do presidente do STF — Não tem preço”. É aquilo que os jornalistas costumam chamar de “batom na cueca”. Indefensável.
Na defesa apresentada no STJ, quando tentava revogar a condenação anterior, Paulo Henrique Amorim postulou a tese de que a decisão cerceava sua liberdade de expressão. O ministro Marco Buzzi, relator do caso, contestou-o: “A liberdade de imprensa não autoriza ninguém a ofender a honra de outra pessoa”.
Gilmar Mendes move um segundo processo contra Paulo Henrique Amorim, que, nos seu blog, escreveu: “Gilmar Mendes instala o golpe de Estado. O Supremo Presidente Gilmar Mendes transformou o Supremo Tribunal Federal num balcão de negócios”. Indefensável, especialmente porque, com a denúncia correspondente, gravíssima, o jornalista não apresentou provas, nem superficiais nem contundentes. Tudo indica que sua “denúncia” é estribada unicamente na sua opinião pessoal.
Se se tratasse de denúncias formuladas por um garoto de 18 anos, em alguma rede social, seria possível dizer que a causa era mais a imaturidade, a falta de percepção do que às vezes se diz, de maneira impensada. No entanto, Paulo Henrique Amorim, 73 anos (em 22 de fevereiro), não é mais um garotinho que está na faculdade de Jornalismo. É, acima de tudo, um grande jornalista e, como tal, tem de repensar suas formulações “críticas”. Não é deixar de fazê-las, e sim de “sustentá-las” com documentação, evidências.
O jornalista do "New York Times" escreveu o livro "A Noite da Arma", vigoroso relato sobre a vida de um viciado em drogas pesadas
Advogado frisa que regras do Grupo Jaime Câmara não valem para o Tocantins. Mas há funcionários sendo pressionados a deixar o segundo emprego

Texto da revista Piauí sobre a JBS-Friboi é de alto nível. Parte parece ter sido escrita por Lombroso. Joesley e Wesley Batista apostam que o grupo vai crescer em 2015 e criticam a ministra Kátia Abreu. Publicidade com Roberto Carlos fracassou porque o público discutia o “rei” e não a carne do frigorífico. Empresa investe R$ 800 mil reais em publicidade por ano
 No Facebook, o mestre Felippe Jorge Kopanakis, um intelectual do primeiro time, escreve: “Um repórter da TV Anhanguera disse que as pinturas rupestres da pedra Chapéu do Sol, em Cristalina-Goiás, datam de ‘... mais de 3 milhões de anos’...”! Acaba de ser descoberta a presença do homem mais antigo sobre a Terra!
No Facebook, o mestre Felippe Jorge Kopanakis, um intelectual do primeiro time, escreve: “Um repórter da TV Anhanguera disse que as pinturas rupestres da pedra Chapéu do Sol, em Cristalina-Goiás, datam de ‘... mais de 3 milhões de anos’...”! Acaba de ser descoberta a presença do homem mais antigo sobre a Terra!

“O talento mais extraordinário da Semana foi Mário de Andrade, o maior polímata do país. Foi poeta, romancista, fotógrafo, jornalista e pioneiro da etnomusicologia”
O livro “Constelação de Gênios — Uma Biografia do Ano de 1922” (Objetiva, 567 páginas, tradução de Camila Mello), de Kevin Jackson, tenta provar que a literatura modernista surge, ou cristaliza-se, com a publicação, em 1922, do romance “Ulysses”, do escritor irlandês James Joyce, e do longo poema “A Terra Devastada”, do poeta americano T. S. Eliot. Jackson eleva o papel do crítico e poeta americano Ezra Pound, que contribuiu tanto para a consolidação do livro de Joyce quanto do poema máximo de Eliot. Não só: deu sugestões para melhorar e ajudou a publicar as duas obras. Neste texto concentro-me mais na exposição do autor sobre a Semana de Arte Moderna, de 1922, e, sobretudo, a respeito de Mário de Andrade, que mereceram duas páginas (74 e 75).
[caption id="attachment_372546" align="aligncenter" width="620"] T. S. Eliot e Mário de Andrade: crítico inglês percebe o livro “Pauliceia Desvairada”, do segundo, como a versão brasileira do poema “A Terra Devastada”, do primeiro l Fotos: Wikipédia[/caption]
“De 11 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal [de São Paulo], aconteceu um dos eventos culturais mais significativos da cultura latino-americana moderna: a ‘Semana de Arte Moderna’, que apresentou as conquistas do modernismo brasileiro ao mundo. Seus organizadores principais foram o pintor Emiliano di Cavalcanti e o poeta Mário de Andrade — cuja maior obra, ‘Pauliceia Desvairada’, foi lida em voz alta pelo autor na noite de fechamento, e publicada pela primeira vez naquele ano”, escreve Jackson.
O compositor Heitor Villa-Lobos é apontado “como figura única e mais importante da música erudita da América Latina”. Ele apresentou, com “seus músicos”, “várias de suas composições — incluindo ‘Quarteto Simbólico’”.
Jackson anota que Villa-Lobos é mais conhecido fora do Brasil do que Mário de Andrade. Porém, sublinha, “o talento mais extraordinário da Semana foi seu codiretor, Mário de Andrade (1893-1945). Com quase toda certeza o maior polímata que seu país já produziu, Mário de Andrade foi poeta, romancista, fotógrafo, jornalista e pioneiro da etnomusicologia”. Estranha ou sintomaticamente, não há uma linha sobre o poeta e prosador Oswald de Andrade, outra figura central da Semana de Arte Moderna e do modernismo local.
[caption id="attachment_28009" align="alignright" width="222"]
T. S. Eliot e Mário de Andrade: crítico inglês percebe o livro “Pauliceia Desvairada”, do segundo, como a versão brasileira do poema “A Terra Devastada”, do primeiro l Fotos: Wikipédia[/caption]
“De 11 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal [de São Paulo], aconteceu um dos eventos culturais mais significativos da cultura latino-americana moderna: a ‘Semana de Arte Moderna’, que apresentou as conquistas do modernismo brasileiro ao mundo. Seus organizadores principais foram o pintor Emiliano di Cavalcanti e o poeta Mário de Andrade — cuja maior obra, ‘Pauliceia Desvairada’, foi lida em voz alta pelo autor na noite de fechamento, e publicada pela primeira vez naquele ano”, escreve Jackson.
O compositor Heitor Villa-Lobos é apontado “como figura única e mais importante da música erudita da América Latina”. Ele apresentou, com “seus músicos”, “várias de suas composições — incluindo ‘Quarteto Simbólico’”.
Jackson anota que Villa-Lobos é mais conhecido fora do Brasil do que Mário de Andrade. Porém, sublinha, “o talento mais extraordinário da Semana foi seu codiretor, Mário de Andrade (1893-1945). Com quase toda certeza o maior polímata que seu país já produziu, Mário de Andrade foi poeta, romancista, fotógrafo, jornalista e pioneiro da etnomusicologia”. Estranha ou sintomaticamente, não há uma linha sobre o poeta e prosador Oswald de Andrade, outra figura central da Semana de Arte Moderna e do modernismo local.
[caption id="attachment_28009" align="alignright" width="222"]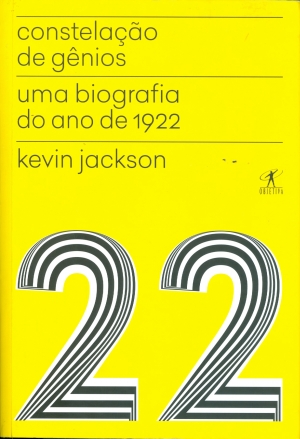 Um livro brilhante, de caráter enciclopédico, sobre o ano que deu ao mundo o notável romance “Ulysses”, de James Joyce, e o poema “A Terra Devastada”, de T. S. Eliot[/caption]
“‘Pauliceia Desvairada’ foi chamada”, segundo Jackson, “de ‘A Terra Devastada’ da literatura latino-americana, e é em alguns aspectos formais similar ao trabalho de Eliot. A obra é composta em grande parte por frases poderosas e crípticas, sem métrica ou rima regulares, que parecem enunciadas pelos habitantes de São Paulo ou pela cidade em si”. O comentário é, para usar uma palavra cara a Mário de Andrade, interessantíssimo. Há mesmo pontos de contatos entre a poética de Eliot e a de Mário de Andrade, mas não haveria muito mais entre o americano e Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto?
Há uma tendência, notadamente a partir da leitura dos concretistas, a valorizar Oswald de Andrade e a subvalorizar Mário de Andrade. Este, além de grande poeta, teve outro papel, o de pesquisador, crítico e orientador cultural. Nesse sentido, Mário de Andrade talvez possa ser considerado, não o Eliot, e sim o Pound patropi. Porque, direta ou indiretamente, orientou, se não a obra diretamente, a forma de pensar e encarar a poesia e mesmo a prosa de autores como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, talvez até mesmo Manuel Bandeira, e também o memorialista Pedro Nava e o prosador Fernando Sabino, entre outros.
Não sei de onde tirou a informação, mas Jackson escreve: “A outra grande obra literária de Mário de Andrade, ‘Macunaíma’, também foi chamada de ‘Ulisses’ da América Latina, em parte por causa de seu retrato da vida na cidade moderna, em parte por sua preocupação intensa com a herança linguística mista do Brasil, com suas várias línguas indígenas em interação constante com a língua imperial, o português. Parte da complexidade do romance pode ser atribuída à posição social ambígua de Mário Andrade: embora sua família fosse composta por proprietários afluentes de terras, ele era um mulato, e não um descendente branco europeu”.
Três problemas, se são problemas. Primeiro, a mulatice de fato influenciou a literatura de Mário de Andrade? Segundo, isto travou seus contatos com a elite branca? É provável que a resposta às duas perguntas deve ser “não”. Terceiro, é provável que Jackson não conheça bem a literatura brasileira — ou talvez pelo fato de circunscrevê-la a 1922 — e, por isso, não menciona “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. O romance do escritor mineiro é o que se tem, no Brasil, de mais próximo de “Ulisses”. “Catatau”, de Leminski? Um filho menor.
Um livro brilhante, de caráter enciclopédico, sobre o ano que deu ao mundo o notável romance “Ulysses”, de James Joyce, e o poema “A Terra Devastada”, de T. S. Eliot[/caption]
“‘Pauliceia Desvairada’ foi chamada”, segundo Jackson, “de ‘A Terra Devastada’ da literatura latino-americana, e é em alguns aspectos formais similar ao trabalho de Eliot. A obra é composta em grande parte por frases poderosas e crípticas, sem métrica ou rima regulares, que parecem enunciadas pelos habitantes de São Paulo ou pela cidade em si”. O comentário é, para usar uma palavra cara a Mário de Andrade, interessantíssimo. Há mesmo pontos de contatos entre a poética de Eliot e a de Mário de Andrade, mas não haveria muito mais entre o americano e Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto?
Há uma tendência, notadamente a partir da leitura dos concretistas, a valorizar Oswald de Andrade e a subvalorizar Mário de Andrade. Este, além de grande poeta, teve outro papel, o de pesquisador, crítico e orientador cultural. Nesse sentido, Mário de Andrade talvez possa ser considerado, não o Eliot, e sim o Pound patropi. Porque, direta ou indiretamente, orientou, se não a obra diretamente, a forma de pensar e encarar a poesia e mesmo a prosa de autores como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, talvez até mesmo Manuel Bandeira, e também o memorialista Pedro Nava e o prosador Fernando Sabino, entre outros.
Não sei de onde tirou a informação, mas Jackson escreve: “A outra grande obra literária de Mário de Andrade, ‘Macunaíma’, também foi chamada de ‘Ulisses’ da América Latina, em parte por causa de seu retrato da vida na cidade moderna, em parte por sua preocupação intensa com a herança linguística mista do Brasil, com suas várias línguas indígenas em interação constante com a língua imperial, o português. Parte da complexidade do romance pode ser atribuída à posição social ambígua de Mário Andrade: embora sua família fosse composta por proprietários afluentes de terras, ele era um mulato, e não um descendente branco europeu”.
Três problemas, se são problemas. Primeiro, a mulatice de fato influenciou a literatura de Mário de Andrade? Segundo, isto travou seus contatos com a elite branca? É provável que a resposta às duas perguntas deve ser “não”. Terceiro, é provável que Jackson não conheça bem a literatura brasileira — ou talvez pelo fato de circunscrevê-la a 1922 — e, por isso, não menciona “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. O romance do escritor mineiro é o que se tem, no Brasil, de mais próximo de “Ulisses”. “Catatau”, de Leminski? Um filho menor.
Richard Ellmann e Russell Kirk
As obras de Joyce e Eliot, de tão ricas e complexas, devem ser, mais do que lidas, estudadas. Leitores comuns podem entendê-las, ao menos no básico, sem as múltiplas referências, ressonâncias e reverberações. Porém, aqueles leitores que, mesmo não sendo especialistas em literatura, querem saber mais sobre as obras e os homens que as escreveram podem consultar dezenas de obras. Para a conexão livros-criadores, sugiro, o que deve contrariar alguns críticos, três biografias. “James Joyce” (Globo, 997 páginas), de Richard Ellmann, embora publicada há vários anos, permanece como a biografia clássica e com a vantagem de que o autor entende tão bem a obra quanto a vida do criador de “Finnegans Wake”. Joyce fica mais legível depois da leitura da pesquisa exaustiva de Ellmann, um expert em autores irlandeses (Wilde, Yeats, Joyce).
T. S. Eliot ganhou duas biografias alentadas e de qualidade. Não há edição em português de “T. S. Eliot” (Fondo de Cultura Economica, 377 páginas, tradução de Tedi López Mills), de Peter Ackroyd. O livro pode ser encontrado em sebos (Estante Virtual) em inglês e espanhol. Há uma ótima edição de “A Era de T. S. Eliot — A Imaginação Moral do Século XX” (É Realizações, 656 páginas, tradução de Márcia Xavier de Brito), de Russell Kirk.
“T. S. Eliot” (Imago, 114 páginas) é um belo livrinho de Northrop Frye.
“James Joyce” (Globo, 997 páginas), de Richard Ellmann, embora publicada há vários anos, permanece como a biografia clássica e com a vantagem de que o autor entende tão bem a obra quanto a vida do criador de “Finnegans Wake”. Joyce fica mais legível depois da leitura da pesquisa exaustiva de Ellmann, um expert em autores irlandeses (Wilde, Yeats, Joyce).
T. S. Eliot ganhou duas biografias alentadas e de qualidade. Não há edição em português de “T. S. Eliot” (Fondo de Cultura Economica, 377 páginas, tradução de Tedi López Mills), de Peter Ackroyd. O livro pode ser encontrado em sebos (Estante Virtual) em inglês e espanhol. Há uma ótima edição de “A Era de T. S. Eliot — A Imaginação Moral do Século XX” (É Realizações, 656 páginas, tradução de Márcia Xavier de Brito), de Russell Kirk.
“T. S. Eliot” (Imago, 114 páginas) é um belo livrinho de Northrop Frye.[caption id="attachment_28003" align="alignright" width="620"] Marcello Rosa: por meio de sua demissão, o Grupo Jaime Câmara manda um recado para seus jornalistas l Foto: Divulgação/Facebook[/caption]
Marcello Rosa foi demitido da TV Anhanguera porque mantém contrato com o governo do Estado de Goiás. O jornalista era apresentador do “Jornal Anhanguera”, o da edição do almoço. Ao tomar a decisão, a cúpula do Grupo Jaime Câmara avaliou duas coisas: primeiro, o profissional que mantém contrato com governos perde a independência, e, segundo, é possível que o faturamento do empregado “prejudique” o da empresa.
Leitores e jornalistas — estes, sempre em off — mandaram vários e-mails com a mesma pergunta: “Só Marcello Rosa mantém relações comerciais, diretas ou indiretas, com governos?” É uma pergunta que não tenho como responder.
O GJC tomou uma decisão parecida com a do Grupo Globo, que não aceita duplo emprego. Os profissionais podem escrever e vender livros, mas não podem ter outro emprego, nem público nem privado. A ressalva é que na empresa da família Marinho os salários são bem superiores.
O jornalista Aulus Rincón, que se manifestou nas redes sociais, disse que a demissão tem a ver com a baixa audiência da TV Anhanguera. No entanto, ao menos um diretor garante que a Anhanguera é líder em audiência em Goiás. Um diretor da TV Serra Dourada contesta: o “Jornal do Meio Dia”, no seu horário, estaria superando o “Jornal Anhanguera”.
Há algum tempo, quando o Jornal Opção publicou dados, que de fato apontavam o “Jornal do Meio Dia” na liderança, o Ibope ameaçou com ação judicial, enviou e-mail e ligou para a redação, e disse que as informações eram confidenciais. Porém, não negou a veracidade do que havia sido publicado. Os dados eram corretos.
Um dado curioso: nenhum jornalista do Grupo Jaime Câmara se manifestou sobre a demissão do colega em blogs e redes sociais. Nem contra nem a favor.
Marcello Rosa: por meio de sua demissão, o Grupo Jaime Câmara manda um recado para seus jornalistas l Foto: Divulgação/Facebook[/caption]
Marcello Rosa foi demitido da TV Anhanguera porque mantém contrato com o governo do Estado de Goiás. O jornalista era apresentador do “Jornal Anhanguera”, o da edição do almoço. Ao tomar a decisão, a cúpula do Grupo Jaime Câmara avaliou duas coisas: primeiro, o profissional que mantém contrato com governos perde a independência, e, segundo, é possível que o faturamento do empregado “prejudique” o da empresa.
Leitores e jornalistas — estes, sempre em off — mandaram vários e-mails com a mesma pergunta: “Só Marcello Rosa mantém relações comerciais, diretas ou indiretas, com governos?” É uma pergunta que não tenho como responder.
O GJC tomou uma decisão parecida com a do Grupo Globo, que não aceita duplo emprego. Os profissionais podem escrever e vender livros, mas não podem ter outro emprego, nem público nem privado. A ressalva é que na empresa da família Marinho os salários são bem superiores.
O jornalista Aulus Rincón, que se manifestou nas redes sociais, disse que a demissão tem a ver com a baixa audiência da TV Anhanguera. No entanto, ao menos um diretor garante que a Anhanguera é líder em audiência em Goiás. Um diretor da TV Serra Dourada contesta: o “Jornal do Meio Dia”, no seu horário, estaria superando o “Jornal Anhanguera”.
Há algum tempo, quando o Jornal Opção publicou dados, que de fato apontavam o “Jornal do Meio Dia” na liderança, o Ibope ameaçou com ação judicial, enviou e-mail e ligou para a redação, e disse que as informações eram confidenciais. Porém, não negou a veracidade do que havia sido publicado. Os dados eram corretos.
Um dado curioso: nenhum jornalista do Grupo Jaime Câmara se manifestou sobre a demissão do colega em blogs e redes sociais. Nem contra nem a favor.

[caption id="attachment_28000" align="alignright" width="620"] Eddie Redmayne com Stephen Hawking: o cientista diz que ator captou sua essência, como o fato de ter humor[/caption]
Há momentos, no filme “A Teoria de Tudo”, sobre os quais se pensa, num lampejo, que o físico não é Stephen Hawking, autor do livro “Uma Breve História do Tempo”, e sim a sua ex-mulher, Jane Wilde Hawking. Há duas explicações, quem sabe, toleráveis. Primeiro, a dificuldade de comunicação do cientista, hoje com 73 anos, contrariando o prognóstico médico. Quando era jovem, médicos disseram que só viveria dois anos. Segundo, a base da história levada ao cinema pelo diretor James Marsh é o livro “A Teoria de Tudo” (Única Editora, 448 páginas, tradução de Júlio de Andrade Filho e Sandra Martha Dolinsky), de Jane Hawking. É sua versão dos fatos, o que não significa que seja falsa. O mais provável é que seja apenas lacunar, exacerbe sua participação ao lado do cientista e encubra (ou suavize), aqui e ali, determinados problemas. A história sobre uma pessoa ou fato é sempre uma versão.
Independentemente de certas questiúnculas, que nunca são resolvidas, e por isso parecem questão de fundo, quando não o são, “A Teoria de Tudo” é um belo filme, divertido quase sempre, doloroso às vezes; sobretudo, conta uma grande história. Uma história da ciência, as pesquisas revolucionárias de Stephen Hawking, uma história de superação (e nestas histórias não há como escapar a certo sentimentalismo e certa pieguice, mas o filme evita ser apelativo) e uma história de indivíduos que, apesar de tudo, têm uma vida comum, com prazeres e desprazes, como quaisquer outros.
Jane Hawking amava o homem Stephen Hawking, com todos os seus problemas físicos, e cuidou dele e dos três filhos, enquanto sacrificava a própria carreira (e vida), até se apaixonar por outro homem, o que é perfeitamente normal (e as expectativas das pessoas são mesmo diferentes). A frase de Liev Tolstói, do livro “A Sonata a Kreutzer”, permanece perfeita: “Dizer que a gente vai amar uma pessoa a vida toda é como dizer que uma vela continuará a queimar enquanto vivermos”. O físico também se apaixona por outra mulher, que se encanta com sua inteligência. Inteligência que, embora respeitada, não encantava como antes Jane Hawking.
O espectador tem sorte com os atores: Eddie Redmayne, que faz Stephen Hawking, e Felicity Jones, como Jane Hawking, estão muito bem, nas convergências e divergências. O “casamento” entre os atores, em termos de encenação e interação, é praticamente perfeito. Eddie Redmayne brilha pela contenção, não pelo excesso, ao representar um personagem complexo e intenso. Às vezes, aqui e ali, sente-se pena do Stephen Hawking que “salta” da tela e parece dialogar conosco, mas, no geral, sente-se mais admiração e respeito pelo cientista que, no lugar de se entregar e lamuriar, continuou a pesquisar, a pensar, a escrever (se se pode dizer assim) e a publicar livros que eventualmente balançam as estruturas da ciência. A bela Felicity Jones está muito bem. Sua ansiedade (e ambiguidade), em parte de matiz sexual — mas não só —, é contida e, ao mesmo tempo, exasperante. Sente culpa, pois, ao trair Stephen Hawking, parece trair a si própria. O filme trata a vida íntima do casal, com a inclusão do amante, com suavidade, sem escândalo, sem sensacionalismo. Num tempo de excessos, a contenção, que nada esconde — pelo contrário, cobra que o espectador imagine —, é apreciável.
No seu Facebook, Stephen Hawking postou que Eddie Redmayne, de fato com desempenho impressionante, estava igual a ele, agia como ele e com “o mesmo senso de humor”. O físico nunca perdeu o humor.
Para um entendimento mais equilibrado, por assim dizer, vale a pena ler “Stephen Hawking — Uma Vida Para a Ciência” (Record, 336 páginas, tradução de Ryta Vinagre), de Michael White e John Gribbin.
Eddie Redmayne com Stephen Hawking: o cientista diz que ator captou sua essência, como o fato de ter humor[/caption]
Há momentos, no filme “A Teoria de Tudo”, sobre os quais se pensa, num lampejo, que o físico não é Stephen Hawking, autor do livro “Uma Breve História do Tempo”, e sim a sua ex-mulher, Jane Wilde Hawking. Há duas explicações, quem sabe, toleráveis. Primeiro, a dificuldade de comunicação do cientista, hoje com 73 anos, contrariando o prognóstico médico. Quando era jovem, médicos disseram que só viveria dois anos. Segundo, a base da história levada ao cinema pelo diretor James Marsh é o livro “A Teoria de Tudo” (Única Editora, 448 páginas, tradução de Júlio de Andrade Filho e Sandra Martha Dolinsky), de Jane Hawking. É sua versão dos fatos, o que não significa que seja falsa. O mais provável é que seja apenas lacunar, exacerbe sua participação ao lado do cientista e encubra (ou suavize), aqui e ali, determinados problemas. A história sobre uma pessoa ou fato é sempre uma versão.
Independentemente de certas questiúnculas, que nunca são resolvidas, e por isso parecem questão de fundo, quando não o são, “A Teoria de Tudo” é um belo filme, divertido quase sempre, doloroso às vezes; sobretudo, conta uma grande história. Uma história da ciência, as pesquisas revolucionárias de Stephen Hawking, uma história de superação (e nestas histórias não há como escapar a certo sentimentalismo e certa pieguice, mas o filme evita ser apelativo) e uma história de indivíduos que, apesar de tudo, têm uma vida comum, com prazeres e desprazes, como quaisquer outros.
Jane Hawking amava o homem Stephen Hawking, com todos os seus problemas físicos, e cuidou dele e dos três filhos, enquanto sacrificava a própria carreira (e vida), até se apaixonar por outro homem, o que é perfeitamente normal (e as expectativas das pessoas são mesmo diferentes). A frase de Liev Tolstói, do livro “A Sonata a Kreutzer”, permanece perfeita: “Dizer que a gente vai amar uma pessoa a vida toda é como dizer que uma vela continuará a queimar enquanto vivermos”. O físico também se apaixona por outra mulher, que se encanta com sua inteligência. Inteligência que, embora respeitada, não encantava como antes Jane Hawking.
O espectador tem sorte com os atores: Eddie Redmayne, que faz Stephen Hawking, e Felicity Jones, como Jane Hawking, estão muito bem, nas convergências e divergências. O “casamento” entre os atores, em termos de encenação e interação, é praticamente perfeito. Eddie Redmayne brilha pela contenção, não pelo excesso, ao representar um personagem complexo e intenso. Às vezes, aqui e ali, sente-se pena do Stephen Hawking que “salta” da tela e parece dialogar conosco, mas, no geral, sente-se mais admiração e respeito pelo cientista que, no lugar de se entregar e lamuriar, continuou a pesquisar, a pensar, a escrever (se se pode dizer assim) e a publicar livros que eventualmente balançam as estruturas da ciência. A bela Felicity Jones está muito bem. Sua ansiedade (e ambiguidade), em parte de matiz sexual — mas não só —, é contida e, ao mesmo tempo, exasperante. Sente culpa, pois, ao trair Stephen Hawking, parece trair a si própria. O filme trata a vida íntima do casal, com a inclusão do amante, com suavidade, sem escândalo, sem sensacionalismo. Num tempo de excessos, a contenção, que nada esconde — pelo contrário, cobra que o espectador imagine —, é apreciável.
No seu Facebook, Stephen Hawking postou que Eddie Redmayne, de fato com desempenho impressionante, estava igual a ele, agia como ele e com “o mesmo senso de humor”. O físico nunca perdeu o humor.
Para um entendimento mais equilibrado, por assim dizer, vale a pena ler “Stephen Hawking — Uma Vida Para a Ciência” (Record, 336 páginas, tradução de Ryta Vinagre), de Michael White e John Gribbin.
Os produtos jornalísticos dos Diários Associados são de qualidade, mas o grupo, como empresa, enfrenta uma crise arrasa-quarteirão. Em Pernambuco, um de seus maiores mercados, foram vendidos o tradicional “Diário de Pernambuco” e uma rádio. Agora, pretende-se vender a TV Brasília — retransmissora da programação da Rede TV! —, apontada como não lucrativa e de baixa audiência. O problema é que o sócio, o empresário da construção civil e do ramo imobiliário Paulo Octávio, não quer vender sua metade. O que estiver dando prejuízo será passado adiante — é a nova norma da casa. O “Diário de Pernambuco” teria sido comercializado para uma empresa da área de seguro de saúde. Comenta-se, mas sem evidências, que o advogado José Dirceu, o articulador do mensalão, estaria por trás da transação do jornal. A tendência dos Diários Associados é que se mantenha tão-somente o controle dos jornais “Correio Braziliense” e “Estado de Minas”, líderes em circulação em suas respectivas regiões. Comenta-se, em Brasília e Belo Horizonte, que as duas publicações vão promover mais demissões — agora na área de publicidade e classificados.


