Resultados do marcador: Terça Poética

Humor cáustico e poesia dão-se as mãos nestas quadrinhas do poeta curitibano Wagner Schadeck. Leia e perceba a correlação mui pertinente com cada personagem abordada
[caption id="attachment_100693" align="aligncenter" width="620"] "Diógenes, o Cínico, procurando um homem honesto, com sua lanterna". Obra de Jacob Jordaens
"Diógenes, o Cínico, procurando um homem honesto, com sua lanterna". Obra de Jacob Jordaens
[/caption]
Wagner Schadeck
Especial para o Jornal Opção
“NINE”
Sem orgulho, inveja, gula,
Avareza, sexo ou ira,
Furino é santo? Mentira!
Quanta propina pulula?
VANA
Para que o pânico cresça,
Petrificaste toda a horda?
Medusa, górgona gorda,
Tens minhocas na cabeça.
“AU TOMBEAU”
O mais baixo entre os soturnos
Seres, cairás, Nosferatus?
Calçando quantos coturnos,
Subiste com quantos pactos?
AÉREO
Grande carreira ele teve,
Mas à qual ainda aspira?
Com o nariz cheio de neve,
Viajou noutra mentira.
MENDAZ
Para que emendas remendes,
Perdes a peruca, Bozo?
De teu reinado orgulhoso,
Gemes quando um peido prendes?
ITALIANO
Entre inúmeras destrezas,
Em seu Curriculum grifas
O comunicar de cifras
Por meio de línguas presas.
AMANTE
Em que chiqueiro chafurdas?
Que gripe te rompe a grimpa
Nasal? Mas de lodo surda,
Ainda desfilas limpa.
FARIAS
Teu nariz em tudo enfaras.
Choras, esperneias, urras...
Em tuas secretas taras,
Mamaste o leite das burras.
PARDAL
Unha de fome, engoliste
Dente de ouro? Nos poleiros
Mais imundos dos calheiros,
Devoras alheio alpiste.
CARANGUEJO
Em escusas rondas punhas
As tuas patas no espólio.
Ora esbugalhas os olhos,
Enquanto prendem-lhe as cunhas?
MARINA SILVA
Eis a cientista do povo,
Trazendo a ciência das matas.
Recomenda usar das patas
A cloaca em vez do ovo.
CIRO
É um Sísifo dos papéis;
Burocrata da resposta.
Mesmo com doutos anéis,
Não passa de um rola-bosta.
GENRO
O ópio dos intelectuais
É a fina flor das esquerdas.
Seus delírios são ideais,
Suas ideias são lerdas.
SARNEY
Pousas de cão magro para
Quê? Com a sarna te promulgas!
Mas como a sarna não sara,
Coça a mordida das pulgas.
 Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.
Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.
[caption id="attachment_99101" align="alignleft" width="300"] "Lúcio Cardoso/Poesia completa". (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro, Edusp, 2011.)[/caption]
Adalberto de Queiroz
Especial para o Jornal Opção
Quando se lê o nome de Lúcio Cardoso, vem à mente do leitor o famoso prosador, consagrado sobretudo pelo romance “Crônica da casa assassinada”, conhecido por sua íntima amizade com Clarice Lispector e famoso por seu comportamento nada ortodoxo, marcado por uma “inquietude existencial”, como diria Nelly Novaes Coelho. Afinal, “Lúcio nunca esteve do lado 'correto' da vida: rebelde e insurrecto desde os anos de ginásio, vivendo sempre longe da presença paterna, foi, como poucos, fiel até o fim aos seus princípios e visão de mundo, ainda que à custa de isolamento e solidão. Seu diário traz testemunhos desse estranhamento, dessa marginalidade”. A citação é de Ésio Macedo Ribeiro, constante em sua obra “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”.
Se o romance “Crônica da casa assassinada” pode ser considerado uma obra-prima pelo “rigor estilístico e formal”, o que de certa maneira é a característica da média de sua produção ficcional, o mesmo não pode se dizer de sua poesia.
O nome de Lúcio Cardoso, desaparecido há quase meio século, permaneceu como o de um escritor de qualidade e apreciado no Brasil e no exterior, onde foi traduzido para o francês, o espanhol, o italiano e o inglês. A 'redescoberta' do nome e da obra de Lúcio deu-se no final da década de 1990 “seja pelo relançamento de seus romances, seja pelo lançamento do filme “O Viajante” (dirigido por Paulo César Saraceni), baseado na obra homônima de Lúcio.
A poesia de Lúcio Cardoso é, mesmo para os leitores mais vorazes, quase desconhecida. Daí a relevância de que se reveste “Lúcio Cardoso: Poesia completa" (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro. Edusp, 2011) para os pesquisadores e leitores em geral que amam a obra de Lúcio. O trabalho é uma espécie de sequência natural para o pesquisador que havia se dedicado em sua tese de mestrado (2001) à poesia de Cardoso, com seu “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”, que se transformou em livro em 2006, pela Edusp/Nankin Editorial.
É esse exaustivo trabalho de pesquisa que Ésio Ribeiro entrega ao leitor de língua portuguesa em “ordem crítica”, depois de analisar um acervo de 675 poesias, entre manuscritos autógrafos e datiloscritos, 84 poemas publicados em periódicos, antologias e inéditos de acervos públicos e privados, gerando uma “descrição da forma organizacional” que dá à edição crítica um roteiro para o pesquisador e o amante da boa poesia.
Além disso, há no trabalho de Ésio Ribeiro uma cronologia de Lúcio Cardoso e uma introdução crítico-filológica focada na histórica das publicações (livros e periódicos) e dos inéditos. Dois apêndices completam a obra de mais de mil páginas – uma bibliografia anotada (1934-2010) e 6 fac-símiles escolhidos entre os mais e seiscentos consultados pelo pesquisador.
Num mar de produção intensa, com suas altas ondas, suas marés altas e vazantes, selecionei 3 poemas para esta Terça Poética, não antes sem destacar a consciência de Lúcio Cardoso a respeito do seu fazer poético, conforme anotação tirada ao “Diário”, onde diz:
“Não se ama os poetas, grande engano – são seres solitários e destinados à morte. Morte sem perdão – porque não há perdão para os poetas”.
O pecador confesso, Lúcio Cardoso, ressurge aqui, por obra e graça de Ésio Macedo Ribeiro na exuberância de sua produção poética, que, com “a edição e o exame crítico da obra poética” deseja (e consegue) “iluminar aspectos dos seus [de Lúcio] textos em prosa, sobretudo aqueles em que os signos da noite, da morte e das sombras são também recorrentes” .
Artista multifacetado, com inúmeros recursos de expressão, Lúcio trafegou do conto à novela, do romance à dramaturgia, do memorialismo ao cinema, do ensaio e tradução às artes plásticas, porém, “dentre todas as artes que praticou, constatei que a poesia foi a primeira forma de expressão de Lúcio e, talvez, a última. Às vésperas do derrame que o furtou à arte da palavra, Lúcio escreveu o poema intitulado “Retrato de Yêda”. Era o dia 11 de novembro de 1962. Exatamente 26 dias depois, em 07 de dezembro, o artista sofreria o segundo derrame [cerebral], que o impediria definitivamente de escrever”- diz Ésio Ribeiro.
"Lúcio Cardoso/Poesia completa". (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro, Edusp, 2011.)[/caption]
Adalberto de Queiroz
Especial para o Jornal Opção
Quando se lê o nome de Lúcio Cardoso, vem à mente do leitor o famoso prosador, consagrado sobretudo pelo romance “Crônica da casa assassinada”, conhecido por sua íntima amizade com Clarice Lispector e famoso por seu comportamento nada ortodoxo, marcado por uma “inquietude existencial”, como diria Nelly Novaes Coelho. Afinal, “Lúcio nunca esteve do lado 'correto' da vida: rebelde e insurrecto desde os anos de ginásio, vivendo sempre longe da presença paterna, foi, como poucos, fiel até o fim aos seus princípios e visão de mundo, ainda que à custa de isolamento e solidão. Seu diário traz testemunhos desse estranhamento, dessa marginalidade”. A citação é de Ésio Macedo Ribeiro, constante em sua obra “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”.
Se o romance “Crônica da casa assassinada” pode ser considerado uma obra-prima pelo “rigor estilístico e formal”, o que de certa maneira é a característica da média de sua produção ficcional, o mesmo não pode se dizer de sua poesia.
O nome de Lúcio Cardoso, desaparecido há quase meio século, permaneceu como o de um escritor de qualidade e apreciado no Brasil e no exterior, onde foi traduzido para o francês, o espanhol, o italiano e o inglês. A 'redescoberta' do nome e da obra de Lúcio deu-se no final da década de 1990 “seja pelo relançamento de seus romances, seja pelo lançamento do filme “O Viajante” (dirigido por Paulo César Saraceni), baseado na obra homônima de Lúcio.
A poesia de Lúcio Cardoso é, mesmo para os leitores mais vorazes, quase desconhecida. Daí a relevância de que se reveste “Lúcio Cardoso: Poesia completa" (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro. Edusp, 2011) para os pesquisadores e leitores em geral que amam a obra de Lúcio. O trabalho é uma espécie de sequência natural para o pesquisador que havia se dedicado em sua tese de mestrado (2001) à poesia de Cardoso, com seu “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”, que se transformou em livro em 2006, pela Edusp/Nankin Editorial.
É esse exaustivo trabalho de pesquisa que Ésio Ribeiro entrega ao leitor de língua portuguesa em “ordem crítica”, depois de analisar um acervo de 675 poesias, entre manuscritos autógrafos e datiloscritos, 84 poemas publicados em periódicos, antologias e inéditos de acervos públicos e privados, gerando uma “descrição da forma organizacional” que dá à edição crítica um roteiro para o pesquisador e o amante da boa poesia.
Além disso, há no trabalho de Ésio Ribeiro uma cronologia de Lúcio Cardoso e uma introdução crítico-filológica focada na histórica das publicações (livros e periódicos) e dos inéditos. Dois apêndices completam a obra de mais de mil páginas – uma bibliografia anotada (1934-2010) e 6 fac-símiles escolhidos entre os mais e seiscentos consultados pelo pesquisador.
Num mar de produção intensa, com suas altas ondas, suas marés altas e vazantes, selecionei 3 poemas para esta Terça Poética, não antes sem destacar a consciência de Lúcio Cardoso a respeito do seu fazer poético, conforme anotação tirada ao “Diário”, onde diz:
“Não se ama os poetas, grande engano – são seres solitários e destinados à morte. Morte sem perdão – porque não há perdão para os poetas”.
O pecador confesso, Lúcio Cardoso, ressurge aqui, por obra e graça de Ésio Macedo Ribeiro na exuberância de sua produção poética, que, com “a edição e o exame crítico da obra poética” deseja (e consegue) “iluminar aspectos dos seus [de Lúcio] textos em prosa, sobretudo aqueles em que os signos da noite, da morte e das sombras são também recorrentes” .
Artista multifacetado, com inúmeros recursos de expressão, Lúcio trafegou do conto à novela, do romance à dramaturgia, do memorialismo ao cinema, do ensaio e tradução às artes plásticas, porém, “dentre todas as artes que praticou, constatei que a poesia foi a primeira forma de expressão de Lúcio e, talvez, a última. Às vésperas do derrame que o furtou à arte da palavra, Lúcio escreveu o poema intitulado “Retrato de Yêda”. Era o dia 11 de novembro de 1962. Exatamente 26 dias depois, em 07 de dezembro, o artista sofreria o segundo derrame [cerebral], que o impediria definitivamente de escrever”- diz Ésio Ribeiro.
Eis os poemas:
Poema Que sei fazer, meu Deus, senão amar? As tardes de estio, o vento nos caminhos, a ausência. Sinto que tudo não será senão um sonho a dilacerar no tempo imóvel. O vento nas folhas, o vento no rio, o vento arrastando as nuvens indefesas. O teu olhar, os teus cabelos que rolam, o meu amor que não se acaba. Que sei fazer, meu Deus, senão sofrer? O Rio O imenso rio, como um tigre fechado e seu âmbito de fome, depois de devorar noturna selva a própria espuma em si consome. Fera desatada do aguadouro a chorar os tempos de abastança ácido cavalo em tons de louro violando margens sitiadas... ...em teu ser ressurge minha infância e pássaros reluzem na tua fronde. Inquieto, também sem permanência devasso tua alma sem receio; e se assim me vejo em teu espelho, rio, como ser sem ser o meio? Não se pode ler Não se pode ler o que confiado ao tempo flui e se esvai com ruptura do sangue – e o que dito sem aleive, transforma-se em pedra, sobre o coração leve – leve demais – e o que orgulhoso, radica-se no baixo, sem forças para morrer e nem glória para subir – NÃO SE PODE LER o que não se pode pensar, nem ler, nem escrever. Não se pode ler o que não se pode. Adalberto de Queiroz é poeta, autor de "Frágil Armação" (Caminhos, 2017, 2ª edição) e "Destino Palavra" (2016).
Livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto
[caption id="attachment_96640" align="aligncenter" width="620"] Wladimir Saldanha. Ilustração: Felipe Stefani[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Natal de Herodes (Mondrongo, 2017) é o quarto livro de poesia de Wladimir Saldanha. Nele, referências históricas e intertextuais se misturam ao drama pessoal/familiar de um eu lírico marcado pela ausência paterna, o que constitui o eixo em torno do qual se integram rememoração e reminiscência (as duas dimensões da memória). Temos, então, um eu lírico que procura no metafísico, na Comunhão com a figura de Cristo, uma via de redenção para seu dilaceramento interior. Contudo, engana-se quem pense tratar-se de uma obra apologética, de viés proselitista, pois os poemas, além de ser a elaboração estética de uma experiência ao mesmo tempo pessoal e com aspirações ao universal, não se negam às contradições de uma fé sincera e, por isso mesmo, às vezes vacilante e algo irreverente. Não só por conta disso, mas também pelo manejo habilidoso de diversas formas poéticas (o que inclui tanto o verso metrificado quanto o livre), Natal de Herodes pode ser colocado em linha de sucessão com Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, um dos momentos mais altos da poesia brasileira.
O livro possui duas partes, “Tempo do Advento” e “Tempo do Natal”, cada uma dividida em três seções. Na primeira delas, há um movimento centrífugo da vivência particular em direção à tradição, em que as lembranças pessoais evocam imagens do passado histórico e do campo artístico. A primeira seção, “Registro dos enjeitados”, pode ser descrita como uma empreitada do eu lírico em reconstituir a própria história, costurando fragmentos de sua infância, marcada pela falta da figura paterna. No último poema da seção, “Os bens do ausente”, entra em cena um recurso amplamente utilizado ao longo do livro, o da dramatização do conflito interior, em que o eu lírico assume uma personagem, máscara dramática, para representar suas vivências, conforme os já manjados versos daquele autor português que definia a si mesmo como “poeta dramático”: “O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente”. Em vez de destacar o caráter fictício da fabulação poética, chamo atenção ao “A dor que deveras sente”, à vivência pessoal que serve de referente ao trabalho ficcional. Em “Os bens do ausente”, o conflito com o pai se exprime num paralelo com a história do parricida Édipo:
Porque andas tempo inteiro,
tenho, pai, os pés inchados.
Salvou-me que pegureiro,
a mim seu filho, ou de Laios?
Salvou-me; após me daria
a outro, este a um Políbio,
de quem, chamando-me filho,
fujo eu sem profecia,
mas já por medo da palavra
pai, que me pilhastes:
tua ausência me escalavra
os signos, torna-os trastes.
Aqui, a máscara é vivida como símile, como paralelo. Porém, ao longo da obra, ela vai adquirindo uma natureza metafórica, fundindo-se à identidade do “eu lírico vivencial”, digamos assim, que encena seu drama particular diante do leitor.
Na segunda seção da primeira parte, “As paternidades”, procura-se reinventar a história pessoal, lançando mão de referências históricas, artísticas e, sobretudo, literárias (ou, num outro sentido, busca-se ressignificar aquela por meio destas) num diálogo cerrado com a tradição. Trata-se de um mosaico intertextual por meio do qual se pretende recompor a imagem do pai ausente, um esforço de, no âmbito da ficção — revisitando a vida e a obra de escritores como Rilke, Borges, João Cabral, Verlaine, entre outros —, recriar o enredo do drama pessoal/familiar que é o fio condutor do livro. Um ponto interessante é a tentativa de suprir a carência da figura paterna, substituindo-a por artistas, como se vê em “Sufrágio por três pais”, série de poemas dedicados a Jorge Amado, Lêdo Ivo e Tom Jobim.
Já na terceira seção, “Palimpsesto de Cesareia”, assiste-se a um verdadeiro zigue-zague entre fragmentos da história antiga, ligados ao contexto do surgimento do cristianismo, e eventos biográficos. Assistimos a uma arqueologia da memória, em que acontecimentos, paisagens e objetos do passado ganham nova significação à luz das vivências de uma perspectiva contemporânea que, aliás, identifica ressonâncias épicas e míticas em elementos do cotidiano. De acordo com as categorias do pensamento de Walter Benjamin no ensaio “O narrador”, estaríamos diante de uma convergência entre a dimensão individual da memória, que se constitui por meio das vivências do sujeito — a rememoração — e a dimensão coletiva, matéria da tradição e construída com base na experiência social — a reminiscência. Trata-se de procurar, na reminiscência, o significado existencial que escapa às vivências que o eu lírico recompõe com o trabalho da rememoração.
É nesta parte que a dramatização do conflito interior começa a ser encenado por sua máscara preferencial: Herodes, suposto autor de três poemas que se passam por fragmentos textuais. Neles, o fantasma do idumeu que governou Israel como rei cliente sob domínio romano depara com as ruínas atuais da cidade de Cesareia, por ele construída. O que lhe chama atenção é a ausência da água que, no passado, era transportada pelos aquedutos. A água ausente, como fica claro na abertura do terceiro fragmento, é um símbolo da ausência paterna:
Tive pai, mas o meu envenenaram
e porque fui idumeu, o meu,
negaram-se sempre alguma coisa,
por isso o apreço pela falta.
Começamos a vislumbrar, então, a importância da máscara de Herodes. Ela representa, de diferentes maneiras, a condição do “filho prólogo” (que é o título do poema que abre o volume). O filho prólogo é aquele preterido pelo pai em nome de um segundo filho, de outra mãe, devidamente reconhecido. Já o órfão Herodes, por ser idumeu e, portanto, de linhagem ilegítima, vive assombrado com a possibilidade de que sua coroa lhe seja usurpada por algum pretendente de maior legitimidade, como seu cunhado Aristóbulo (mote do poema “O afogamento de Aristóbulo”). A correspondência entre o filho prólogo e Herodes é explicitada nos seguintes versos de tal poema, em que se verifica o já citado zigue-zague entre vivência contemporânea e história antiga:
[caption id="attachment_96641" align="alignleft" width="300"]
Wladimir Saldanha. Ilustração: Felipe Stefani[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Natal de Herodes (Mondrongo, 2017) é o quarto livro de poesia de Wladimir Saldanha. Nele, referências históricas e intertextuais se misturam ao drama pessoal/familiar de um eu lírico marcado pela ausência paterna, o que constitui o eixo em torno do qual se integram rememoração e reminiscência (as duas dimensões da memória). Temos, então, um eu lírico que procura no metafísico, na Comunhão com a figura de Cristo, uma via de redenção para seu dilaceramento interior. Contudo, engana-se quem pense tratar-se de uma obra apologética, de viés proselitista, pois os poemas, além de ser a elaboração estética de uma experiência ao mesmo tempo pessoal e com aspirações ao universal, não se negam às contradições de uma fé sincera e, por isso mesmo, às vezes vacilante e algo irreverente. Não só por conta disso, mas também pelo manejo habilidoso de diversas formas poéticas (o que inclui tanto o verso metrificado quanto o livre), Natal de Herodes pode ser colocado em linha de sucessão com Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, um dos momentos mais altos da poesia brasileira.
O livro possui duas partes, “Tempo do Advento” e “Tempo do Natal”, cada uma dividida em três seções. Na primeira delas, há um movimento centrífugo da vivência particular em direção à tradição, em que as lembranças pessoais evocam imagens do passado histórico e do campo artístico. A primeira seção, “Registro dos enjeitados”, pode ser descrita como uma empreitada do eu lírico em reconstituir a própria história, costurando fragmentos de sua infância, marcada pela falta da figura paterna. No último poema da seção, “Os bens do ausente”, entra em cena um recurso amplamente utilizado ao longo do livro, o da dramatização do conflito interior, em que o eu lírico assume uma personagem, máscara dramática, para representar suas vivências, conforme os já manjados versos daquele autor português que definia a si mesmo como “poeta dramático”: “O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente”. Em vez de destacar o caráter fictício da fabulação poética, chamo atenção ao “A dor que deveras sente”, à vivência pessoal que serve de referente ao trabalho ficcional. Em “Os bens do ausente”, o conflito com o pai se exprime num paralelo com a história do parricida Édipo:
Porque andas tempo inteiro,
tenho, pai, os pés inchados.
Salvou-me que pegureiro,
a mim seu filho, ou de Laios?
Salvou-me; após me daria
a outro, este a um Políbio,
de quem, chamando-me filho,
fujo eu sem profecia,
mas já por medo da palavra
pai, que me pilhastes:
tua ausência me escalavra
os signos, torna-os trastes.
Aqui, a máscara é vivida como símile, como paralelo. Porém, ao longo da obra, ela vai adquirindo uma natureza metafórica, fundindo-se à identidade do “eu lírico vivencial”, digamos assim, que encena seu drama particular diante do leitor.
Na segunda seção da primeira parte, “As paternidades”, procura-se reinventar a história pessoal, lançando mão de referências históricas, artísticas e, sobretudo, literárias (ou, num outro sentido, busca-se ressignificar aquela por meio destas) num diálogo cerrado com a tradição. Trata-se de um mosaico intertextual por meio do qual se pretende recompor a imagem do pai ausente, um esforço de, no âmbito da ficção — revisitando a vida e a obra de escritores como Rilke, Borges, João Cabral, Verlaine, entre outros —, recriar o enredo do drama pessoal/familiar que é o fio condutor do livro. Um ponto interessante é a tentativa de suprir a carência da figura paterna, substituindo-a por artistas, como se vê em “Sufrágio por três pais”, série de poemas dedicados a Jorge Amado, Lêdo Ivo e Tom Jobim.
Já na terceira seção, “Palimpsesto de Cesareia”, assiste-se a um verdadeiro zigue-zague entre fragmentos da história antiga, ligados ao contexto do surgimento do cristianismo, e eventos biográficos. Assistimos a uma arqueologia da memória, em que acontecimentos, paisagens e objetos do passado ganham nova significação à luz das vivências de uma perspectiva contemporânea que, aliás, identifica ressonâncias épicas e míticas em elementos do cotidiano. De acordo com as categorias do pensamento de Walter Benjamin no ensaio “O narrador”, estaríamos diante de uma convergência entre a dimensão individual da memória, que se constitui por meio das vivências do sujeito — a rememoração — e a dimensão coletiva, matéria da tradição e construída com base na experiência social — a reminiscência. Trata-se de procurar, na reminiscência, o significado existencial que escapa às vivências que o eu lírico recompõe com o trabalho da rememoração.
É nesta parte que a dramatização do conflito interior começa a ser encenado por sua máscara preferencial: Herodes, suposto autor de três poemas que se passam por fragmentos textuais. Neles, o fantasma do idumeu que governou Israel como rei cliente sob domínio romano depara com as ruínas atuais da cidade de Cesareia, por ele construída. O que lhe chama atenção é a ausência da água que, no passado, era transportada pelos aquedutos. A água ausente, como fica claro na abertura do terceiro fragmento, é um símbolo da ausência paterna:
Tive pai, mas o meu envenenaram
e porque fui idumeu, o meu,
negaram-se sempre alguma coisa,
por isso o apreço pela falta.
Começamos a vislumbrar, então, a importância da máscara de Herodes. Ela representa, de diferentes maneiras, a condição do “filho prólogo” (que é o título do poema que abre o volume). O filho prólogo é aquele preterido pelo pai em nome de um segundo filho, de outra mãe, devidamente reconhecido. Já o órfão Herodes, por ser idumeu e, portanto, de linhagem ilegítima, vive assombrado com a possibilidade de que sua coroa lhe seja usurpada por algum pretendente de maior legitimidade, como seu cunhado Aristóbulo (mote do poema “O afogamento de Aristóbulo”). A correspondência entre o filho prólogo e Herodes é explicitada nos seguintes versos de tal poema, em que se verifica o já citado zigue-zague entre vivência contemporânea e história antiga:
[caption id="attachment_96641" align="alignleft" width="300"] "Natal de Herodes", Mondrongo, 2017[/caption]
(...)
Como de brincadeira,
insuportavelmente,
nos jardins, piscinas infláveis
ou de armação, brincam
Aristóbulos com seus pais
e Herodes sem linhagem
têm de assistir à ablução
risonha, sem exprobar!
(...)
O título “Natal de Herodes”, portanto, sugere a ideia de um monarca encolhido à sombra do futuro “rei dos judeus” que está para nascer (ideia presente no poema “Pelo Rei Herodes”, da segunda parte do livro), o que corresponderia à situação do primogênito bastardo preterido pelo rebento mais novo de uma relação legítima do pai. Esse jogo de máscaras por meio do qual se representa o drama pessoal/familiar é metalinguisticamente desvelado em “Hipólito, Teramenos”, em que o eu lírico se traveste ora de Hipólito (personagem de uma tragédia euripidiana, retomada por Racine em Fedra), ora de Ícaro:
(...)
meu Teramenos amigo!
Perdoa se oscilo eu
entre Hipólito e Ícaro:
ambos morrem pelo Egeu
e os deuses pelo que digo.
Neste ponto, já é possível perceber que as diversas máscaras que o eu lírico assume são alegorias que visam a representar o drama da ausência paterna. T. S. Eliot, no ensaio “Talento individual e tradição”, destaca que a poesia “não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da personalidade”, pois se trata de uma combinação de referências literárias e extraliterárias — por vezes estranhas à vivência particular do autor — que, à força do processo compositivo, integram-se na objetividade do poema, artefato linguístico. Na criação poética, em suma, há um processo de alienação da vivência, que se transforma em algo qualitativamente distinto. Para tanto, é preciso que o poeta abandone a própria personalidade, tornando-se uma caixa de ressonância das palavras dos autores mortos que constituem a tradição literária. Saldanha, contudo, obtém uma sutil alquimia: apropria-se das referências da tradição e lhes empresta um significado novo, que, mesmo não sendo o da vivência real do autor, é sua reinvenção, sua elaboração estética; ele faz, da tradição, matéria íntima. É isso o que se pode chamar de intimismo universal: a intimidade do autor se infiltra na universalidade dos arquétipos literários, atualizando-os e os atraindo à realidade contemporânea.
Se “Tempo do Advento” se caracteriza por um movimento centrífugo da vivência particular para a tradição, em “Tempo de Natal”, a segunda parte do livro, temos o movimento inverso, centrípeto. Em sua primeira seção, “Natal de Herodes”, seguido de um “Calvário de Herodes”, as máscaras dramáticas do eu lírico, interpretando personagens bíblicas, fazem-se presentes de poema a poema: Reis Magos, Herodes, Maria, José e Zacarias. Ao final da seção, em “Calvário de Herodes”, vemos o rei consumido pela culpa de ter condenado à morte Mariana, sua amada esposa, por desconfiar que ela tramava contra ele.
O mesmo movimento centrípeto, em que as referências bíblicas e históricas se remetem à vivência particular, constata-se na terceira seção, “Responsório do silêncio”. Na segunda seção, entretanto — “Desdobramentos do Natal”—, novamente o vetor da fabulação poética parte da vivência contemporânea do eu lírico, envolvendo, por vezes, acontecimentos triviais relacionados ao feriado natalino. Atravessa-a por inteiro a esperança de, por meio da Comunhão com uma criança divina prestes a nascer, alcançar a redenção do sentimento de incompletude gerado pela ausência paterna, como se percebe nitidamente nos dois poemas de “Se não tenho pai, se ela usa túnica”.
Em “Responsório do silêncio”, mais uma vez, referências históricas e mitológicas são convidadas a participar do drama do pai ausente: o Caim ciumento, assassino do irmão preferido por Deus; o Isaac que tem “o cutelo do pai ausente contra a garganta”; mais Herodes, Judas, Pedro, Zaqueu etc. Um dos poemas mais interessantes (na verdade, uma coroa aberta de 10 sonetilhos em redondilha maior) é “Dois reis” em que, num procedimento dialético ao gosto de João Cabral, são comparadas as figuras de Jesus e Édipo. Já em “A pergunta”, o eu lírico entoa o Salmo 22, repetido por Jesus à cruz, impregnando-o de reverberações pessoais:
Eu não salmodio,
não entoo Davi.
Eu pergunto ao pai
ausente em meus botões,
por que me abandonaste?
POR QUE ME ABANDONASTE?
(...)
Na segunda parte de “Natal de Herodes”, é perceptível a iminência do nascimento de Jesus como uma promessa de redenção do eu lírico, existencialmente mutilado pela falta do pai. Por meio da Comunhão com Cristo — e, num certo sentido, também com a tradição —, espera-se atingir um estado de plenitude que a vivência, destituída de um significado intrínseco, não possibilita, fazendo com que seja necessário buscar algum significado no âmbito da cultura e no metafísico. Entretanto, o enredo desse drama é mais complexo e ambíguo que isso. Cristo não é apenas esperança, promessa de redenção. Para Herodes, por exemplo, espécie de alter ego do autor (como fica claro na nota de agradecimento ao final do livro, assinado por um “Eu, El-Rei Herodes”), Jesus significa a ameaça de um potencial usurpador. Figura polissêmica, o Filho assume diversos significados, inclusive o de substituto ao pai ausente (faceta semântica que predomina ao longo do livro). É preciso reconhecer, porém, que, mesmo em sua função redentora, esse Cristo costuma se fazer presente sobretudo como ausência, ou melhor dizendo, como latência. Assim, a identidade do Filho com o pai ausente estende-se também à imagem daquele que não está, de lacuna na personalidade do eu lírico. Em “Por José (I)”:
Então ser pai é esta ausência
ao lado.
Imensa ausência, maior até
do que a primeira que lhe impusera:
Pai daquele de quem é
quem ele era.
Em “Por Maria (II)”, por sua vez:
O primeiro aniversário
sem Ele
é este vazio
de rotunda
sem edícula
este frio
de Eternidade
esta verdade
na canícula
Natal de Herodes não apresenta uma história de redenção, como no caso de A divina comédia de Dante, monumental alegoria do reencontro da alma perdida (por metonímia, a humanidade) com o Criador; trata-se, na verdade, do drama de uma procura e — por que não? — também de uma dramatização de uma neurose obsedante. O Natal segue-se ao Advento, nasce o Messias, mas o vazio, que tem o peso de todas as possibilidades, não se dissipa. Estamos diante de uma trajetória que vai da mágoa à esperança, verdadeira sublimação de profundas questões psicológicas.
O livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto, como se vê pelas diversas máscaras que o eu lírico assume. Como se não bastasse a grande qualidade poética de Natal de Herodes e o virtuosismo de seu autor, é preciso dizer que o livro em si é uma atração à parte graças às ilustrações de Felipe Stefani, com seu vertiginoso traço que, ao mesmo tempo em que empresta diafaneidade às figuras, destaca o aspecto material do traço, rabisco que se concentra numa forma inteligível; ambiguidade entre o material e seu conteúdo ideal, que dialoga muito bem com a tortuosa busca metafísica que os poemas expressam.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
__________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7ª ed. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994, pp. 197-221.
ELIOT, T. S. “Talento individual e tradição”. In: Ensaios. Tradução Ivan Junqueira. São Paulo: Art, 1989, pp. 37-48.
SALDANHA, Wladimir. Natal de Herodes. Itabuna: Mondrongo, 2016.
"Natal de Herodes", Mondrongo, 2017[/caption]
(...)
Como de brincadeira,
insuportavelmente,
nos jardins, piscinas infláveis
ou de armação, brincam
Aristóbulos com seus pais
e Herodes sem linhagem
têm de assistir à ablução
risonha, sem exprobar!
(...)
O título “Natal de Herodes”, portanto, sugere a ideia de um monarca encolhido à sombra do futuro “rei dos judeus” que está para nascer (ideia presente no poema “Pelo Rei Herodes”, da segunda parte do livro), o que corresponderia à situação do primogênito bastardo preterido pelo rebento mais novo de uma relação legítima do pai. Esse jogo de máscaras por meio do qual se representa o drama pessoal/familiar é metalinguisticamente desvelado em “Hipólito, Teramenos”, em que o eu lírico se traveste ora de Hipólito (personagem de uma tragédia euripidiana, retomada por Racine em Fedra), ora de Ícaro:
(...)
meu Teramenos amigo!
Perdoa se oscilo eu
entre Hipólito e Ícaro:
ambos morrem pelo Egeu
e os deuses pelo que digo.
Neste ponto, já é possível perceber que as diversas máscaras que o eu lírico assume são alegorias que visam a representar o drama da ausência paterna. T. S. Eliot, no ensaio “Talento individual e tradição”, destaca que a poesia “não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da personalidade”, pois se trata de uma combinação de referências literárias e extraliterárias — por vezes estranhas à vivência particular do autor — que, à força do processo compositivo, integram-se na objetividade do poema, artefato linguístico. Na criação poética, em suma, há um processo de alienação da vivência, que se transforma em algo qualitativamente distinto. Para tanto, é preciso que o poeta abandone a própria personalidade, tornando-se uma caixa de ressonância das palavras dos autores mortos que constituem a tradição literária. Saldanha, contudo, obtém uma sutil alquimia: apropria-se das referências da tradição e lhes empresta um significado novo, que, mesmo não sendo o da vivência real do autor, é sua reinvenção, sua elaboração estética; ele faz, da tradição, matéria íntima. É isso o que se pode chamar de intimismo universal: a intimidade do autor se infiltra na universalidade dos arquétipos literários, atualizando-os e os atraindo à realidade contemporânea.
Se “Tempo do Advento” se caracteriza por um movimento centrífugo da vivência particular para a tradição, em “Tempo de Natal”, a segunda parte do livro, temos o movimento inverso, centrípeto. Em sua primeira seção, “Natal de Herodes”, seguido de um “Calvário de Herodes”, as máscaras dramáticas do eu lírico, interpretando personagens bíblicas, fazem-se presentes de poema a poema: Reis Magos, Herodes, Maria, José e Zacarias. Ao final da seção, em “Calvário de Herodes”, vemos o rei consumido pela culpa de ter condenado à morte Mariana, sua amada esposa, por desconfiar que ela tramava contra ele.
O mesmo movimento centrípeto, em que as referências bíblicas e históricas se remetem à vivência particular, constata-se na terceira seção, “Responsório do silêncio”. Na segunda seção, entretanto — “Desdobramentos do Natal”—, novamente o vetor da fabulação poética parte da vivência contemporânea do eu lírico, envolvendo, por vezes, acontecimentos triviais relacionados ao feriado natalino. Atravessa-a por inteiro a esperança de, por meio da Comunhão com uma criança divina prestes a nascer, alcançar a redenção do sentimento de incompletude gerado pela ausência paterna, como se percebe nitidamente nos dois poemas de “Se não tenho pai, se ela usa túnica”.
Em “Responsório do silêncio”, mais uma vez, referências históricas e mitológicas são convidadas a participar do drama do pai ausente: o Caim ciumento, assassino do irmão preferido por Deus; o Isaac que tem “o cutelo do pai ausente contra a garganta”; mais Herodes, Judas, Pedro, Zaqueu etc. Um dos poemas mais interessantes (na verdade, uma coroa aberta de 10 sonetilhos em redondilha maior) é “Dois reis” em que, num procedimento dialético ao gosto de João Cabral, são comparadas as figuras de Jesus e Édipo. Já em “A pergunta”, o eu lírico entoa o Salmo 22, repetido por Jesus à cruz, impregnando-o de reverberações pessoais:
Eu não salmodio,
não entoo Davi.
Eu pergunto ao pai
ausente em meus botões,
por que me abandonaste?
POR QUE ME ABANDONASTE?
(...)
Na segunda parte de “Natal de Herodes”, é perceptível a iminência do nascimento de Jesus como uma promessa de redenção do eu lírico, existencialmente mutilado pela falta do pai. Por meio da Comunhão com Cristo — e, num certo sentido, também com a tradição —, espera-se atingir um estado de plenitude que a vivência, destituída de um significado intrínseco, não possibilita, fazendo com que seja necessário buscar algum significado no âmbito da cultura e no metafísico. Entretanto, o enredo desse drama é mais complexo e ambíguo que isso. Cristo não é apenas esperança, promessa de redenção. Para Herodes, por exemplo, espécie de alter ego do autor (como fica claro na nota de agradecimento ao final do livro, assinado por um “Eu, El-Rei Herodes”), Jesus significa a ameaça de um potencial usurpador. Figura polissêmica, o Filho assume diversos significados, inclusive o de substituto ao pai ausente (faceta semântica que predomina ao longo do livro). É preciso reconhecer, porém, que, mesmo em sua função redentora, esse Cristo costuma se fazer presente sobretudo como ausência, ou melhor dizendo, como latência. Assim, a identidade do Filho com o pai ausente estende-se também à imagem daquele que não está, de lacuna na personalidade do eu lírico. Em “Por José (I)”:
Então ser pai é esta ausência
ao lado.
Imensa ausência, maior até
do que a primeira que lhe impusera:
Pai daquele de quem é
quem ele era.
Em “Por Maria (II)”, por sua vez:
O primeiro aniversário
sem Ele
é este vazio
de rotunda
sem edícula
este frio
de Eternidade
esta verdade
na canícula
Natal de Herodes não apresenta uma história de redenção, como no caso de A divina comédia de Dante, monumental alegoria do reencontro da alma perdida (por metonímia, a humanidade) com o Criador; trata-se, na verdade, do drama de uma procura e — por que não? — também de uma dramatização de uma neurose obsedante. O Natal segue-se ao Advento, nasce o Messias, mas o vazio, que tem o peso de todas as possibilidades, não se dissipa. Estamos diante de uma trajetória que vai da mágoa à esperança, verdadeira sublimação de profundas questões psicológicas.
O livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto, como se vê pelas diversas máscaras que o eu lírico assume. Como se não bastasse a grande qualidade poética de Natal de Herodes e o virtuosismo de seu autor, é preciso dizer que o livro em si é uma atração à parte graças às ilustrações de Felipe Stefani, com seu vertiginoso traço que, ao mesmo tempo em que empresta diafaneidade às figuras, destaca o aspecto material do traço, rabisco que se concentra numa forma inteligível; ambiguidade entre o material e seu conteúdo ideal, que dialoga muito bem com a tortuosa busca metafísica que os poemas expressam.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
__________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7ª ed. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994, pp. 197-221.
ELIOT, T. S. “Talento individual e tradição”. In: Ensaios. Tradução Ivan Junqueira. São Paulo: Art, 1989, pp. 37-48.
SALDANHA, Wladimir. Natal de Herodes. Itabuna: Mondrongo, 2016.

Tiração de sarro com a poesia parnasiana, o livro do poeta curitibano se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia
[caption id="attachment_94625" align="aligncenter" width="620"] Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:
Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:
 Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...
Sai a passeio, mal o dia nasce,
Bela, nas simples roupas vaporosas;
E mostra às rosas do jardim as rosas
Frescas e puras que possui na face.
Passa. E todo o jardim, por que ela passe,
Atavia-se. Há falas misteriosas
Pelas moitas, saudando-a respeitosas...
É como se uma sílfide passasse!
E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro
Curvam-se as flores trêmulas... O bando
Das aves todas vem saudá-la em coro...
E ela vai, dando ao sol o rosto brando,
Às aves dando o olhar, ao vento o louro
Cabelo, e às flores os sorrisos dando...
... transforma-se em:
Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...
Sai a passeio, mal o dia nasce,
Bela, nas simples roupas vaporosas;
E mostra às rosas do jardim as rosas
Frescas e puras que possui na face.
Passa. E todo o jardim, por que ela passe,
Atavia-se. Há falas misteriosas
Pelas moitas, saudando-a respeitosas...
É como se uma sílfide passasse!
E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro
Curvam-se as flores trêmulas... O bando
Das aves todas vem saudá-la em coro...
E ela vai, dando ao sol o rosto brando,
Às aves dando o olhar, ao vento o louro
Cabelo, e às flores os sorrisos dando...
... transforma-se em:
 O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.
Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:
hoje o livro o passado talvez so-
-nhasse aos raios em que céus em que
sombria lembrança as estrelas trêmulas
infinita escada moita flor noite
luares? partindo e olhava degrau vives
trêmulo olhar estas aquelas um
anjo a harpa súplicas, feria das
estrelas sombra corta umas vós
também ilusões tua virgindade
de pudor a armadura neve das
capelas um bando de sombras meu
amor guardando montanhas coral
vi olhar celeste erguendo a alvura
neve cobre os flancos desnudo seio
Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.
Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.
Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.
É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.
Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.
[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"]
O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.
Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:
hoje o livro o passado talvez so-
-nhasse aos raios em que céus em que
sombria lembrança as estrelas trêmulas
infinita escada moita flor noite
luares? partindo e olhava degrau vives
trêmulo olhar estas aquelas um
anjo a harpa súplicas, feria das
estrelas sombra corta umas vós
também ilusões tua virgindade
de pudor a armadura neve das
capelas um bando de sombras meu
amor guardando montanhas coral
vi olhar celeste erguendo a alvura
neve cobre os flancos desnudo seio
Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.
Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.
Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.
É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.
Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.
[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"] Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]
Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.
A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.
Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.
[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"]
Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]
Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.
A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.
Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.
[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"] Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]
PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.
Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
______________________________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.
SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.
Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]
PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.
Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
______________________________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.
SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.

Caberia até dizer que Wagner Schadeck chegou a conseguir alguns efeitos especiais na tradução das "Odes" de Jonh Keats, talvez melhores que os do original
[caption id="attachment_93967" align="aligncenter" width="620"] John Keats[/caption]
Matheus de Souza Almeida
Especial para o Jornal Opção
Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.
Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?
Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."
[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"]
John Keats[/caption]
Matheus de Souza Almeida
Especial para o Jornal Opção
Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.
Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?
Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."
[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"] "Odes", de John Keats (Anticítera, 2017. Tradução de Wagner Schadeck)[/caption]
Não vou aborrecer o leitor explicando o que cada uma dessas palavras feias quer dizer ("consonância", "iâmbico"). A parte do prefácio que fala da tradução de poesia como "a transcrição de uma partitura original, escrita para determinado instrumento, com arranjo para outro", é mais clara: a tradução deve preservar, "a depender do musicista e da qualidade do instrumento transposto, a harmônica e consoantemente bela." Sejamos, porém, ainda mais didáticos e digamos que você lê o original, desmonta todas as suas pecinhas e coloca-as na lâmina de ensaio. A partir daí observe, dr., a maneira como "unravish'd" (inviolada) serve de adjetivo a "bride" (noiva), bem como a maneira com que "bride" abre o leque num estalo e exibe: "of quietness" (da quietude). Que tipo de ganho a nível molecular existe em usar especificamente o adjetivo "inviolada" e não, simplesmente, "virgem"? Há algum motivo para ela ser uma noiva? Para ser uma noiva da quietude? -- E a moral da história é que todo o minucioso relato que resultar de tal operação de análise buscou ser reproduzido na tradução, o que implica, na prática, que você, investindo seu dinheirinho na simpática brochura publicada pela Anticítera, terá feito a coisa certa.
Não é a primeira vez que Keats recebe um tratamento de luxo. Convém lembrar que as "Odes" já foram apresentadas para o leitor brasileiro, nem sempre na íntegra, a partir de traduções competentes de uma galera do calibre de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Augusto de Campos ou a dupla John Milton e Alberto Marsicano, além de tradutores esparsos como Ivo Barroso, Décio Pignatari ou Leonardo Antunes. Wagner se comunica bem com todos eles, por exemplo ao tomar emprestado a palavra "adufes" da tradução do Ivo para a "Ode sobre uma urna grega" ou então ao traduzir "Tasting" por "Sabendo", mesma opção que Augusto de Campos usara na "Ode a um rouxinol" (é um sentido meio arcaico do verbo, mas, de resto, "saber" e "sabor" possuem a mesma origem em latim: "supere").
São muitos os resultados felizes. A nível individual poderíamos citar um verso como "Que lenda à franja flórea em tua orla traça", tradução de "What leaf-fringed legend haunts about thy shape", quinto verso da primeira estrofe de "Ode sobre uma urna grega". É um verso difícil de ser traduzido, especialmente por conter em seu bojo palavras que, sem o devido cuidado, poderiam abrir as asinhas e duplicar o tamanho de um verso que precisa, de acordo com os parâmetros estipulados, ter um comprimento determinado. Mas não só: a maneira com que a consoante L suavemente deixa sua marca ao longo do verso, mesclada à rima interna entre "flórea" e "orla", ao som anasalado de "lENda à frANja" e, por fim, ao F duplo em "Franja Flórea" -- toda essa coreografia, em suma, é algo agradável (você lê e quase suspira) e consegue corresponder tintim por tintim ao que encontramos no próprio original: veja o L de "Leaf-fringed Legend", o F em "leaF-Fringed" e o jogo em "abOUt thY shApe" ("abÁU dÁI xÊIp": trate de abrir a boca se quiser pronunciar isso).
Noutros podemos elogiar a simplicidade tocante, por exemplo em "Mergulhe fundo ao fundo desse olhar", onde a repetição de "fundo", indicando ênfase e um mergulho efetivo, traduz o que está lá, no lado esquerdo do livro aberto: "And feed deep, deep upon her peerles eyes." Noto também que a ênfase na vogal U durante quase todo o verso, avançando até que feche com o A aberto de "olhar", como se de fato abríssemos os olhos após a leitura, é um modo de traduzir o E do original, que marca terreno num reino capitaneado pela consoante P até passar o bastão para o fonema aberto de "eyes".
Creio que caberia até dizermos, com uma ousadia justificável, que Wagner chegou a conseguir alguns efeitos especiais se brincar melhores que os do original, à guisa de "Ressonando num sulco arado ao meio", que possui não só a sonoridade da consoante S agilizando a leitura (é como se mais do que ler, deslizássemos), mas também a vogal U muitíssimo bem marcada de "sulco" (que recebe, claro, uma forcinha de "num") inclusa entre dois A tônicos: "ressonAndo" e "arAdo". Alie-se ao fato (e desde já me desculpem pelo jargão) de que "sulco" ocupa a posição de cesura no decassílabo heroico que temos, assim sendo, uma frase que mimetiza o sulco, precisamente, arando o verso ao meio. Ora: não consigo ver nada disso no original, que estampa: "Drows'd with the fume of poppies, while thy hook / Spares the next swath and all its twined flowers" (tive de citar os dois versos pois Wagner muda um pouquinho a ordem dos termos).
Claro: não só de sonoridades é feita a tradução. O tradutor das "Odes" se vê diante do fato de que o poeta usa uns termos um tanto quanto específicos na construção do poema. É o que os franceses chamam de "le mot juste", isto é, a palavra certa, o termo exato. Veja-se o caso de "thatch-eves" na primeira estrofe de "Para o outono". Jogue no site de buscas que você vai encontrar imagens do que são "thatch-eves". Eu explico: pense numa cabaninha de palha. Ali perto do telhado, o que é aquilo? Parece um beiral, não parece? Pois bem. Foco nesse beiral. É isso aí. Ele é o "thatch-eve".
O ápice das minúcias a que a tradução se propõe, todavia, está nos termos botânicos. Veja-se parte da quinta estrofe de "Ode para um rouxinol":
A relva, a moita, o pomarejo gaio,
Roseira-brava, branco pinheirinho,
A fugaz violeta entre a folhagem,
O rebento de maio,
A rosa almíscar a orvalhar de vinho
E o murmúrio de moscas na estiagem.
Tradução de:
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast-fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies in summer eves.
Que coisa mais linda, não acha? Você não tem uma planta sequer que foi esquecida na tradução. O objetivo foi esse mesmo: trazer a turma toda, mas sem rachar o acrílico das belas imagens que são apresentadas. Note, por exemplo, a maneira hábil com que "full of dewy wine" (cheia de vinho orvalhado) se transforma em "a orvalhar de vinho". É uma imagem interessante, em especial por tomar um elemento puramente natural, o orvalho, e adicionar um elemento, por assim dizer, dionisíaco: o vinho. É como se a natureza toda se transformasse numa fanfarra. O poeta começa a estrofe dizendo: "Não posso ver as flores a meus pés, / Nem a ramagem que o olor remoça." Ele apenas supõe ("guess") as flores que ali estão, tudo na base dos sentidos. E no entanto, note o grau de riqueza, de detalhes, a maneira com que ele deixa que tudo aquilo invada seu íntimo e se transforme numa bela paisagem. Perder a mão na hora de traduzir com rigor o correspondente exato para cada uma dessas plantas e flores seria uma maneira de baratear o apurado sentimento que o eu lírico demonstra nesta passagem. Fechar os olhos e genericamente imaginar flores a seus pés qualquer um imaginaria; pensar na roseira-brava e no branco pinheirinho, só Keats.
A tradução só me fez torcer o nariz quando, em algumas passagens, ela me pareceu de leitura truncada e confusa. Wagner, de um modo geral, dispensou os sinais de pontuação que Keats dispôs em seu texto, em específico o ponto e vírgula. Veja-se o final da sexta estrofe da mesma ode sobre o rouxinol:
Agora me parece bom morrer,
Cessando à meia-noite sem pesares,
Enquanto o teu espírito depões
Com êxtase do ser,
Hei de te ouvir, inda que em vão cantares,
Enxertando-lhe o réquiem em torrões.
Existe uma guinada no interior da frase brusca demais para que uma simples vírgula dê conta. Isto a partir, em específico, de "Com êxtase do ser" e "Hei de te ouvir". Ainda, a flexão do verbo "cantar" em "cantares" parece desconexa, malgrado o fato de a certo custo ligarmo-la ao rouxinol graças à segunda pessoa do singular usada ao longo da estrofe (veja o "Hei de TE ouvir"). Faltou uma vírgula, quem sabe: "inda que em vão, cantares". Todavia, de onde veio esse "lhe"? De "do ser"? Eu sinceramente não sei. Diz o original:
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.
A tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos consegue dar conta do recado com clareza:
enquanto em tôrno a ti vais derramando tua alma
com todo êsse arrebatamento!
Cantarias ainda; mas de nada valeriam meus ouvidos,
para teu alto réquiem transformados em relvosa terra.
Não sei como este problema poderia ser resolvido no caso citado, mas poderíamos ficar também com:
E afoito amante, nunca, nunca beijes,
Embora a meta à frente, não te agraves,
Não se esvai ela, mesmo que a desejes,
Sempre a amarás, sendo ela sempre linda!
O original:
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever will thou love, and she be fair!
Até que está tranquilo de entender, embora esse "Não se esvai ela" tenha me parecido cacofônico demais e sem necessidade (bastaria a ordem direta: "Ela não se esvai"). O ponto que faço é que poderíamos contar com sinais de pontuação além das vírgulas indicando melhor a maneira com que as frases do original se descabelam. Era a praxe de poetas românticos.
Morrer -- é ver extinto dentre as névoas
O fanal, que nos guia na tormenta:
Condenado -- escutar dobres de sino,
-- Voz da morte, que a morte lhe lamenta --
Ai! morrer -- é trocar astros por círios,
Leito macio por esquife imundo,
Trocar os beijos da mulher -- no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.
Isso é Castro Alves em "Mocidade e Morte". Os dois pontos e os travessões existem para realçar as gradações do sentimento, não apenas a maneira como se atropelam e sobrepõem os "dobres de sino" à "Voz da morte", mas também quando agravam a situação retratada e avançam dos "beijos da mulher" direto para o "visco / Da larva errante". Às vezes parecem até pontadas de sofrimento: "Ai! morrer". Em dois versos e se valendo de alguns travessões o poeta faz um verdadeiro trabalho de dobradura com a morte, indicando que ela existe nos dobres de sino sob a forma de uma voz que, fúnebre, lamenta a morte do condenado. Só que, graças à interjeição do poeta, é como se ele próprio se comparasse ao condenado, permitindo, assim, que se dê prosseguimento a seu périplo de guinadas violentas. Num poema que contrapõe camadas de sentido de maneira energética, claramente visto no título e em versos como "Leito macio por esquife imundo", é impensável transformar tudo num manancial de vírgulas. Faça você mesmo o teste. Não vai dar conta.
Matheus de Souza Almeida é crítico e tradutor.
"Odes", de John Keats (Anticítera, 2017. Tradução de Wagner Schadeck)[/caption]
Não vou aborrecer o leitor explicando o que cada uma dessas palavras feias quer dizer ("consonância", "iâmbico"). A parte do prefácio que fala da tradução de poesia como "a transcrição de uma partitura original, escrita para determinado instrumento, com arranjo para outro", é mais clara: a tradução deve preservar, "a depender do musicista e da qualidade do instrumento transposto, a harmônica e consoantemente bela." Sejamos, porém, ainda mais didáticos e digamos que você lê o original, desmonta todas as suas pecinhas e coloca-as na lâmina de ensaio. A partir daí observe, dr., a maneira como "unravish'd" (inviolada) serve de adjetivo a "bride" (noiva), bem como a maneira com que "bride" abre o leque num estalo e exibe: "of quietness" (da quietude). Que tipo de ganho a nível molecular existe em usar especificamente o adjetivo "inviolada" e não, simplesmente, "virgem"? Há algum motivo para ela ser uma noiva? Para ser uma noiva da quietude? -- E a moral da história é que todo o minucioso relato que resultar de tal operação de análise buscou ser reproduzido na tradução, o que implica, na prática, que você, investindo seu dinheirinho na simpática brochura publicada pela Anticítera, terá feito a coisa certa.
Não é a primeira vez que Keats recebe um tratamento de luxo. Convém lembrar que as "Odes" já foram apresentadas para o leitor brasileiro, nem sempre na íntegra, a partir de traduções competentes de uma galera do calibre de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Augusto de Campos ou a dupla John Milton e Alberto Marsicano, além de tradutores esparsos como Ivo Barroso, Décio Pignatari ou Leonardo Antunes. Wagner se comunica bem com todos eles, por exemplo ao tomar emprestado a palavra "adufes" da tradução do Ivo para a "Ode sobre uma urna grega" ou então ao traduzir "Tasting" por "Sabendo", mesma opção que Augusto de Campos usara na "Ode a um rouxinol" (é um sentido meio arcaico do verbo, mas, de resto, "saber" e "sabor" possuem a mesma origem em latim: "supere").
São muitos os resultados felizes. A nível individual poderíamos citar um verso como "Que lenda à franja flórea em tua orla traça", tradução de "What leaf-fringed legend haunts about thy shape", quinto verso da primeira estrofe de "Ode sobre uma urna grega". É um verso difícil de ser traduzido, especialmente por conter em seu bojo palavras que, sem o devido cuidado, poderiam abrir as asinhas e duplicar o tamanho de um verso que precisa, de acordo com os parâmetros estipulados, ter um comprimento determinado. Mas não só: a maneira com que a consoante L suavemente deixa sua marca ao longo do verso, mesclada à rima interna entre "flórea" e "orla", ao som anasalado de "lENda à frANja" e, por fim, ao F duplo em "Franja Flórea" -- toda essa coreografia, em suma, é algo agradável (você lê e quase suspira) e consegue corresponder tintim por tintim ao que encontramos no próprio original: veja o L de "Leaf-fringed Legend", o F em "leaF-Fringed" e o jogo em "abOUt thY shApe" ("abÁU dÁI xÊIp": trate de abrir a boca se quiser pronunciar isso).
Noutros podemos elogiar a simplicidade tocante, por exemplo em "Mergulhe fundo ao fundo desse olhar", onde a repetição de "fundo", indicando ênfase e um mergulho efetivo, traduz o que está lá, no lado esquerdo do livro aberto: "And feed deep, deep upon her peerles eyes." Noto também que a ênfase na vogal U durante quase todo o verso, avançando até que feche com o A aberto de "olhar", como se de fato abríssemos os olhos após a leitura, é um modo de traduzir o E do original, que marca terreno num reino capitaneado pela consoante P até passar o bastão para o fonema aberto de "eyes".
Creio que caberia até dizermos, com uma ousadia justificável, que Wagner chegou a conseguir alguns efeitos especiais se brincar melhores que os do original, à guisa de "Ressonando num sulco arado ao meio", que possui não só a sonoridade da consoante S agilizando a leitura (é como se mais do que ler, deslizássemos), mas também a vogal U muitíssimo bem marcada de "sulco" (que recebe, claro, uma forcinha de "num") inclusa entre dois A tônicos: "ressonAndo" e "arAdo". Alie-se ao fato (e desde já me desculpem pelo jargão) de que "sulco" ocupa a posição de cesura no decassílabo heroico que temos, assim sendo, uma frase que mimetiza o sulco, precisamente, arando o verso ao meio. Ora: não consigo ver nada disso no original, que estampa: "Drows'd with the fume of poppies, while thy hook / Spares the next swath and all its twined flowers" (tive de citar os dois versos pois Wagner muda um pouquinho a ordem dos termos).
Claro: não só de sonoridades é feita a tradução. O tradutor das "Odes" se vê diante do fato de que o poeta usa uns termos um tanto quanto específicos na construção do poema. É o que os franceses chamam de "le mot juste", isto é, a palavra certa, o termo exato. Veja-se o caso de "thatch-eves" na primeira estrofe de "Para o outono". Jogue no site de buscas que você vai encontrar imagens do que são "thatch-eves". Eu explico: pense numa cabaninha de palha. Ali perto do telhado, o que é aquilo? Parece um beiral, não parece? Pois bem. Foco nesse beiral. É isso aí. Ele é o "thatch-eve".
O ápice das minúcias a que a tradução se propõe, todavia, está nos termos botânicos. Veja-se parte da quinta estrofe de "Ode para um rouxinol":
A relva, a moita, o pomarejo gaio,
Roseira-brava, branco pinheirinho,
A fugaz violeta entre a folhagem,
O rebento de maio,
A rosa almíscar a orvalhar de vinho
E o murmúrio de moscas na estiagem.
Tradução de:
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast-fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies in summer eves.
Que coisa mais linda, não acha? Você não tem uma planta sequer que foi esquecida na tradução. O objetivo foi esse mesmo: trazer a turma toda, mas sem rachar o acrílico das belas imagens que são apresentadas. Note, por exemplo, a maneira hábil com que "full of dewy wine" (cheia de vinho orvalhado) se transforma em "a orvalhar de vinho". É uma imagem interessante, em especial por tomar um elemento puramente natural, o orvalho, e adicionar um elemento, por assim dizer, dionisíaco: o vinho. É como se a natureza toda se transformasse numa fanfarra. O poeta começa a estrofe dizendo: "Não posso ver as flores a meus pés, / Nem a ramagem que o olor remoça." Ele apenas supõe ("guess") as flores que ali estão, tudo na base dos sentidos. E no entanto, note o grau de riqueza, de detalhes, a maneira com que ele deixa que tudo aquilo invada seu íntimo e se transforme numa bela paisagem. Perder a mão na hora de traduzir com rigor o correspondente exato para cada uma dessas plantas e flores seria uma maneira de baratear o apurado sentimento que o eu lírico demonstra nesta passagem. Fechar os olhos e genericamente imaginar flores a seus pés qualquer um imaginaria; pensar na roseira-brava e no branco pinheirinho, só Keats.
A tradução só me fez torcer o nariz quando, em algumas passagens, ela me pareceu de leitura truncada e confusa. Wagner, de um modo geral, dispensou os sinais de pontuação que Keats dispôs em seu texto, em específico o ponto e vírgula. Veja-se o final da sexta estrofe da mesma ode sobre o rouxinol:
Agora me parece bom morrer,
Cessando à meia-noite sem pesares,
Enquanto o teu espírito depões
Com êxtase do ser,
Hei de te ouvir, inda que em vão cantares,
Enxertando-lhe o réquiem em torrões.
Existe uma guinada no interior da frase brusca demais para que uma simples vírgula dê conta. Isto a partir, em específico, de "Com êxtase do ser" e "Hei de te ouvir". Ainda, a flexão do verbo "cantar" em "cantares" parece desconexa, malgrado o fato de a certo custo ligarmo-la ao rouxinol graças à segunda pessoa do singular usada ao longo da estrofe (veja o "Hei de TE ouvir"). Faltou uma vírgula, quem sabe: "inda que em vão, cantares". Todavia, de onde veio esse "lhe"? De "do ser"? Eu sinceramente não sei. Diz o original:
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.
A tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos consegue dar conta do recado com clareza:
enquanto em tôrno a ti vais derramando tua alma
com todo êsse arrebatamento!
Cantarias ainda; mas de nada valeriam meus ouvidos,
para teu alto réquiem transformados em relvosa terra.
Não sei como este problema poderia ser resolvido no caso citado, mas poderíamos ficar também com:
E afoito amante, nunca, nunca beijes,
Embora a meta à frente, não te agraves,
Não se esvai ela, mesmo que a desejes,
Sempre a amarás, sendo ela sempre linda!
O original:
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever will thou love, and she be fair!
Até que está tranquilo de entender, embora esse "Não se esvai ela" tenha me parecido cacofônico demais e sem necessidade (bastaria a ordem direta: "Ela não se esvai"). O ponto que faço é que poderíamos contar com sinais de pontuação além das vírgulas indicando melhor a maneira com que as frases do original se descabelam. Era a praxe de poetas românticos.
Morrer -- é ver extinto dentre as névoas
O fanal, que nos guia na tormenta:
Condenado -- escutar dobres de sino,
-- Voz da morte, que a morte lhe lamenta --
Ai! morrer -- é trocar astros por círios,
Leito macio por esquife imundo,
Trocar os beijos da mulher -- no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.
Isso é Castro Alves em "Mocidade e Morte". Os dois pontos e os travessões existem para realçar as gradações do sentimento, não apenas a maneira como se atropelam e sobrepõem os "dobres de sino" à "Voz da morte", mas também quando agravam a situação retratada e avançam dos "beijos da mulher" direto para o "visco / Da larva errante". Às vezes parecem até pontadas de sofrimento: "Ai! morrer". Em dois versos e se valendo de alguns travessões o poeta faz um verdadeiro trabalho de dobradura com a morte, indicando que ela existe nos dobres de sino sob a forma de uma voz que, fúnebre, lamenta a morte do condenado. Só que, graças à interjeição do poeta, é como se ele próprio se comparasse ao condenado, permitindo, assim, que se dê prosseguimento a seu périplo de guinadas violentas. Num poema que contrapõe camadas de sentido de maneira energética, claramente visto no título e em versos como "Leito macio por esquife imundo", é impensável transformar tudo num manancial de vírgulas. Faça você mesmo o teste. Não vai dar conta.
Matheus de Souza Almeida é crítico e tradutor.

[caption id="attachment_93257" align="alignleft" width="159"] Rainer Maria Rilke[/caption]
A Terça Poética de hoje traz ao público três traduções, feitas por tradutores já consagrados pela crítica, no Brasil, do célebre poema Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke (1875-1926), um dos maiores poetas de língua alemã. Os tradutores em questão são: José Paulo Paes, Augusto de Campos e Geir Campos.
Quem se arrisca (aqueles que entendem do riscado) a dizer qual delas é a mais fiel ao original, qual a mais fluida?
Enfim, apreciem!
Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
Rainer Maria Rilke[/caption]
A Terça Poética de hoje traz ao público três traduções, feitas por tradutores já consagrados pela crítica, no Brasil, do célebre poema Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke (1875-1926), um dos maiores poetas de língua alemã. Os tradutores em questão são: José Paulo Paes, Augusto de Campos e Geir Campos.
Quem se arrisca (aqueles que entendem do riscado) a dizer qual delas é a mais fiel ao original, qual a mais fluida?
Enfim, apreciem!
Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
 Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen Füßen.
Rainer Maria Rilke, Jun. 1906, Paris
TRADUÇÕES
Bailarina Espanhola
Como um palito de fósforo na mão, alvar
antes de, aceso, estender suas línguas ardentes
para todos os lados – a dança circular
de junto do espectador começa a alargar
seus círculos, clara, célere e cálida sempre.
E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.
Com o olhar, a bailarina inflama a cabeleira
e, com a arte ousada, de um só golpe distende o
seu vestido todo num rodopiar de incêndio
do qual, serpentes, em desnudez e susto vão
surgir os braços despertos, num bater de mãos.
Depois, como se fosse pouco, ela junta o fogo
e o atira para longe, num gesto de arrogo,
repentino, imperioso, e contempla, enlevada,
ele estorcer-se no chão, sempre, sem perder nada
da sua fúria, numa recusa de apagar-se.
Triunfante e segura, com um sorriso amável,
ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce
o esmaga com seus pezinhos implacáveis.
(Tradução: José Paulo Paes)
Dançarina Espanhola
Como um fósforo a arder antes que cresça
a flama, distendendo em raios brancos
suas línguas de luz, assim começa
e se alastra ao redor, ágil e ardente,
a dança em arco aos trêmulos arrancos.
E logo ela é só flama, inteiramente.
Com um olhar põe fogo nos cabelos
e com a arte sutil dos tornozelos
incendeia também os seus vestidos
de onde, serpentes doidas, a rompê-los,
saltam os braços nus com estalidos.
Então, como se fosse um feixe aceso,
colhe o fogo num gesto de desprezo,
atira-o bruscamente no tablado
e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,
a sustentar ainda a chama viva.
Mas ela, do alto, num leve sorriso
de saudação, erguendo a fronte altiva,
pisa-o com seu pequeno pé preciso.
(Tradução: Augusto de Campos)
Dançarina Espanhola
Tal como um fósforo na mão descansa
antes de bruscamente arrebentar
na chama que em redor mil línguas lança –
dentro do anel de olhos começa a dança
ardente, num crescendo circular.
E de repente é tudo apenas chama.
No olhar aceso ela o cabelo inflama,
e faz girar com arte a roupa inteira
ao calor dessa esplêndida fogueira
de onde seus braços, chacoalhando anéis,
saltam nus como doidas cascavéis.
Quando escasseia o fogo em torno, então
ela o agarra inteiro e o joga ao chão
num violento gesto de desdém,
e altiva o fita: furioso e sem
render-se embora, sempre flamejando.
E ela, com doce riso triunfal,
ergue a fronte num cumprimento: e é quando
o esmaga entre os pés ágeis, afinal.
(Tradução: Geir Campos)
Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen Füßen.
Rainer Maria Rilke, Jun. 1906, Paris
TRADUÇÕES
Bailarina Espanhola
Como um palito de fósforo na mão, alvar
antes de, aceso, estender suas línguas ardentes
para todos os lados – a dança circular
de junto do espectador começa a alargar
seus círculos, clara, célere e cálida sempre.
E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.
Com o olhar, a bailarina inflama a cabeleira
e, com a arte ousada, de um só golpe distende o
seu vestido todo num rodopiar de incêndio
do qual, serpentes, em desnudez e susto vão
surgir os braços despertos, num bater de mãos.
Depois, como se fosse pouco, ela junta o fogo
e o atira para longe, num gesto de arrogo,
repentino, imperioso, e contempla, enlevada,
ele estorcer-se no chão, sempre, sem perder nada
da sua fúria, numa recusa de apagar-se.
Triunfante e segura, com um sorriso amável,
ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce
o esmaga com seus pezinhos implacáveis.
(Tradução: José Paulo Paes)
Dançarina Espanhola
Como um fósforo a arder antes que cresça
a flama, distendendo em raios brancos
suas línguas de luz, assim começa
e se alastra ao redor, ágil e ardente,
a dança em arco aos trêmulos arrancos.
E logo ela é só flama, inteiramente.
Com um olhar põe fogo nos cabelos
e com a arte sutil dos tornozelos
incendeia também os seus vestidos
de onde, serpentes doidas, a rompê-los,
saltam os braços nus com estalidos.
Então, como se fosse um feixe aceso,
colhe o fogo num gesto de desprezo,
atira-o bruscamente no tablado
e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,
a sustentar ainda a chama viva.
Mas ela, do alto, num leve sorriso
de saudação, erguendo a fronte altiva,
pisa-o com seu pequeno pé preciso.
(Tradução: Augusto de Campos)
Dançarina Espanhola
Tal como um fósforo na mão descansa
antes de bruscamente arrebentar
na chama que em redor mil línguas lança –
dentro do anel de olhos começa a dança
ardente, num crescendo circular.
E de repente é tudo apenas chama.
No olhar aceso ela o cabelo inflama,
e faz girar com arte a roupa inteira
ao calor dessa esplêndida fogueira
de onde seus braços, chacoalhando anéis,
saltam nus como doidas cascavéis.
Quando escasseia o fogo em torno, então
ela o agarra inteiro e o joga ao chão
num violento gesto de desdém,
e altiva o fita: furioso e sem
render-se embora, sempre flamejando.
E ela, com doce riso triunfal,
ergue a fronte num cumprimento: e é quando
o esmaga entre os pés ágeis, afinal.
(Tradução: Geir Campos)

Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida
[caption id="attachment_92673" align="alignleft" width="303"] Retrato de Heinrich Heine (1797-1856), por Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) [/caption]
Fabrício Tavares de Moraes
Especial para o Jornal Opção
Se considerarmos que Paul Valéry estava correto ao afirmar que “um poema ruim é aquele que se desfaz em sentido”, talvez possamos ser tentados a unirmo-nos ao coro do lugar-comum que sentencia o poeta como o nefelibata par excellence. Todavia, mediante uma perspectiva mais profunda sobre a filosofia da composição subjacente à frase do poeta e crítico francês, vemo-nos compelidos a corroborar, consigo, que “o trabalho de um poeta consiste menos em buscar palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras e ritmos predominantes”.
E talvez com essa afirmação, tomando como moto a famosa frase de Mallarmé a seu amigo Degas – hoje constante em todos almanaques rasteiros de literatura – de que poesia não se faz com ideias mas com palavras, possamos nos lançar mais uma vez ao círculo vicioso, para não dizer espiral do silêncio, da antiga e falsa dicotomia entre a poesia engajada e a poesia nefelibata.
Em Atta Troll, o poeta alemão Heinrich Heine, mais do que um primoroso poema com ursos dançarinos e revolucionários, espíritos amaldiçoados de todas as épocas numa caçada noturna, e bruxas com seus filhos cadáveres, constrói uma defesa da autonomia da poesia, defesa esta que jamais, caindo em autocontradição, se expressa como simples ardor apologético.
Logo no princípio do poema, Heine nos apresenta o urso Atta Troll, que, juntamente com sua consorte Mumma, dança e realiza suas performances para o público humano, num contraste de sua posição aristocrática natural (tomada aqui em toda a amplitude do termo) e o trabalho servil e cômico ao qual é agora coagido:
Perante a população ei-lo que dança!
Ele, ele que outrora tão soberbo
Como rei das florestas habitava
Tão livremente o píncaro dos montes!
E é para ganhar alguns escudos
Que ele tanto se esforça e se afadiga!
Ele, ele que há pouco, em meio às selvas,
Na majestade de um robusto ânimo
Se julgava senhor do mundo inteiro!
Todavia, revoltado contra esse tratamento ignominioso que lhe é dispensado, Atta Troll certo dia rompe as cadeias e foge para as florestas, onde, com fervor político, discursa, perante seus filhos, contra a injustiça do mundo dos homens:
Morte e condenação! Ah! Esses homens,
Esses malditos arqui-aristocratas,
Contemplam com desdém os outros entes
Com a insolência de um senhor despótico!
(…)
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem vo-los outorgou? A natureza?
Oh! Tão desnaturada não é ela!
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem esses privilégios concedeu-vos?
A razão? Ela ainda é razoável!
Dum ponto de vista panorâmico, o poema de Heine aborda a tensão entre duas perspectivas então vigentes e antitéticas sobre a natureza. De um lado, os ideais da Revolução Francesa, que tomavam a natureza inculta, o direito natural, como sua fonte e ponte de partida. Daí Atta Troll, com seu discurso igualitário, exigindo a abolição imediata do domínio humano sobre os demais entes do reino natural. Grande parte da ironia do poema repousa nas consequências e eventuais absurdidades desse hipotético colapso das hierarquias naturais.
[caption id="attachment_92674" align="alignleft" width="269"]
Retrato de Heinrich Heine (1797-1856), por Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) [/caption]
Fabrício Tavares de Moraes
Especial para o Jornal Opção
Se considerarmos que Paul Valéry estava correto ao afirmar que “um poema ruim é aquele que se desfaz em sentido”, talvez possamos ser tentados a unirmo-nos ao coro do lugar-comum que sentencia o poeta como o nefelibata par excellence. Todavia, mediante uma perspectiva mais profunda sobre a filosofia da composição subjacente à frase do poeta e crítico francês, vemo-nos compelidos a corroborar, consigo, que “o trabalho de um poeta consiste menos em buscar palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras e ritmos predominantes”.
E talvez com essa afirmação, tomando como moto a famosa frase de Mallarmé a seu amigo Degas – hoje constante em todos almanaques rasteiros de literatura – de que poesia não se faz com ideias mas com palavras, possamos nos lançar mais uma vez ao círculo vicioso, para não dizer espiral do silêncio, da antiga e falsa dicotomia entre a poesia engajada e a poesia nefelibata.
Em Atta Troll, o poeta alemão Heinrich Heine, mais do que um primoroso poema com ursos dançarinos e revolucionários, espíritos amaldiçoados de todas as épocas numa caçada noturna, e bruxas com seus filhos cadáveres, constrói uma defesa da autonomia da poesia, defesa esta que jamais, caindo em autocontradição, se expressa como simples ardor apologético.
Logo no princípio do poema, Heine nos apresenta o urso Atta Troll, que, juntamente com sua consorte Mumma, dança e realiza suas performances para o público humano, num contraste de sua posição aristocrática natural (tomada aqui em toda a amplitude do termo) e o trabalho servil e cômico ao qual é agora coagido:
Perante a população ei-lo que dança!
Ele, ele que outrora tão soberbo
Como rei das florestas habitava
Tão livremente o píncaro dos montes!
E é para ganhar alguns escudos
Que ele tanto se esforça e se afadiga!
Ele, ele que há pouco, em meio às selvas,
Na majestade de um robusto ânimo
Se julgava senhor do mundo inteiro!
Todavia, revoltado contra esse tratamento ignominioso que lhe é dispensado, Atta Troll certo dia rompe as cadeias e foge para as florestas, onde, com fervor político, discursa, perante seus filhos, contra a injustiça do mundo dos homens:
Morte e condenação! Ah! Esses homens,
Esses malditos arqui-aristocratas,
Contemplam com desdém os outros entes
Com a insolência de um senhor despótico!
(…)
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem vo-los outorgou? A natureza?
Oh! Tão desnaturada não é ela!
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem esses privilégios concedeu-vos?
A razão? Ela ainda é razoável!
Dum ponto de vista panorâmico, o poema de Heine aborda a tensão entre duas perspectivas então vigentes e antitéticas sobre a natureza. De um lado, os ideais da Revolução Francesa, que tomavam a natureza inculta, o direito natural, como sua fonte e ponte de partida. Daí Atta Troll, com seu discurso igualitário, exigindo a abolição imediata do domínio humano sobre os demais entes do reino natural. Grande parte da ironia do poema repousa nas consequências e eventuais absurdidades desse hipotético colapso das hierarquias naturais.
[caption id="attachment_92674" align="alignleft" width="269"] “Atta Troll e outras canções”, de Heinrich Heine (Anticítera, 2017, 217 páginas, tradução de Pedro Antônio Gomes Júnior)[/caption]
De outro lado, porém, Heine, refletindo as visões, ou mais exatamente as reações, de Goethe [1] para com essa natureza virgem, descreve um esplendoroso quadro (uma das passagens mais belas do poema) de uma caçada noturna na qual espíritos malditos, hereges e párias, incluindo o próprio Goethe, percorrem os bosques sombrios como forma de castigo eterno. E isto ainda mais estranhamente se dá quando o caçador se encontra na casa de Uraka, a bruxa e mãe de Láscaro, seu companheiro de caçada e cadáver redivivo por meio das poções e unguentos mágicos preparados e administrados por sua genitora. De certo modo herdeira da goetheana Noite de Valpurgis, essa atmosfera será retomada em seu “poema-dança” (Tanzpoem) “Doutor Fausto”, publicado em 1846, alguns anos após a primeira edição de Atta Troll.
Uma dessas figuras condenadas é justamente Herodíades, tão bela ao ponto de o caçador – o eu-lírico na passagem em questão – ponderar a danação de sua alma em troca da companhia eterna da dançarina. Curiosamente, além de fundir Herodíades e Salomé [2] numa única figura sedutora, Heine, talvez sinalizando tacitamente para suas origens judaicas, descreve que as tradições afirmavam, ao contrário ou complementarmente às Escrituras, que João Batista era objeto não da aversão, mas do amor da esposa de Herodes:
Ama-me, e vem a mim, bela Herodíades!
Ama-me e vem a mim! Ao longe atira
O prato ensanguentado e a cabeça
Do santo que não soube apreciar-te.
Eu sou o cavalheiro que procuras!
Para mim é de certo indiferente
Que estejas morta e mesmo condenada;
Sobre isso não tenho preconceitos;
Eu, cuja salvação é problemática;
Eu, que mesmo duvido por momentos
De minha própria vida.
Junto de ti cavalgarei à noite
Entre a chusma infernal dos caçadores;
E nós riremos!
Outro ponto digno de nota é a referência, que acaba se tornando refrão ao longo da obra, ao poema “O Rei Negro” (“Der Mohrenfürst” – a tradução literal do título em alemão seria algo como o Príncipe ou Rei Mouro.), de Ferdinand Freiligrath, citado na epígrafe do prefácio de Heine, no qual um guerreiro mouro, que tocava tambores adornados com caveiras humanas, cercado de realeza e poder, é levado cativo por conquistadores e posteriormente, vivendo entre saltimbancos, é obrigado a encantar plateias com seus dons musicais como forma de subsistência.
Valendo-se desse mote, Heine satiriza não o poema ou seu autor, a quem, na verdade, admirava, mas sim a submissão da poesia à égide ética ou política, em especial o nacionalismo e militarismo que então grassavam em sua Alemanha. Assim, Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida.
Talvez com isto Heine esteja advogando que a poesia, caso cativa de uma ideologia ou partido, torna-se sempre, num falhanço irredimível, objeto de troça de seus oponentes. Ou dito de outro, o patético (tomado aqui no sentido de pathos), ainda que imbuído dos fins mais morais e louváveis, distorce o propósito e natureza do poema. É o que o poeta afirma, de modo memorável, em seu prefácio:
Há espelhos, cujo vidro está cortado em facetas tão oblíquas que o próprio Apolo neles representado não seria mais do que uma caricatura: rimo-nos então da caricatura, e não do deus.
Atta Troll é o testemunho de um poeta que, embora ligado a movimentos ideológicos de seu tempo [3] (não esqueçamos sua amizade para com Engels e Marx e seus poemas influenciados pela ideia de ambos, como “Os Tecelões de Silésia”), jamais sacrificou a poesia ao altar dos partidos, conforme seu próprio testemunho e compromisso, preferindo, como no caso do poema em questão, antes a sátira do que a deformação moralista.
Por fim, pode-se dizer que Heine foge, resoluto, ao dilema inicialmente apresentado neste ensaio mediante a simples retomada da verdade contida nos clássicos versos de Catulo. Pois, afinal, “a um poeta pio convém ser casto/ele mesmo, aos seus versos, porém, não há lei”.
Obs.: Artigo publicado originalmente na Revista Amálgama.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.
______
NOTAS:
[1] Goethe notoriamente se opunha à visão um tanto dessacralizada da natureza inculta propugnada pelos revolucionários. Com o decorrer da Revolução, tornar-se-á claro o endeusamento literal da Razão (com efeito, instaurou-se o culto à Razão na Catedral de Notre-Damme por um período) e uma visão tecnicista e quantitativa sobre a natureza, algo que repugnava ao espírito de homens como Goethe e Lessing. A influência da personalidade e ideias do autor de Fausto é visível na vida de Heinrich Heine, que, anos antes, enviara seu primeiro livro de poemas a Goethe, na expectativa de sua aprovação.
[2] De acordo com alguns críticos, essa passagem do poema que celebra a volúpia de Herodíades-Salomé exerceu crucial influência sobre os mais diversos escritores europeus, que, de um modo ou outro, retomaram o tema: Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Flaubert e Mallarmé.
[3] Conforme consta em todos manuais didáticos de literatura, Heine exerceu influência até mesmo sobre a poesia condoreira de Castro Alves, com seu poema Das Sklavenschiff [O navio de escravos].
“Atta Troll e outras canções”, de Heinrich Heine (Anticítera, 2017, 217 páginas, tradução de Pedro Antônio Gomes Júnior)[/caption]
De outro lado, porém, Heine, refletindo as visões, ou mais exatamente as reações, de Goethe [1] para com essa natureza virgem, descreve um esplendoroso quadro (uma das passagens mais belas do poema) de uma caçada noturna na qual espíritos malditos, hereges e párias, incluindo o próprio Goethe, percorrem os bosques sombrios como forma de castigo eterno. E isto ainda mais estranhamente se dá quando o caçador se encontra na casa de Uraka, a bruxa e mãe de Láscaro, seu companheiro de caçada e cadáver redivivo por meio das poções e unguentos mágicos preparados e administrados por sua genitora. De certo modo herdeira da goetheana Noite de Valpurgis, essa atmosfera será retomada em seu “poema-dança” (Tanzpoem) “Doutor Fausto”, publicado em 1846, alguns anos após a primeira edição de Atta Troll.
Uma dessas figuras condenadas é justamente Herodíades, tão bela ao ponto de o caçador – o eu-lírico na passagem em questão – ponderar a danação de sua alma em troca da companhia eterna da dançarina. Curiosamente, além de fundir Herodíades e Salomé [2] numa única figura sedutora, Heine, talvez sinalizando tacitamente para suas origens judaicas, descreve que as tradições afirmavam, ao contrário ou complementarmente às Escrituras, que João Batista era objeto não da aversão, mas do amor da esposa de Herodes:
Ama-me, e vem a mim, bela Herodíades!
Ama-me e vem a mim! Ao longe atira
O prato ensanguentado e a cabeça
Do santo que não soube apreciar-te.
Eu sou o cavalheiro que procuras!
Para mim é de certo indiferente
Que estejas morta e mesmo condenada;
Sobre isso não tenho preconceitos;
Eu, cuja salvação é problemática;
Eu, que mesmo duvido por momentos
De minha própria vida.
Junto de ti cavalgarei à noite
Entre a chusma infernal dos caçadores;
E nós riremos!
Outro ponto digno de nota é a referência, que acaba se tornando refrão ao longo da obra, ao poema “O Rei Negro” (“Der Mohrenfürst” – a tradução literal do título em alemão seria algo como o Príncipe ou Rei Mouro.), de Ferdinand Freiligrath, citado na epígrafe do prefácio de Heine, no qual um guerreiro mouro, que tocava tambores adornados com caveiras humanas, cercado de realeza e poder, é levado cativo por conquistadores e posteriormente, vivendo entre saltimbancos, é obrigado a encantar plateias com seus dons musicais como forma de subsistência.
Valendo-se desse mote, Heine satiriza não o poema ou seu autor, a quem, na verdade, admirava, mas sim a submissão da poesia à égide ética ou política, em especial o nacionalismo e militarismo que então grassavam em sua Alemanha. Assim, Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida.
Talvez com isto Heine esteja advogando que a poesia, caso cativa de uma ideologia ou partido, torna-se sempre, num falhanço irredimível, objeto de troça de seus oponentes. Ou dito de outro, o patético (tomado aqui no sentido de pathos), ainda que imbuído dos fins mais morais e louváveis, distorce o propósito e natureza do poema. É o que o poeta afirma, de modo memorável, em seu prefácio:
Há espelhos, cujo vidro está cortado em facetas tão oblíquas que o próprio Apolo neles representado não seria mais do que uma caricatura: rimo-nos então da caricatura, e não do deus.
Atta Troll é o testemunho de um poeta que, embora ligado a movimentos ideológicos de seu tempo [3] (não esqueçamos sua amizade para com Engels e Marx e seus poemas influenciados pela ideia de ambos, como “Os Tecelões de Silésia”), jamais sacrificou a poesia ao altar dos partidos, conforme seu próprio testemunho e compromisso, preferindo, como no caso do poema em questão, antes a sátira do que a deformação moralista.
Por fim, pode-se dizer que Heine foge, resoluto, ao dilema inicialmente apresentado neste ensaio mediante a simples retomada da verdade contida nos clássicos versos de Catulo. Pois, afinal, “a um poeta pio convém ser casto/ele mesmo, aos seus versos, porém, não há lei”.
Obs.: Artigo publicado originalmente na Revista Amálgama.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.
______
NOTAS:
[1] Goethe notoriamente se opunha à visão um tanto dessacralizada da natureza inculta propugnada pelos revolucionários. Com o decorrer da Revolução, tornar-se-á claro o endeusamento literal da Razão (com efeito, instaurou-se o culto à Razão na Catedral de Notre-Damme por um período) e uma visão tecnicista e quantitativa sobre a natureza, algo que repugnava ao espírito de homens como Goethe e Lessing. A influência da personalidade e ideias do autor de Fausto é visível na vida de Heinrich Heine, que, anos antes, enviara seu primeiro livro de poemas a Goethe, na expectativa de sua aprovação.
[2] De acordo com alguns críticos, essa passagem do poema que celebra a volúpia de Herodíades-Salomé exerceu crucial influência sobre os mais diversos escritores europeus, que, de um modo ou outro, retomaram o tema: Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Flaubert e Mallarmé.
[3] Conforme consta em todos manuais didáticos de literatura, Heine exerceu influência até mesmo sobre a poesia condoreira de Castro Alves, com seu poema Das Sklavenschiff [O navio de escravos].
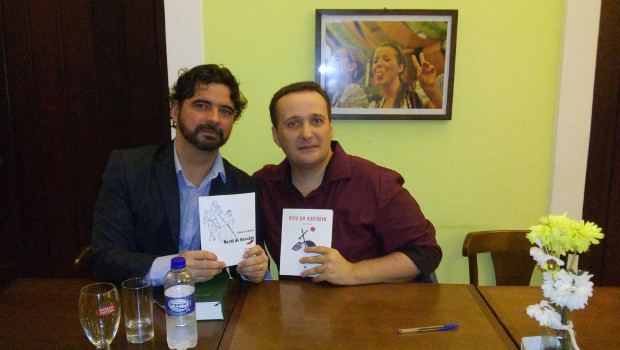
Claudio Sousa Pereira, que acompanha de perto a trajetória dos dois poetas baianos, entrevistou-os na ocasião do lançamento conjunto de "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", especialmente para o Jornal Opção
[caption id="attachment_92127" align="aligncenter" width="620"] Poetas João Filho e Wladimir Saldanha, em lançamento de seus respectivos livros "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", ocorrido em 31 de março de 2017 | Foto: divulgação
Poetas João Filho e Wladimir Saldanha, em lançamento de seus respectivos livros "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", ocorrido em 31 de março de 2017 | Foto: divulgação
[/caption]
Claudio Sousa Pereira
Especial para o Jornal Opção
Eles se conhecem há seis anos, porém possuem um diálogo literário que parece existir há décadas. Wladimir Saldanha e João Filho são poetas e amigos que, nesse espaço de tempo, vão ajudando a reconstruir a poesia brasileira. Encontros inicialmente para discutirem poesia alheia tranformaram as tardes de sábado em momentos luminosos. Em um crescendo de interesse mútuo e sincero, ao qual agregaram-se por vezes as companheiras Állex Leilla e Cristiana Rocha, foram aperfeiçoadas as obras pessoais, tais como Lume Cardume Chama, Culpe o Vento, Cacau Inventado de Wladimir, e A Dimensão Necessária, de João, que ganhou o Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Biblioteca Nacional em 2015. O diálogo se intensificou de tal forma que se estendeu aos dois livros, nos quais há muito de cada um no processo das obras individuais: Natal de Herodes (Mondrongo Livros, 2017) e Auto da Romaria (Mondrongo Livros, 2017), de Wladimir e de João, respectivamente. Lançados em conjunto, no dia 31 de Março, integram na Mondrongo a Coleção Katharina, que homenageia o poeta Bruno Tolentino (1940-2007). Na entrevista que segue, através de cinco perguntas feitas aos escritores, saberemos mais sobre os livros que vieram a lume recentemente, além de outros aspectos ligados ao processo de escrita e obra de cada poeta.
***
“O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo”
 Wladimir Saldanha nasceu em 1977, em Salvador, cidade onde reside. É poeta, crítico e tradutor. Com quatro livros de poesia publicados, possui uma escrita que oscila entre o verso medido e o livre, de grande variação rítmica nas duas formas. No plano temático, as obras são concebidas em módulos unitários, que exploram um circuito mais ou menos fechado, com o que o autor parece evitar o livro-coletânea, de flagrantes, que caracterizou a poesia brasileira na segunda metade do século XX. Retoma, de certo modo, a estrutura do livro simbolista, como um objeto em si mesmo. Assim, em Culpe o vento, revisita o velho topos do mal-estar do poeta no mundo; em Lume Cardume Chama, faz uma indagação inconclusiva sobre a vida, que se vale do imaginário marinho; em Cacau inventado, explora o imaginário da região cacaueira da Bahia, sobretudo o moldado pelos seus prosadores, mas o confronta com a decadência da lavoura.
Apesar da diversidade, há grande carga biográfica, de que o poeta retira desdobramentos inusitados. Um dos subtemas das obras anteriores – a questão do “Pai Ausente” – retorna de forma ampliada e até mesmo exasperada no recém-lançado Natal de Herodes.
ENTREVISTA COM WLADIMIR:
Conte-nos o porquê da temática do Pai Ausente, e se isso (após a escrita de Natal de Herodes) já pode ser considerado como plenamente resolvido.
A razão está na vida, evidentemente. A experiência de uma completa ausência paterna, que difere muito – o que é difícil de entender para algumas pessoas – do “pai tirano”, do “pai violento” e de outras pragas. O que me interessa é a lacuna absoluta, o problema da transferência: a “função pai”, como dizem os lacanianos, vista na possibilidade ou impossibilidade de substituição por outras figuras. O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Nesse livro, quem sabe a ausência tenha perdido finalmente sua referencialidade, seu caráter mais recordativo, abrindo-se em lirismo de metáfora absoluta: Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo. Não sei se consegui, mas foi o que tentei, e o que gostaria de ter feito. Quanto a voltar ao tema, não pretendo.
A presença do imaginário cristão – de forma subliminar na obra Lume Cardume Chama e, antes, em momentos pontuais de Culpe o Vento – ganha fôlego no Natal de Herodes. Como a figura de Herodes (e o que o cerca) se articula com a temática da ausência paterna?
O livro começou com um poema muito na esteira do Herodes “racional” de Auden, em seu famoso Massacre dos inocentes, que me acompanha há anos numa tradução portuguesa. Para Auden, Herodes é um monstro de razão: tudo faz sentido e, não obstante, tudo está errado, as conclusões são as piores.
Isto ficaria por aí, como uma espécie de emulação que eu não publicaria, se não sentisse mais e mais necessidade de compreender essa personagem, ao ponto de fazê-la um eu, uma persona lírica. Lendo outros poetas que trataram de Herodes, mas principalmente o historiador romano Flavio Josefo, no livro clássico da História dos Hebreus, fui tomado de certo “afeto” pela paranoia de legitimidade que o rei parecia sofrer: por ter sido um usurpador, por ter destronado a família dos asmoneus, tudo para Herodes ganhava ares de conjura. O caráter luciferino, a racionalidade que lhe empresta Auden, na minha leitura tem a ver com isso: foi essa percepção, não sei se errada ou certa, mas plausível, que desencadeou o resto do livro, porque a extrema razão o incapacita de entender o advento do “Rei dos reis” de modo simbólico.
Wladimir Saldanha nasceu em 1977, em Salvador, cidade onde reside. É poeta, crítico e tradutor. Com quatro livros de poesia publicados, possui uma escrita que oscila entre o verso medido e o livre, de grande variação rítmica nas duas formas. No plano temático, as obras são concebidas em módulos unitários, que exploram um circuito mais ou menos fechado, com o que o autor parece evitar o livro-coletânea, de flagrantes, que caracterizou a poesia brasileira na segunda metade do século XX. Retoma, de certo modo, a estrutura do livro simbolista, como um objeto em si mesmo. Assim, em Culpe o vento, revisita o velho topos do mal-estar do poeta no mundo; em Lume Cardume Chama, faz uma indagação inconclusiva sobre a vida, que se vale do imaginário marinho; em Cacau inventado, explora o imaginário da região cacaueira da Bahia, sobretudo o moldado pelos seus prosadores, mas o confronta com a decadência da lavoura.
Apesar da diversidade, há grande carga biográfica, de que o poeta retira desdobramentos inusitados. Um dos subtemas das obras anteriores – a questão do “Pai Ausente” – retorna de forma ampliada e até mesmo exasperada no recém-lançado Natal de Herodes.
ENTREVISTA COM WLADIMIR:
Conte-nos o porquê da temática do Pai Ausente, e se isso (após a escrita de Natal de Herodes) já pode ser considerado como plenamente resolvido.
A razão está na vida, evidentemente. A experiência de uma completa ausência paterna, que difere muito – o que é difícil de entender para algumas pessoas – do “pai tirano”, do “pai violento” e de outras pragas. O que me interessa é a lacuna absoluta, o problema da transferência: a “função pai”, como dizem os lacanianos, vista na possibilidade ou impossibilidade de substituição por outras figuras. O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Nesse livro, quem sabe a ausência tenha perdido finalmente sua referencialidade, seu caráter mais recordativo, abrindo-se em lirismo de metáfora absoluta: Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo. Não sei se consegui, mas foi o que tentei, e o que gostaria de ter feito. Quanto a voltar ao tema, não pretendo.
A presença do imaginário cristão – de forma subliminar na obra Lume Cardume Chama e, antes, em momentos pontuais de Culpe o Vento – ganha fôlego no Natal de Herodes. Como a figura de Herodes (e o que o cerca) se articula com a temática da ausência paterna?
O livro começou com um poema muito na esteira do Herodes “racional” de Auden, em seu famoso Massacre dos inocentes, que me acompanha há anos numa tradução portuguesa. Para Auden, Herodes é um monstro de razão: tudo faz sentido e, não obstante, tudo está errado, as conclusões são as piores.
Isto ficaria por aí, como uma espécie de emulação que eu não publicaria, se não sentisse mais e mais necessidade de compreender essa personagem, ao ponto de fazê-la um eu, uma persona lírica. Lendo outros poetas que trataram de Herodes, mas principalmente o historiador romano Flavio Josefo, no livro clássico da História dos Hebreus, fui tomado de certo “afeto” pela paranoia de legitimidade que o rei parecia sofrer: por ter sido um usurpador, por ter destronado a família dos asmoneus, tudo para Herodes ganhava ares de conjura. O caráter luciferino, a racionalidade que lhe empresta Auden, na minha leitura tem a ver com isso: foi essa percepção, não sei se errada ou certa, mas plausível, que desencadeou o resto do livro, porque a extrema razão o incapacita de entender o advento do “Rei dos reis” de modo simbólico.
“Então isso me deu extrema liberdade: são tão poucos os leitores de poesia, que você pode fazer o que quiser. As muitas remissões do Natal de Herodes foram uma necessidade do tema e eu soltei a mão. Já não espero a mediação da crítica”A partir da seção Tempo do Natal, vários personagens bíblicos são revisitados, contudo apresentados por uma ótica pouco usual. Que visão almeja alcançar com a perspectiva dada nesse segmento? A seção tenta fazer uso de lições da chamada antilira para temas líricos e até religiosos, ou ao menos bíblicos, como você coloca. O efeito soará blasfemo, talvez. Seria de uma infantilidade absurda se eu pretendesse blasfêmia em poesia a estas alturas, ainda que isso correspondesse a qualquer necessidade particular (o que não é o caso). Seria também um anacronismo ignorante, em relação ao “estado da arte”. A revolta não é com o tema de fundo, o encontro da dimensão lacunosa do pai com a Pessoa de Cristo. É uma revolta de linguagem, porque eu andava com muita birra de certa poesia contemporânea que me parece apologal, como se fosse possível “passar a régua” em Jorge de Lima, em Murilo Mendes. O poema-apólogo, para mim, é forma inversa de infantilidade e ignorância. Mas admito a “leitura blasfema”: não é algo que o livro rejeita, é um risco dele. É algo que o autor rejeita. Diversos mitos e referências são retomadas no Natal de Herodes: há uma profusão de subtemas e remissões históricas. Como julga que isso será recebido, tendo em vista o atual panorama crítico? Meu livro anterior, Cacau inventado, de 2015, tem muito da chamada metaliteratura, na proposta de discussão do imaginário moldado pelos escritores da região do cacau, alguns hoje obscuros. Tentei uma metaliteratura que não fosse vazia, não fosse narcisismo de linguagem. Pensando no problema das referências, fiz um prólogo e até notas de rodapé. Pois foi obra semifinalista de um prêmio internacional, divulgada em grandes jornais, e até hoje não teve nem sequer uma resenha. Então isso me deu extrema liberdade: são tão poucos os leitores de poesia, que você pode fazer o que quiser. As muitas remissões do Natal de Herodes foram uma necessidade do tema e eu soltei a mão. Já não espero a mediação da crítica. Fora os próprios poetas, as pessoas que mais poderiam fazê-la estão, como naquela canção do Roberto, “com a cabeça cheia de problemas”. No ano de 2017 se registra a passagem do décimo ano de falecimento de Bruno Tolentino (1940-2007). Como se sabe, seu livro Natal de Herodes integra, assim como a obra Auto da Romaria, de João Filho, a Série Katharina, que a editora Mondrongo está encampando. De que modo seu livro dialoga com o poeta homenageado? Em dois aspectos mais evidentes: primeiro, o trabalho formal, pois Bruno trouxe de volta, na década de 1990, a questão da métrica, que parecia sepultada pelo Concretismo; segundo, no plano temático, a busca transcendente, igualmente soterrada pelos “poemas-coisa” da mesma vanguarda. Ambos os livros assimilam tais pontos, que a obra As horas de Katharina trabalha de modo exemplar. Quanto ao meu verso, particularmente, deve haver algo de Bruno no que toca à lírica de melopeia, mas por oposição. Minha relação tornou-se instável com a obra dele, sobretudo depois de tê-lo conhecido pessoalmente, pois eu o havia lido muito como o grande lírico de A balada do cárcere e, depois, de As horas de Katharina. O poeta de quem me aproximei era alguém que fazia pouco caso de sua produção mais lírica, estava empenhado em construir uma imagem de poesia “filósofa” – sobretudo o autor de O mundo como ideia e do então inédito A imitação do amanhecer. Eu me afastei dele em parte por isso, como reação meio involuntária do lirismo, da melopeia tão dele e que no entanto desdenhava. Foi um desencontro de leitor com a expectativa de leitura que o autor tinha de si. Essas coisas também fazem parte da literatura – e eu era muito jovem. Mas ainda prefiro As horas e A balada aos outros dois. Então deve haver em mim algo que é Bruno, malgrado seu. “Te juro que o verbo amar/ só Deus conjuga contigo” – são os versos dele que talvez respondessem a Herodes. ***
“Inúmeros outros poemas estão impregnados de Catolicismo. Há um preconceito rasteiro contra o Cristianismo entre os ditos intelectuais. A pessoa pode ser tudo, menos católica”
 João Filho nasceu em 1975, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mora atualmente em Salvador. Publicou os livros de contos: Encarniçado, 2004 e Ao longo da linha amarela, 2009; o de crônicas: Dicionário amoroso de Salvador, 2014; os de poesia: Três sibilas, 2008, A dimensão necessária, 2014 e Auto da Romaria, 2017. Inúmeros poemas deste último livro foram musicados por Sócrates Rocha e o CD homônimo está em fase de conclusão. Inclui-se também a peça de teatro Auto do São Francisco, 2017. Contos e poemas seus já foram traduzidos para o espanhol, inglês e alemão. Sua obra, realizada em alguns gêneros literários, tem como eixo primordial a condição humana na sua dimensão metafísica percebida na experiência vital do indivíduo, tendo como fulcro a realidade moral.
ENTREVISTA COM JOÃO FILHO:
O Auto da Romaria se insere numa tradição de poema-livro, que tem como “padrinhos estéticos” imediatos o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, e As Horas de Katharina, de Bruno Tolentino. Como se pode perceber, não se trata, passivamente, de ser apenas um breviário da secular Romaria de Bom Jesus da Lapa. O que a obra pretende mostrar além disso?
Os dois livros que você cita foram, para mim, os modelos de poesia que possuem a clave narrativa e a meditação de um tema que perpassa todo um volume. O de Cecília Meireles, como é sabido, tem como base um grande acontecimento histórico. O de Bruno Tolentino é a trajetória de uma alma dentro da cosmovisão Católica. Modelo não quer dizer cópia formal, já que tanto no Romanceiro quanto n’As horas não há verso livre, forma que me permiti algumas vezes no Auto da Romaria.
A Romaria de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, margem direita do Rio São Francisco, acontece desde 1691, logo, faz, este ano, 327 anos de existência. Isto é muito dentro do quadro histórico do Brasil. Eu desejei plasmar em poesia a condição da fé humana e suas implicações num ambiente inóspito, a força dessa fé de cunho popular que culmina no dia 6 de agosto; também um pouco da memória do menino que eu fui como observador e partícipe desse significativo evento do catolicismo pelas ruas de minha cidade natal. O livro se divide em duas grandes partes: “Margem direita – o caminho palmilhado” e “Margem esquerda – o caminho meditado”, e tem, no meio, dois poemas longos. O desenho geral é de um rio. A vida – e muito do que ela comporta: dor, alegria, fé, tristeza etc. – sempre no seu sentido metafísico. Tudo isso, claro, foi o que desejei alcançar. Por mais que o poeta se empenhe em estudo e técnica sobre a forma e o conteúdo, poesia é tentativa.
Percebem-se indubitavelmente no livro elementos que o fazem retornar, sob outra perspectiva, aos contos de o Encarniçado, seu primeiro livro. Quais são as semelhanças e diferenças entre ele o Auto da Romaria?
Confesso que esse retorno eu não havia percebido, e foi você, meu caro Claudio Sousa Pereira, quem me fez ver tal fato. O Encarniçado foi publicado em 2004, e o Auto da Romaria começou a ser escrito em 1998, com outro nome e cosmovisão, e só foi finalizado em 2016. Há mais diferenças do que semelhanças. O tratamento estilístico é bem diferenciado, verdadeiros opostos, e não somente por ser de gêneros distintos. Nos contos, a temática e a atmosfera são a do submundo, sua violência, drogas, seus excessos etc. Por sua vez, nos poemas, o que me interessa é o universo da fé cristã. O que aproxima os dois livros é a geografia: Bom Jesus da Lapa.
João Filho nasceu em 1975, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mora atualmente em Salvador. Publicou os livros de contos: Encarniçado, 2004 e Ao longo da linha amarela, 2009; o de crônicas: Dicionário amoroso de Salvador, 2014; os de poesia: Três sibilas, 2008, A dimensão necessária, 2014 e Auto da Romaria, 2017. Inúmeros poemas deste último livro foram musicados por Sócrates Rocha e o CD homônimo está em fase de conclusão. Inclui-se também a peça de teatro Auto do São Francisco, 2017. Contos e poemas seus já foram traduzidos para o espanhol, inglês e alemão. Sua obra, realizada em alguns gêneros literários, tem como eixo primordial a condição humana na sua dimensão metafísica percebida na experiência vital do indivíduo, tendo como fulcro a realidade moral.
ENTREVISTA COM JOÃO FILHO:
O Auto da Romaria se insere numa tradição de poema-livro, que tem como “padrinhos estéticos” imediatos o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, e As Horas de Katharina, de Bruno Tolentino. Como se pode perceber, não se trata, passivamente, de ser apenas um breviário da secular Romaria de Bom Jesus da Lapa. O que a obra pretende mostrar além disso?
Os dois livros que você cita foram, para mim, os modelos de poesia que possuem a clave narrativa e a meditação de um tema que perpassa todo um volume. O de Cecília Meireles, como é sabido, tem como base um grande acontecimento histórico. O de Bruno Tolentino é a trajetória de uma alma dentro da cosmovisão Católica. Modelo não quer dizer cópia formal, já que tanto no Romanceiro quanto n’As horas não há verso livre, forma que me permiti algumas vezes no Auto da Romaria.
A Romaria de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, margem direita do Rio São Francisco, acontece desde 1691, logo, faz, este ano, 327 anos de existência. Isto é muito dentro do quadro histórico do Brasil. Eu desejei plasmar em poesia a condição da fé humana e suas implicações num ambiente inóspito, a força dessa fé de cunho popular que culmina no dia 6 de agosto; também um pouco da memória do menino que eu fui como observador e partícipe desse significativo evento do catolicismo pelas ruas de minha cidade natal. O livro se divide em duas grandes partes: “Margem direita – o caminho palmilhado” e “Margem esquerda – o caminho meditado”, e tem, no meio, dois poemas longos. O desenho geral é de um rio. A vida – e muito do que ela comporta: dor, alegria, fé, tristeza etc. – sempre no seu sentido metafísico. Tudo isso, claro, foi o que desejei alcançar. Por mais que o poeta se empenhe em estudo e técnica sobre a forma e o conteúdo, poesia é tentativa.
Percebem-se indubitavelmente no livro elementos que o fazem retornar, sob outra perspectiva, aos contos de o Encarniçado, seu primeiro livro. Quais são as semelhanças e diferenças entre ele o Auto da Romaria?
Confesso que esse retorno eu não havia percebido, e foi você, meu caro Claudio Sousa Pereira, quem me fez ver tal fato. O Encarniçado foi publicado em 2004, e o Auto da Romaria começou a ser escrito em 1998, com outro nome e cosmovisão, e só foi finalizado em 2016. Há mais diferenças do que semelhanças. O tratamento estilístico é bem diferenciado, verdadeiros opostos, e não somente por ser de gêneros distintos. Nos contos, a temática e a atmosfera são a do submundo, sua violência, drogas, seus excessos etc. Por sua vez, nos poemas, o que me interessa é o universo da fé cristã. O que aproxima os dois livros é a geografia: Bom Jesus da Lapa.
“Há tantos incontáveis vínculos numa única vida humana que ignorá-los é, no mínimo, cegueira. A grande maioria das pessoas gosta de transpirar sua autossuficiência, mas tudo, tudo nos foi emprestado. Até para negarmos a vida temos que estar vivos!”O seu Auto da Romaria amplia alguns caminhos já presentes no livro anterior, A dimensão necessária (Prêmio Biblioteca Nacional 2015). No entanto, considero o Auto como o ponto dominante de sua obra até então. Mas isto pode configurá-lo, dada a cosmovisão de matriz católica, como um eixo restritivo para obras vindouras? Acredito que não, pois há livros inéditos com poemas que possuem essa mesma índole. No caso do Auto, a abordagem não poderia ser de outro modo; o tema e a minha vivência de fiel pediam esse procedimento. Como você percebeu: o que já publiquei e os livros inéditos são variantes, às vezes bem distintas, de uma mesma matriz. Sendo assim, não vejo porque o Auto da Romaria restringiria outras obras futuras por ter sido escrito numa perspectiva cristã, que tem como base o perdão e a transcendência. Foi essa direção que desejei imprimir em A dimensão necessária. Há poemas ali eminentemente cristãos. Não sofrem de nenhum didatismo redutor, é verdade, pois primo pelo tratamento estético, mas não deixam de ser cristãos. Poemas como “Capela do Hospital Santo Antônio”, que é sobre a Beata Dulce, toda a seção “A fonte vertical”, e inúmeros outros poemas estão impregnados de Catolicismo. Há um preconceito rasteiro contra o Cristianismo entre os ditos intelectuais. A pessoa pode ser tudo, menos católica. Diante de uma produção literária em que, além dos livros supracitados, possui alguns livros inéditos tão bons quanto ao recém-publicado, porém todos saídos de uma base comum, explique como o seu processo de escrita tem desdobrado para que, nessa fecunda oficina poética, aparecesse um livro de tamanha coesão interna como o Auto da Romaria. Penso que a coesão vem do menino que fui. Explico: há uma imagem que eu chamo de “A teia”; nome singelo, bobo até, mas de enorme importância para mim. Aquele menino imaginava uma raiz comum da qual surgiriam vários trabalhos estéticos, talvez em forma de desenho, palavra ou música. Prevaleceu a palavra, pois não aprofundei em estudos e técnicas os outros dois suportes. Talvez ainda faça isso com o desenho; na música, prefiro continuar como letrista, apesar de ter algum conhecimento técnico musical. Claro que, àquela altura, era um vislumbre, algo ainda muito primário, mas eu idealizava mesmo o que chamo de “A teia”. O menino que eu fui era – e continua sendo – um contemplativo, e o mundo é, para mim, um espanto. Sinceramente não sei como alguém pode se entediar diante do espetáculo da vida. Vejo que a partir do Auto você lança a pedra de fundação de sua poética, ainda que esteja apenas no terceiro livro de poesia. Dentre esses elementos, um já se mostra claro, não só nesse livro como no anterior, mas na fase onde se encontra, que é a Aceitação da Transcendência. Essa questão de ordem metafísica em sua Poética – que está em franca formação – já se apresenta como uma resolução plenamente resolvida na sua vida/obra? Como você mesmo diz: tudo ainda está em franca formação. Desse modo, se alguém pode afirmar criticamente o que você afirma, esse alguém tem de vir de fora, pois está num um ponto de observação privilegiado que eu não posso estar. No entanto, quem se mete com algum tipo de arte é ambicioso. O poeta, por mais humilde que seja, é movido pela ambição de fazer uma obra simples. Sem ambição não há arte. Sim, essa questão já está resolvida no sentido de eu não conceber a vida sem transcendência. Como assevera acertadamente o professor e escritor Tiago Amorim – a vida é metafísica. A vida humana que se fecha sobre si mesma se torna pobre, de uma pobreza mortal. Viktor Frankl, num dos seus livros, diz que mesmo o mais inflexível ateu, na hora da morte, percebe que “há algo mais”. E Viktor Frankl, que chegou lúcido aos 92 anos, sabia do que falava. Considero a vida uma dádiva. Conheço a dor, a humilhação, o fracasso, mas sei que a vida é positiva. Isto não quer dizer que eu vejo o mundo com um otimismo cândido. Se o ser abarca o não ser, logo, a positividade é intrínseca à vida como um todo. O que procuro enxergar é o mundo em suas multifacetadas manifestações. Há tantos incontáveis vínculos numa única vida humana que ignorá-los é, no mínimo, cegueira. A grande maioria das pessoas gosta de transpirar sua autossuficiência, mas tudo, tudo nos foi emprestado. Até para negarmos a vida temos que estar vivos! Isto para mim é tão óbvio, mas sei que não é uma visão facilmente aceita. Veja o seguinte: se não existisse o cenário – o mundo – onde atuaríamos? Se não existissem pessoas, com quem interagiríamos? O pessimista, o niilista, o relativista etc. são os teimosos da ingratidão. Como diz Chesterton, que cito como epígrafe de um dos poemas do Auto da Romaria: “a vida não é somente um prazer, mas uma espécie de excêntrico privilégio.” Que saibamos ser dignos desta excentricidade ímpar. ***
 Claudio Sousa Pereira (1982, Salvador-BA) é Poeta, Ensaísta e Professor de Literatura. Blog: <http://grandes-palavras.blogspot.com.br/>
Claudio Sousa Pereira (1982, Salvador-BA) é Poeta, Ensaísta e Professor de Literatura. Blog: <http://grandes-palavras.blogspot.com.br/>

Inspirado nos “Quadros Parisienses”, de Charles Baudelaire, poeta curitibano traz à tona a experiência íntima do indivíduo marcado pela transitoriedade temporal e outros temas associados
[caption id="attachment_91718" align="aligncenter" width="620"] "Embora curto, ébrio ou falho,/ o sono é o cobertor do homem." Versos do poema "A um mendigo", de Wagner Schadeck[/caption]
MADHOUSE
Chegaram flores, cartas e lembranças,
mas ele não estava. Um rato apenas
viu que baldaram tantas esperanças
naquele ato ensaiado em várias cenas.
Os monitores, sem seus eletrodos,
piscavam, emitindo agudo alarma.
Cápsulas, comprimidos, esses todos
não seriam mortíferos como arma?
Mesmo assim, essas drogas aguardavam,
qual num doceiro onde adormecem balas,
bocas sem dentes que tanto as mascavam,
para depois ao chão regurgitá-las.
Tudo repousa. Enquanto tristes, sós,
os outros doentes sentem-se perplexos
na despedida. Há nas gargantas nós
a lhes emaranhar gritos complexos.
Ele partiu! Não mais olhar da esquina
no admirado céu sujar o sol.
Da janela levou uma cortina
em seu pescoço como um cachecol.
E não bastasse viver sem apriscos,
Resta seu o corpo pendurado e pasmo.
Mas nos seus olhos cerrados há ciscos
e a língua arreganhada de sarcasmo.
BUREAU
Deixaste tua papelada
acumular. E são folhas
que com tuas vistas zarolhas
lês não entendendo nada.
São jornais de ontem; são resmas
e guardanapos bem sujos,
nos quais dançam caramujos,
babando com suas lesmas.
Lá estão bulas de remédios,
provas com muitas rasuras,
alguns planos de aventuras
junto a projetos de prédios.
Lá estão em folhas puídas
dois testes de gravidez.
Mas quem sabe se os bebês
tiveram sorte em suas vidas?
A noite esvazia a praça.
larga as botinas, faceiro,
e arruma o teu travesseiro
com a garrafa de cachaça,
pois termina mais um ato.
Com mão rápida desata
em teu pescoço a gravata
de cadarço de sapato.
A cidade vela. E o céu
risca seus fósforos. Medras
num bocejo. Como as pedras,
és peso sobre o papel.
A UM MENDIGO
Dormes. E outros já não dormem.
Tens jornais como agasalho.
Embora curto, ébrio ou falho,
o sono é o cobertor do homem.
EPIFANIA
Há no culto fiéis de olhos fechados
que na esperança por mais um milagre
recebem todos juntos bênçãos, brados,
espargidos à esponja com vinagre.
Mãos na cabeça, seus braços para o alto,
com súbita aparência de um assalto.
[relacionadas artigos=" 91185 "]
NOSFERATU
A chuva espanta os pássaros. As gentes
Infestam como ratos a bodega.
Requestam tragos. A atendente esfrega
os canecos. Um pulha cerra os dentes
na coxa escaveirada. A poeira encarde
vidros de estufa e fétidas compotas.
Servindo, a garçonete raspa as botas
contra o reboco. Mas por toda a tarde
um homem numa mesa espia os preços
da tabela. Nos números impressos
Preme os olhos. A quem murmura prece?
Quanto mais bebe mais se afoga em mágoa.
Pendurado em seu braço, enxugando a água
das asas, há um morcego que adormece.
HORA MARCADA
Preso ao tempo burocrata,
amarras outra gravata
no pescoço. E feito o laço,
empreendeste o último passo.
Na abrupta queda, suspenso,
eis que oscila o corpo imenso
e impreciso que recorda
um pêndulo preso à corda.
E este trabalho sem pausa
quem sabe fosse por causa
dos objetivos que obsedas.
É que o labor a que te alças
pôs no bolso de tuas calças
cerca de trinta e três moedas.
"Embora curto, ébrio ou falho,/ o sono é o cobertor do homem." Versos do poema "A um mendigo", de Wagner Schadeck[/caption]
MADHOUSE
Chegaram flores, cartas e lembranças,
mas ele não estava. Um rato apenas
viu que baldaram tantas esperanças
naquele ato ensaiado em várias cenas.
Os monitores, sem seus eletrodos,
piscavam, emitindo agudo alarma.
Cápsulas, comprimidos, esses todos
não seriam mortíferos como arma?
Mesmo assim, essas drogas aguardavam,
qual num doceiro onde adormecem balas,
bocas sem dentes que tanto as mascavam,
para depois ao chão regurgitá-las.
Tudo repousa. Enquanto tristes, sós,
os outros doentes sentem-se perplexos
na despedida. Há nas gargantas nós
a lhes emaranhar gritos complexos.
Ele partiu! Não mais olhar da esquina
no admirado céu sujar o sol.
Da janela levou uma cortina
em seu pescoço como um cachecol.
E não bastasse viver sem apriscos,
Resta seu o corpo pendurado e pasmo.
Mas nos seus olhos cerrados há ciscos
e a língua arreganhada de sarcasmo.
BUREAU
Deixaste tua papelada
acumular. E são folhas
que com tuas vistas zarolhas
lês não entendendo nada.
São jornais de ontem; são resmas
e guardanapos bem sujos,
nos quais dançam caramujos,
babando com suas lesmas.
Lá estão bulas de remédios,
provas com muitas rasuras,
alguns planos de aventuras
junto a projetos de prédios.
Lá estão em folhas puídas
dois testes de gravidez.
Mas quem sabe se os bebês
tiveram sorte em suas vidas?
A noite esvazia a praça.
larga as botinas, faceiro,
e arruma o teu travesseiro
com a garrafa de cachaça,
pois termina mais um ato.
Com mão rápida desata
em teu pescoço a gravata
de cadarço de sapato.
A cidade vela. E o céu
risca seus fósforos. Medras
num bocejo. Como as pedras,
és peso sobre o papel.
A UM MENDIGO
Dormes. E outros já não dormem.
Tens jornais como agasalho.
Embora curto, ébrio ou falho,
o sono é o cobertor do homem.
EPIFANIA
Há no culto fiéis de olhos fechados
que na esperança por mais um milagre
recebem todos juntos bênçãos, brados,
espargidos à esponja com vinagre.
Mãos na cabeça, seus braços para o alto,
com súbita aparência de um assalto.
[relacionadas artigos=" 91185 "]
NOSFERATU
A chuva espanta os pássaros. As gentes
Infestam como ratos a bodega.
Requestam tragos. A atendente esfrega
os canecos. Um pulha cerra os dentes
na coxa escaveirada. A poeira encarde
vidros de estufa e fétidas compotas.
Servindo, a garçonete raspa as botas
contra o reboco. Mas por toda a tarde
um homem numa mesa espia os preços
da tabela. Nos números impressos
Preme os olhos. A quem murmura prece?
Quanto mais bebe mais se afoga em mágoa.
Pendurado em seu braço, enxugando a água
das asas, há um morcego que adormece.
HORA MARCADA
Preso ao tempo burocrata,
amarras outra gravata
no pescoço. E feito o laço,
empreendeste o último passo.
Na abrupta queda, suspenso,
eis que oscila o corpo imenso
e impreciso que recorda
um pêndulo preso à corda.
E este trabalho sem pausa
quem sabe fosse por causa
dos objetivos que obsedas.
É que o labor a que te alças
pôs no bolso de tuas calças
cerca de trinta e três moedas.
 Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.
Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.

Inspirado nos “Quadros Parisienses”, de Charles Baudelaire, poeta curitibano traz à tona a experiência íntima do indivíduo marcado pela transitoriedade temporal e outros temas associados
[caption id="attachment_91187" align="aligncenter" width="620"] "O pensa fazer, tão intrépido e indômito,/contra essa imensa grei? À turba, sem embargo,/ avança resoluto, estufa o ventre largo,/ lançando a todo mundo o nojo de seu vômito", versos do poema "Vingança", de Wagner Schadeck[/caption]
Wagner Schadeck
Especial para o Jornal Opção
As ruínas de Roma foram obsessão poética. Poetas como Janus Vitalis, Du Bellay, Spencer, Quevedo, entre outros (Cf. RAMALHO, Américo da Costa. Um epigrama em Latim imitado por vários. Revista Humanitas, nº 4, 1952.), dedicaram versos para revelar uma Roma imortal soterrada pelas ruínas de outra, desbarata pelo Tempo, como diria Camões. Mas é com o “Ao contemplar o crânio de Schiller” (“Bei Betrachtung von Schillers Schädel”) que o motivo do transitório e da revelação do eterno consolida-se. Como na famosa cena de Hamlet, neste poema, Goethe eleva esse motivo ao universal, tendo como alegoria, não mais Roma, mas as ruínas da matéria morta.
O seguinte ciclo Quadros provincianos (título inspirado no extraordinário “Quadros parisienses”, de Baudelaire) retoma essa tradição. Nele o leitor encontrará a experiência íntima do indivíduo marcado pela transitoriedade temporal, pela decrepitude de ideais de progresso e igualdade e por um país assolado.
O POMBO
No recreio escolar, a malandragem
Pega um pombo, esse pássaro boboca,
Parceiro de trapaça e vadiagem,
Que circunda os carrinhos de pipoca.
Jogado ao tabuleiro de xadrez,
É o príncipe de jogo, obeso e arisco.
Bispos, peões, rainhas, torres, reis…
Ele os derruba ao vasculhar um cisco.
As suas fezes são causa de engulhos!
Do bico às asas é peste e piolhos!
Alguém quer seduzi-lo com arrulhos.
Outro com um prego quer furar seus olhos.
O poeta é semelhante a um gordo pombo:
Fugindo aos pés, esquiva-se do azar;
Ciscando na calçada, sofre um tombo:
Os miolos impedem-no de voar.
NUMA PRAÇA
Nestas ruas há pedintes,
pernetas, putas, velhacos
vendendo alheios barracos,
logrando os contribuintes.
Nas esquinas, os seguintes
são catadores de cacos,
donas desfilam casacos,
pastores com seus ouvintes.
Aonde irá toda essa grei?
Que sigam. Eu ficarei
num busto brônzeo da História.
E assim, no futuro, às vezes,
pombas na festa das fezes
irão batizar-me à glória.
VINGANÇA
Vai ébrio de ódio. Mas equilibra-se. Em ambas
as mãos há um garrafão. No meio-fio tropeça
e em trôpego bailado bate com a cabeça
numa placa de trânsito. Ao pisar muambas
espalhadas no chão, parece gingar sambas.
Não há ninguém que o avise, ninguém que o impeça
do próprio pé molhar, mijando-se sem pressa.
Prossegue. O passo é duro, embora as pernas bambas.
Opera uma manobra, oculto atrás dos postes.
Marchando em plena rua, investe contra as hostes.
O pensa fazer, tão intrépido e indômito,
contra essa imensa grei? À turba, sem embargo,
avança resoluto, estufa o ventre largo,
lançando a todo mundo o nojo de seu vômito.
CINDERELA
Nas pálpebras pinta
A noite. E se espelha
A espetar na orelha
A estrela distinta.
Perucas, piolhos,
Máscara de giz,
Lábios de verniz,
Lentes para os olhos.
Enquanto recorta
Pestanas compactas,
Seus cílios são patas
De uma aranha morta.
Em peles de esquilos
E asas de morcegos,
Na fisga de pregos,
Isca os dois mamilos.
Flashes instantâneos
Em poses de Kali,
Em sua nuca vale
um colar de crânios.
Perfume de flores
E frutos mortiços,
Devem ser postiços
Até seus rubores.
Tendo faces glabras,
Sem buço, no entanto,
Traz na bolsa o encanto
Dos abracadabras.
Caixa de Pandora
Guarda. Mas espera
Por flerte e paquera
Enquanto namora…
Logra uma trapaça?
Abre a caixa. E alcança
Poeiras de esperança.
Eis feita a desgraça!
E a sorver sem água
A hilariante droga,
Com a qual se afoga,
Ela olvida a mágoa?
Tomando a cosmética
Por cosmologia,
Dietas de anemia
Tornam-na esquelética
Na língua a destreza:
“Beldade balofa”.
Cospe a unha e mofa
Da madrasta obesa.
E aguardando o ensejo
Das damas de fama
(não de honra), reclama
De esperar cortejo.
A trupe se apura.
Eis Josefa em cuja
Boca de coruja
Dança a dentadura.
A seguinte chega
como salamandra,
Chama-se Leandra,
E é de um olho cega.
A última consterna!
Como rã, Gertrude
A mancar amiúde
Arrasta uma perna.
Tricotam fofocas
E poções malignas
Nas caldeiras ígneas
De suas torpes bocas.
E o que o horror incita!
É assim que essas Greias,
Por serem tão feias,
Tornam-na bonita.
No festivo início,
Ela entre os lacaios
Simula desmaios
A nutrir seu vício.
De prantos fingidos
Ao lamber os dentes,
Pisca aos pretendentes
Tramando tecidos.
Nas pernas de garça,
Quando alguém a encontra,
Sorri como lontra,
Enquanto disfarça
Qualquer estultícia.
À mostra, despacha
Seios de borracha,
Vendendo malícia.
Acre e melancólica,
De alta gradação,
A quem dá a poção
Passional e alcoólica?
À meia noite, é hora
De partir. Ao menos
Entre outros venenos
A vida evapora.
A carruagem volta
À abóbora. À estrada
Foge desgrenhada.
A bruxa está solta!
O homem que por ela
Procurar, mesquinho,
Traz só um sapatinho
À coleção dela.
ÉDIPO
Nesta cidade de almas enlameadas,
Como dentes que saltam dos cavoucos,
Os paralelepípedos aos poucos
Podres deixam banguelas as estradas.
Os seus sonhos são lâmpadas queimadas
Num corredor de hospício cujos loucos,
Com colchas no pescoço e gritos roucos,
Em fuga se enforcaram nas sacadas.
Em sua entrada, à luz de olhos alertas,
Que piscam pela madrugada adentro,
Por praças e avenidas mais desertas,
Nos muros e edificações do Centro,
Meu olhar nos hieróglifos constringe:
Como decifro esta voraz esfinge?
"O pensa fazer, tão intrépido e indômito,/contra essa imensa grei? À turba, sem embargo,/ avança resoluto, estufa o ventre largo,/ lançando a todo mundo o nojo de seu vômito", versos do poema "Vingança", de Wagner Schadeck[/caption]
Wagner Schadeck
Especial para o Jornal Opção
As ruínas de Roma foram obsessão poética. Poetas como Janus Vitalis, Du Bellay, Spencer, Quevedo, entre outros (Cf. RAMALHO, Américo da Costa. Um epigrama em Latim imitado por vários. Revista Humanitas, nº 4, 1952.), dedicaram versos para revelar uma Roma imortal soterrada pelas ruínas de outra, desbarata pelo Tempo, como diria Camões. Mas é com o “Ao contemplar o crânio de Schiller” (“Bei Betrachtung von Schillers Schädel”) que o motivo do transitório e da revelação do eterno consolida-se. Como na famosa cena de Hamlet, neste poema, Goethe eleva esse motivo ao universal, tendo como alegoria, não mais Roma, mas as ruínas da matéria morta.
O seguinte ciclo Quadros provincianos (título inspirado no extraordinário “Quadros parisienses”, de Baudelaire) retoma essa tradição. Nele o leitor encontrará a experiência íntima do indivíduo marcado pela transitoriedade temporal, pela decrepitude de ideais de progresso e igualdade e por um país assolado.
O POMBO
No recreio escolar, a malandragem
Pega um pombo, esse pássaro boboca,
Parceiro de trapaça e vadiagem,
Que circunda os carrinhos de pipoca.
Jogado ao tabuleiro de xadrez,
É o príncipe de jogo, obeso e arisco.
Bispos, peões, rainhas, torres, reis…
Ele os derruba ao vasculhar um cisco.
As suas fezes são causa de engulhos!
Do bico às asas é peste e piolhos!
Alguém quer seduzi-lo com arrulhos.
Outro com um prego quer furar seus olhos.
O poeta é semelhante a um gordo pombo:
Fugindo aos pés, esquiva-se do azar;
Ciscando na calçada, sofre um tombo:
Os miolos impedem-no de voar.
NUMA PRAÇA
Nestas ruas há pedintes,
pernetas, putas, velhacos
vendendo alheios barracos,
logrando os contribuintes.
Nas esquinas, os seguintes
são catadores de cacos,
donas desfilam casacos,
pastores com seus ouvintes.
Aonde irá toda essa grei?
Que sigam. Eu ficarei
num busto brônzeo da História.
E assim, no futuro, às vezes,
pombas na festa das fezes
irão batizar-me à glória.
VINGANÇA
Vai ébrio de ódio. Mas equilibra-se. Em ambas
as mãos há um garrafão. No meio-fio tropeça
e em trôpego bailado bate com a cabeça
numa placa de trânsito. Ao pisar muambas
espalhadas no chão, parece gingar sambas.
Não há ninguém que o avise, ninguém que o impeça
do próprio pé molhar, mijando-se sem pressa.
Prossegue. O passo é duro, embora as pernas bambas.
Opera uma manobra, oculto atrás dos postes.
Marchando em plena rua, investe contra as hostes.
O pensa fazer, tão intrépido e indômito,
contra essa imensa grei? À turba, sem embargo,
avança resoluto, estufa o ventre largo,
lançando a todo mundo o nojo de seu vômito.
CINDERELA
Nas pálpebras pinta
A noite. E se espelha
A espetar na orelha
A estrela distinta.
Perucas, piolhos,
Máscara de giz,
Lábios de verniz,
Lentes para os olhos.
Enquanto recorta
Pestanas compactas,
Seus cílios são patas
De uma aranha morta.
Em peles de esquilos
E asas de morcegos,
Na fisga de pregos,
Isca os dois mamilos.
Flashes instantâneos
Em poses de Kali,
Em sua nuca vale
um colar de crânios.
Perfume de flores
E frutos mortiços,
Devem ser postiços
Até seus rubores.
Tendo faces glabras,
Sem buço, no entanto,
Traz na bolsa o encanto
Dos abracadabras.
Caixa de Pandora
Guarda. Mas espera
Por flerte e paquera
Enquanto namora…
Logra uma trapaça?
Abre a caixa. E alcança
Poeiras de esperança.
Eis feita a desgraça!
E a sorver sem água
A hilariante droga,
Com a qual se afoga,
Ela olvida a mágoa?
Tomando a cosmética
Por cosmologia,
Dietas de anemia
Tornam-na esquelética
Na língua a destreza:
“Beldade balofa”.
Cospe a unha e mofa
Da madrasta obesa.
E aguardando o ensejo
Das damas de fama
(não de honra), reclama
De esperar cortejo.
A trupe se apura.
Eis Josefa em cuja
Boca de coruja
Dança a dentadura.
A seguinte chega
como salamandra,
Chama-se Leandra,
E é de um olho cega.
A última consterna!
Como rã, Gertrude
A mancar amiúde
Arrasta uma perna.
Tricotam fofocas
E poções malignas
Nas caldeiras ígneas
De suas torpes bocas.
E o que o horror incita!
É assim que essas Greias,
Por serem tão feias,
Tornam-na bonita.
No festivo início,
Ela entre os lacaios
Simula desmaios
A nutrir seu vício.
De prantos fingidos
Ao lamber os dentes,
Pisca aos pretendentes
Tramando tecidos.
Nas pernas de garça,
Quando alguém a encontra,
Sorri como lontra,
Enquanto disfarça
Qualquer estultícia.
À mostra, despacha
Seios de borracha,
Vendendo malícia.
Acre e melancólica,
De alta gradação,
A quem dá a poção
Passional e alcoólica?
À meia noite, é hora
De partir. Ao menos
Entre outros venenos
A vida evapora.
A carruagem volta
À abóbora. À estrada
Foge desgrenhada.
A bruxa está solta!
O homem que por ela
Procurar, mesquinho,
Traz só um sapatinho
À coleção dela.
ÉDIPO
Nesta cidade de almas enlameadas,
Como dentes que saltam dos cavoucos,
Os paralelepípedos aos poucos
Podres deixam banguelas as estradas.
Os seus sonhos são lâmpadas queimadas
Num corredor de hospício cujos loucos,
Com colchas no pescoço e gritos roucos,
Em fuga se enforcaram nas sacadas.
Em sua entrada, à luz de olhos alertas,
Que piscam pela madrugada adentro,
Por praças e avenidas mais desertas,
Nos muros e edificações do Centro,
Meu olhar nos hieróglifos constringe:
Como decifro esta voraz esfinge?
 Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de "A peregrinação de Childe Harold", de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de "Odes", de John Keats.
Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de "A peregrinação de Childe Harold", de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de "Odes", de John Keats.

O silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. É o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino
[caption id="attachment_90590" align="aligncenter" width="620"] R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]
R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]
Às vezes este Deus aparece distante, silencioso, incompreensível, escondido. Mas Deus está próximo, mesmo quando se cala. O silêncio fascinante de Deus... Deus chama continuamente o homem à gratuidade, à doação de si aos outros.
– Edward Schillebeeckx Fabrício Tavares de Moraes Especial para o Jornal Opção Alguns anos atrás, Harold Bloom organizou uma antologia poética intitulada The God Within [O Deus Interior], que reunia mais de seiscentas páginas de poemas norte-americanos cujos temas se pautassem especificamente em questões espirituais ou religiosas. Assim, a obra inclui desde textos mais populares como o sombrio Day of the Doom [O Dia do Juízo Final], de Michael Wigglesworth, passando por poemas fascinantes, embora para nós desconhecidos, como Upon a Spider Catching a Fly [De uma Aranha Enredando uma Mosca], de Edward Taylor, e Thanatopsis, de William Cullen Bryant, até poetas contemporâneos como Joseph Harrison. De fato, talvez num primeiro momento nos surpreendamos com o fato de que nesta era secularizada, parafraseando a célebre mas não menos equivocada frase de Adorno, ainda sejam possíveis as manifestações poéticas marcadas ou influenciadas por tons espirituais ou religiosos, depois dos horrores políticos do século XX. Afinal, se é verdade que, como já afirma André Malraux, “vivemos na primeira civilização agnóstica – e possivelmente a última civilização”, talvez não seja a ideia de Deus em si que nos assombra, ou em casos mais extremos, repugna; antes, talvez o indivíduo moderno demonstre certo terror perante as tentativas e esforços, por parte de alguns, de novamente infundir Deus nos assuntos terrenos, em relacioná-lo – este ente tão abstrato – com nossas demandas concretas e contingências exasperadoras deste século. Daí a designação de Dan Cupritt de nossa era como aquela que vem depois de Deus – não necessariamente ou apenas anticristã, o que implicaria uma oposição frontal e positiva para com o cristianismo, mas sim a indiferença ou antipatia para com, segundo julgam, todo ranço doutrinal. Todavia, qualquer um que se disponha, de bom grado, a analisar as raízes espirituais de poetas modernos reconhecerá neles a ânsia metafísica, ou mais especificamente, religiosa. Não somente pela avidez com que um Yeats, Pessoa, Mann se voltavam para o vigoroso substrato pagão da Europa, mas também com a recorrência da tradição judaico-cristã e seus elementos em Eliot, Faulkner, Joyce, Kafka, Beckett. Em nosso caso, temos os grandes poetas Tasso de Oliveira, Jorge de Lima, Murilo Mendes e ainda Adélia Prado, os quais permanecem sendo grandes nomes da literatura brasileira e universal. Já a Inglaterra, por exemplo, nos brindou e foi insuflada pela poesia de George Herbert, John Donne (cujos poemas sensuais sabem aos frutos polpudos de Cantares de Salomão) e, mais tarde, com Gerard Manley Hopkins, o poeta jesuíta que, junto com os americanos Emily Dickson e Whitman, indiscutivelmente lançou as bases para toda a poesia moderna anglo-saxã. Seguindo em parte essa linha, mas dela divergindo em alguns aspectos, temos também o pastor anglicano galês R.S. Thomas, um dos principais nomes cotados para o Prêmio Nobel de 1995, concedido na época ao poeta irlandês Seamus Heaney. O alvoroço em torno de seu nome e os elogios à sua produção poética talvez deponham contra as afirmações e inclinações acadêmicas ao materialismo e também contra o niilismo de grande parte dos poetas. Não negamos, todavia, que, em contrapartida a esse ambiente estéril da academia, alguns círculos intelectuais têm se servido da poesia como pretexto para as concepções mais gnósticas e obscurantistas, possivelmente numa falsa analogia com os mistérios órficos ou os poemas essênios. De todo modo, tanto para os que tomam a poesia como flor que rompe o asfalto quanto para aqueles que a têm como os cardos e abrolhos da maldição genesíaca, a lastimável ordem do dia é, seguindo Cândido, cultivar o próprio jardim, com certa alienação e ressentimento para com aquele outro Jardim do qual, ao que tudo indica, fomos anteriormente residentes, e ignorar aquele Jardineiro que vagava pelo cemitério no dia da Ressurreição. Dito de outro modo, a maior parte dos leitores, críticos e poetas, independentemente de suas raízes espirituais, acreditam que a poesia é, a princípio, um âmbito profano, território murado contra a presença de Deus – afinal, Sua ilustre presença transformaria o poema num simples tratado dogmático, ou um catecismo em versos, absolutamente impalatáveis. A questão, entretanto, se torna mais complexa na medida em que R.S. Thomas, como os poetas anteriormente citados, expõe em seu jardim justamente a ausência ou o conflito com Deus. Num certo sentido, embora Thomas contradiga aquilo que o senso comum concebe acerca de uma poética do transcendente, em outro sentido, ele simplesmente nos remete à tradição dos poetas do Antigo Testamento – Jó, Jeremias, Davi e posteriormente o próprio Cristo – que expressam em seus grandes poemas seu sentimento de desamparo e o aparente abandono de Deus. Przemysław Michalski, num ensaio sobre a obra de R.S. Thomas, chama a atenção para a presença maciça de pequenas igrejas, capelas desconhecidas e templos em rincões obscuros do Reino Unido nos poemas do autor. Assim, seu lamento poético geralmente não se dá dentro das grandes catedrais – hoje em parte esvaziadas de seu conteúdo sagrado e concebidas apenas como monumentos arquitetônicos ou sítios para turismo –, mas nos recintos ignorados também pelos homens. Segundo Michalski, “Thomas tem sido geralmente chamado de um poeta do Deus oculto, mas ele também é um poeta do silêncio e da voz que se cala, qualidades que estão em completa sintonia com o tema de sua obra”. [caption id="attachment_90595" align="alignleft" width="285"] Shusako Endo (1923-1996)[/caption]
Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.
Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.
Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:
Sou um homem agora.
Passe a mão nesta testa afora.
Podes ver onde o miolo aflora.
Sou como um arvoredo
De meus altos ramos percebo
As pegadas nas quais enveredo
Em minhas veias sangue deslancha,
Que corre limpo das manchas
Contraídas em tantas barganhas.
Por que estes dedos encarnados
Com sangue de tantos finados?
Foi cá que me tornei desgarrado?
Por que minhas mãos deste tipo,
Que não agem quando me aplico?
Não ouve Deus quando o suplico?
Não há lugar que me acoite
Mostra os céleres satélites:
Certo é que o relógio de meu ser hesite,
É tarde demais para partidas
Que não são ao coração devidas.
Devo ficar aqui com minha ferida.
O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.
A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.
Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.
E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.
O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.
Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.
Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.
Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.
Shusako Endo (1923-1996)[/caption]
Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.
Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.
Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:
Sou um homem agora.
Passe a mão nesta testa afora.
Podes ver onde o miolo aflora.
Sou como um arvoredo
De meus altos ramos percebo
As pegadas nas quais enveredo
Em minhas veias sangue deslancha,
Que corre limpo das manchas
Contraídas em tantas barganhas.
Por que estes dedos encarnados
Com sangue de tantos finados?
Foi cá que me tornei desgarrado?
Por que minhas mãos deste tipo,
Que não agem quando me aplico?
Não ouve Deus quando o suplico?
Não há lugar que me acoite
Mostra os céleres satélites:
Certo é que o relógio de meu ser hesite,
É tarde demais para partidas
Que não são ao coração devidas.
Devo ficar aqui com minha ferida.
O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.
A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.
Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.
E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.
O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.
Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.
Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.
Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.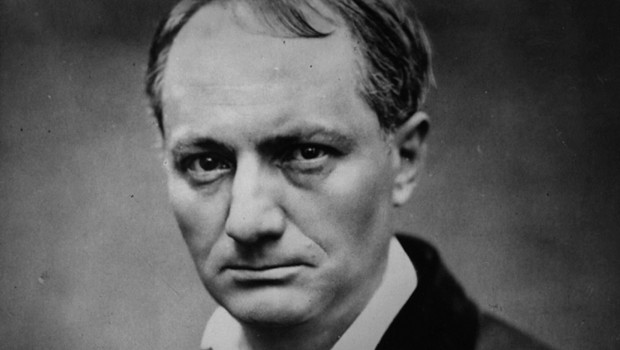
Novas traduções de L’Albatros e Un voyage à Cythère, de Baudelaire, lavradas por Wladimir Saldanha
[caption id="attachment_89974" align="alignleft" width="300"] Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Wladimir Saldanha, poeta e tradutor baiano, verteu uma série de poemas de Charles Baudelaire para o português, sob uma ótica diferente, ou em uma «nova chave», por assim dizer, para a qual ele deu o nome de «Baudelérias». Já que Baudelaire é um dos poetas mais traduzidos no Brasil, a ideia, em linhas gerais, é a de não se aferrar tanto à ênfase na poética do autor, eliminando algumas nuances do original, o que, em dada medida, torna-o um poeta completamente sem humor e despido de prosaísmo. Assim sendo, recursos tradutórios como o uso do pronome você, rimas toantes, e maior atenção ao humor do autor de «As flores do mal» foram as diretrizes que Saldanha adotou para um projeto de traduzir Baudelaire – por isso, «Baudelérias», um exercício de fidelidade às avessas, modesta brincadeira a sério com o mestre da brincadeira a sério.
O leitor pode conferir, abaixo, duas traduções da série de Baudelérias, acompanhadas dos respectivos poemas originais. E já adianto que o Jornal Opção publicará, no domingo, 26, mais alguns exemplos.
Apreciem!
L’Albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
O ALBATROZ
Vai que, por distração, a boa marujada
Faz presa do albatroz, esse avejão dos mares,
Que vai, à toa e companheiro de jornada,
Atrás da nau vogante nos cruéis algares.
Baixados ao convés, que logo se atravanca,
Os reis do azul, malamanhados e cabreiros,
Dão dó de rir com a grande envergadura branca
Das asas como remos a arrastar remeiros.
O alado capitão, como é gauche e decrépito!
De belo, é uma comédia, com a aparência cava!
É um que o bico lhe arrelia com seu pito,
É outro a imitar, mancando, quem voava!
O Poeta assim faz crer um rei que tem de aias
As nuvens, e o trovão assombra, e ri da flecha;
No exílio sob o sol e em meio só de vaias,
Gigante, quer andar – e alado, não se deixa.
[caption id="attachment_89968" align="aligncenter" width="620"]
Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Wladimir Saldanha, poeta e tradutor baiano, verteu uma série de poemas de Charles Baudelaire para o português, sob uma ótica diferente, ou em uma «nova chave», por assim dizer, para a qual ele deu o nome de «Baudelérias». Já que Baudelaire é um dos poetas mais traduzidos no Brasil, a ideia, em linhas gerais, é a de não se aferrar tanto à ênfase na poética do autor, eliminando algumas nuances do original, o que, em dada medida, torna-o um poeta completamente sem humor e despido de prosaísmo. Assim sendo, recursos tradutórios como o uso do pronome você, rimas toantes, e maior atenção ao humor do autor de «As flores do mal» foram as diretrizes que Saldanha adotou para um projeto de traduzir Baudelaire – por isso, «Baudelérias», um exercício de fidelidade às avessas, modesta brincadeira a sério com o mestre da brincadeira a sério.
O leitor pode conferir, abaixo, duas traduções da série de Baudelérias, acompanhadas dos respectivos poemas originais. E já adianto que o Jornal Opção publicará, no domingo, 26, mais alguns exemplos.
Apreciem!
L’Albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
O ALBATROZ
Vai que, por distração, a boa marujada
Faz presa do albatroz, esse avejão dos mares,
Que vai, à toa e companheiro de jornada,
Atrás da nau vogante nos cruéis algares.
Baixados ao convés, que logo se atravanca,
Os reis do azul, malamanhados e cabreiros,
Dão dó de rir com a grande envergadura branca
Das asas como remos a arrastar remeiros.
O alado capitão, como é gauche e decrépito!
De belo, é uma comédia, com a aparência cava!
É um que o bico lhe arrelia com seu pito,
É outro a imitar, mancando, quem voava!
O Poeta assim faz crer um rei que tem de aias
As nuvens, e o trovão assombra, e ri da flecha;
No exílio sob o sol e em meio só de vaias,
Gigante, quer andar – e alado, não se deixa.
[caption id="attachment_89968" align="aligncenter" width="620"] "L'Embarquement pour Cythère", pintura de Antoine Watteau que teria influenciado Baudelaire a escrever o poema "Un voyage à Cythère"[/caption]
Un voyage à Cythère
Mon coeur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux
Et planait librement à l'entour des cordages ;
Le navire roulait sous un ciel sans nuages,
Comme un ange enivré d'un soleil radieux.
Quelle est cette île triste et noire ? - C'est Cythère,
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,
Eldorado banal de tous les vieux garçons.
Regardez, après tout, c'est une pauvre terre.
- Ile des doux secrets et des fêtes du coeur!
De l'antique Vénus le superbe fantôme
Au-dessus de tes mers plane comme un arôme,
Et charge les esprits d'amour et de langueur.
Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses,
Vénérée à jamais par toute nation,
Où les soupirs des coeurs en adoration
Roulent comme l'encens sur un jardin de roses
Ou le roucoulement éternel d'un ramier!
- Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
J'entrevoyais pourtant un objet singulier!
Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères,
Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs,
Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,
Entre-bâillant sa robe aux brises passagères;
Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près
Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches,
Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches,
Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès.
De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré.
Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes,
Le museau relevé, tournoyait et rôdait;
Une plus grande bête au milieu s'agitait
Comme un exécuteur entouré de ses aides.
Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau,
Silencieusement tu souffrais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des péchés qui t'ont interdit le tombeau.
Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!
Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs anciennes;
Devant toi, pauvre diable au souvenir si cher,
J'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires
Des corbeaux lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à triturer ma chair.
- Le ciel était charmant, la mer était unie;
Pour moi tout était noir et sanglant désormais,
Hélas ! et j'avais, comme en un suaire épais,
Le coeur enseveli dans cette allégorie.
Dans ton île, ô Vénus ! je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image...
- Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût !
UMA VIAGEM A CITERA
No céu, como rodou, você que todo prosa
E solto – coração! – planava sobre amarras;
Como anjo embriagado pelo sol nas farras,
A nau quase rolava sob o céu de louça.
Que ilha é aquela, escura e triste? – “É Citera”,
Nos disse um tio, “era assunto em toda roda,
Dos jovens do meu tempo foi lugar da moda.
Repare, olhe a que ponto, ninguém diz que era.
– A ilha dos festins e ternas confidências!
Da antiga Vênus o fantasma ali assoma
E vai planar no mar como se fosse aroma
E encher o ser de amor e de malemolências.
Ilha aberta em flor, mirtais para sustança,
Louvada a mais não ser por tudo o que é nação,
Os ais dos corações em plena adoração
Rolando nos rosais como um incenso avança
Ou como rola eterno o arrulho da rolinha!”
– Citera não era mais que a terra devastada,
Um areal pedrento e azedo de zoada.
Mas uma coisa eu vi, que não se adivinha!
Não era mais o templo bom do interior,
Onde a moça vestal, a que amava as flores,
Lá ia, o corpo em brasa de íntimos calores,
Dando seus lances quando o vento faz favor;
Mas eis que, bordejando, a nau investe
Nosso velame branco de encontro às aves;
Vimos então aquela forca de três traves,
Retinta contra o céu, com agouros de cipreste.
As aves de rapina, sobre o mesmo cocho,
Destroem com furor um réu que já supura,
Calcando, cada qual, a sua broca impura
Ainda onde sangrava nesse corpo roxo;
Os olhos, duas fendas; a barriga em mossa
Com tripas recheadas a vazar nas partes
Que seus algozes, cheios de hediondas artes,
Já tinham a bicadas feito ser de moça.
Sob os dois pés, todo um tropel de quatro patas,
A farejar o ar, rodopiava em ronda;
No meio se agitava a besta mais redonda –
Carrasco e seus capangas invejando as catas.
Morador de Citera, ó filho do bom signo,
Você no seu silêncio padecia insultos
Como em expiação de seus infames cultos
E faltas que lhe negam um enterro digno.
Otário do cambão, as dores são amigas!
Eu sinto, vendo os membros a boiar pendentes,
Que já vou vomitar o que me sobe aos dentes:
O longo rio de fel das dores mais antigas;
Ante você, cabrão cuja memória é cara,
Senti os bicos todos e os maxilares
Dos corvos lancinates e seu negros pares –
panteras já freguesas de trinchar-me a cara.
– O céu encantador, o mar na maresia;
Pra mim de sangue e escuro ficou sendo o troço,
Pena! Eu tinha, como num sudário grosso,
O peito amortalhado nessa alegoria.
Na sua ilha, ó Vênus!, só achei a forca
Simbólica de pé, com minha pensa imagem...
– Ai, Deus! Pra contemplar meu corpo, dai coragem,
E o meu coração, sem nojo – dai-me força!
***
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.
[relacionadas artigos=" 87214"]
"L'Embarquement pour Cythère", pintura de Antoine Watteau que teria influenciado Baudelaire a escrever o poema "Un voyage à Cythère"[/caption]
Un voyage à Cythère
Mon coeur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux
Et planait librement à l'entour des cordages ;
Le navire roulait sous un ciel sans nuages,
Comme un ange enivré d'un soleil radieux.
Quelle est cette île triste et noire ? - C'est Cythère,
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,
Eldorado banal de tous les vieux garçons.
Regardez, après tout, c'est une pauvre terre.
- Ile des doux secrets et des fêtes du coeur!
De l'antique Vénus le superbe fantôme
Au-dessus de tes mers plane comme un arôme,
Et charge les esprits d'amour et de langueur.
Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses,
Vénérée à jamais par toute nation,
Où les soupirs des coeurs en adoration
Roulent comme l'encens sur un jardin de roses
Ou le roucoulement éternel d'un ramier!
- Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres,
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
J'entrevoyais pourtant un objet singulier!
Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères,
Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs,
Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,
Entre-bâillant sa robe aux brises passagères;
Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près
Pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches,
Nous vîmes que c'était un gibet à trois branches,
Du ciel se détachant en noir, comme un cyprès.
De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré.
Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes,
Le museau relevé, tournoyait et rôdait;
Une plus grande bête au milieu s'agitait
Comme un exécuteur entouré de ses aides.
Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau,
Silencieusement tu souffrais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des péchés qui t'ont interdit le tombeau.
Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!
Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs anciennes;
Devant toi, pauvre diable au souvenir si cher,
J'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires
Des corbeaux lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à triturer ma chair.
- Le ciel était charmant, la mer était unie;
Pour moi tout était noir et sanglant désormais,
Hélas ! et j'avais, comme en un suaire épais,
Le coeur enseveli dans cette allégorie.
Dans ton île, ô Vénus ! je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image...
- Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût !
UMA VIAGEM A CITERA
No céu, como rodou, você que todo prosa
E solto – coração! – planava sobre amarras;
Como anjo embriagado pelo sol nas farras,
A nau quase rolava sob o céu de louça.
Que ilha é aquela, escura e triste? – “É Citera”,
Nos disse um tio, “era assunto em toda roda,
Dos jovens do meu tempo foi lugar da moda.
Repare, olhe a que ponto, ninguém diz que era.
– A ilha dos festins e ternas confidências!
Da antiga Vênus o fantasma ali assoma
E vai planar no mar como se fosse aroma
E encher o ser de amor e de malemolências.
Ilha aberta em flor, mirtais para sustança,
Louvada a mais não ser por tudo o que é nação,
Os ais dos corações em plena adoração
Rolando nos rosais como um incenso avança
Ou como rola eterno o arrulho da rolinha!”
– Citera não era mais que a terra devastada,
Um areal pedrento e azedo de zoada.
Mas uma coisa eu vi, que não se adivinha!
Não era mais o templo bom do interior,
Onde a moça vestal, a que amava as flores,
Lá ia, o corpo em brasa de íntimos calores,
Dando seus lances quando o vento faz favor;
Mas eis que, bordejando, a nau investe
Nosso velame branco de encontro às aves;
Vimos então aquela forca de três traves,
Retinta contra o céu, com agouros de cipreste.
As aves de rapina, sobre o mesmo cocho,
Destroem com furor um réu que já supura,
Calcando, cada qual, a sua broca impura
Ainda onde sangrava nesse corpo roxo;
Os olhos, duas fendas; a barriga em mossa
Com tripas recheadas a vazar nas partes
Que seus algozes, cheios de hediondas artes,
Já tinham a bicadas feito ser de moça.
Sob os dois pés, todo um tropel de quatro patas,
A farejar o ar, rodopiava em ronda;
No meio se agitava a besta mais redonda –
Carrasco e seus capangas invejando as catas.
Morador de Citera, ó filho do bom signo,
Você no seu silêncio padecia insultos
Como em expiação de seus infames cultos
E faltas que lhe negam um enterro digno.
Otário do cambão, as dores são amigas!
Eu sinto, vendo os membros a boiar pendentes,
Que já vou vomitar o que me sobe aos dentes:
O longo rio de fel das dores mais antigas;
Ante você, cabrão cuja memória é cara,
Senti os bicos todos e os maxilares
Dos corvos lancinates e seu negros pares –
panteras já freguesas de trinchar-me a cara.
– O céu encantador, o mar na maresia;
Pra mim de sangue e escuro ficou sendo o troço,
Pena! Eu tinha, como num sudário grosso,
O peito amortalhado nessa alegoria.
Na sua ilha, ó Vênus!, só achei a forca
Simbólica de pé, com minha pensa imagem...
– Ai, Deus! Pra contemplar meu corpo, dai coragem,
E o meu coração, sem nojo – dai-me força!
***
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.
[relacionadas artigos=" 87214"]

O Jornal Opção divulga três partes do longo poema “A Legenda de Robert Johnson”, de Emmanuel Santiago, ainda inédito em livro
[caption id="attachment_89946" align="aligncenter" width="620"]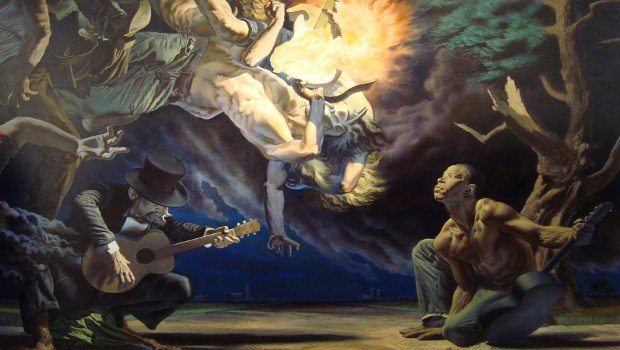 "Robert Johnson and the Devil". Pintura de Nicola Verlato[/caption]
Teria sido o músico norte-americano Robert Johnson (1911-1938) um pactário? É o blues filho do capiroto? Tais questões fazem parte da lenda que envolve Johnson, morto ainda muito jovem. Lenda esta que tornou-se o mote para o poema de Emmanuel Santiago.
Após a leitura das três partes da “legenda”, o leitor pode ainda ouvir duas das principais músicas de Robert Johnson: “Me and The Devil Blues” e “Crossroad”.
Parte I – A origem
A alma, prenda que foi paga
com o sangue de Jesus,
Robert Johnson a vendeu,
conquistando o dom do blues.
Trabalhava na fazenda,
na colheita do algodão,
mas o branco dessa fibra
encarnava suas mãos.
Mãos de negro, carregavam
a memória dos avós:
dois escravos, entre tantos
cuja dor não tinha voz.
E por isso quis cantar:
sua dor não era muda;
arrancá-la foi preciso,
transformá-la toda em música.
Todavia, reza a lenda
que ele não levava jeito;
sua voz soava fraca,
seus acordes, imperfeitos.
Eis que, numa encruzilhada,
Robert Johnson, pertinaz,
envergou-se de joelhos,
invocando Satanás.
O Diabo então surgiu
numa grande labareda
(porém não me comprometam;
como eu disse: reza a lenda).
Parte II – O pacto
E Satã lhe perguntou:
— O que queres, afinal?
— Quero ter o dom da música,
ó Senhor-de-Todo-o-Mal!
— Estás mesmo certo disso?
Por acaso não preferes
ter dinheiro, boa vida,
serviçais, poder, mulheres?
[caption id="attachment_89948" align="alignleft" width="248"]
"Robert Johnson and the Devil". Pintura de Nicola Verlato[/caption]
Teria sido o músico norte-americano Robert Johnson (1911-1938) um pactário? É o blues filho do capiroto? Tais questões fazem parte da lenda que envolve Johnson, morto ainda muito jovem. Lenda esta que tornou-se o mote para o poema de Emmanuel Santiago.
Após a leitura das três partes da “legenda”, o leitor pode ainda ouvir duas das principais músicas de Robert Johnson: “Me and The Devil Blues” e “Crossroad”.
Parte I – A origem
A alma, prenda que foi paga
com o sangue de Jesus,
Robert Johnson a vendeu,
conquistando o dom do blues.
Trabalhava na fazenda,
na colheita do algodão,
mas o branco dessa fibra
encarnava suas mãos.
Mãos de negro, carregavam
a memória dos avós:
dois escravos, entre tantos
cuja dor não tinha voz.
E por isso quis cantar:
sua dor não era muda;
arrancá-la foi preciso,
transformá-la toda em música.
Todavia, reza a lenda
que ele não levava jeito;
sua voz soava fraca,
seus acordes, imperfeitos.
Eis que, numa encruzilhada,
Robert Johnson, pertinaz,
envergou-se de joelhos,
invocando Satanás.
O Diabo então surgiu
numa grande labareda
(porém não me comprometam;
como eu disse: reza a lenda).
Parte II – O pacto
E Satã lhe perguntou:
— O que queres, afinal?
— Quero ter o dom da música,
ó Senhor-de-Todo-o-Mal!
— Estás mesmo certo disso?
Por acaso não preferes
ter dinheiro, boa vida,
serviçais, poder, mulheres?
[caption id="attachment_89948" align="alignleft" width="248"] Robert Johnson (1911-1938), tido como o responsável por consolidar o "Blues" como gênero musical[/caption]
— Não! Aquilo que mais quero,
e meu ser inteiro o clama,
é tocar o violão
como quem empunha lâmina;
é cantar de peito aberto
(coração exposto, nu),
transbordar o sofrimento,
derramá-lo todo em blues.
— Pois que seja! Mas tu sabes
qual o preço deste acerto?
Quero que me dês tu’alma;
menos que isso não aceito.
— Como não se perde mais
o que já está perdido,
eu te dou minha alma, sim,
pois não vejo prejuízo.
O Diabo, satisfeito,
a guitarra pôs ao colo
e, afinando cada nota,
dedilhou um belo solo.
Robert Johnson assistiu
bem atento ao dedilhado
e Satã assim lhe disse:
— Vai e toca, desgraçado!
Parte III – A carreira
A partir daquela noite,
cada vez tocou melhor;
as pessoas o escutavam
e ficavam ao redor.
E trabalho não faltava;
quase não dormia, nunca;
concertou por toda parte
em centenas de espeluncas.
Mas a grana, como sempre,
era curta, muito pouca;
certas noites, só uísque
dava gosto a sua boca.
E algo estranho o perturbava,
pois, tão logo a noite vinha,
escutava um som horrível
de fazer gelar a espinha:
eram uivos e latidos,
animal feroz rosnando;
uma pérfida matilha
a correr-lhe atrás, mas quando
se virava, nada via;
pareciam cães do inferno
pretendendo enlouquecê-lo
ou levar-lhe a vida a término.
No entanto, nesses tempos,
satisfez um velho sonho:
conseguiu gravar um disco
que ninguém ouviu. Tristonho,
afogou-se na bebida,
foi perdendo as esperanças,
pois cantar a dor não cura,
nem conforta, apenas cansa.
Um consolo, ao menos, tinha:
por mais tímido que fosse,
era um grande sedutor,
um galã de lábios doces.
E por causa de mulher
nosso herói seria morto;
morreria envenenado
num funesto mês de agosto.
(...)
Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá).
***
https://www.youtube.com/watch?v=YYsnRc09csQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yd60nI4sa9A
Robert Johnson (1911-1938), tido como o responsável por consolidar o "Blues" como gênero musical[/caption]
— Não! Aquilo que mais quero,
e meu ser inteiro o clama,
é tocar o violão
como quem empunha lâmina;
é cantar de peito aberto
(coração exposto, nu),
transbordar o sofrimento,
derramá-lo todo em blues.
— Pois que seja! Mas tu sabes
qual o preço deste acerto?
Quero que me dês tu’alma;
menos que isso não aceito.
— Como não se perde mais
o que já está perdido,
eu te dou minha alma, sim,
pois não vejo prejuízo.
O Diabo, satisfeito,
a guitarra pôs ao colo
e, afinando cada nota,
dedilhou um belo solo.
Robert Johnson assistiu
bem atento ao dedilhado
e Satã assim lhe disse:
— Vai e toca, desgraçado!
Parte III – A carreira
A partir daquela noite,
cada vez tocou melhor;
as pessoas o escutavam
e ficavam ao redor.
E trabalho não faltava;
quase não dormia, nunca;
concertou por toda parte
em centenas de espeluncas.
Mas a grana, como sempre,
era curta, muito pouca;
certas noites, só uísque
dava gosto a sua boca.
E algo estranho o perturbava,
pois, tão logo a noite vinha,
escutava um som horrível
de fazer gelar a espinha:
eram uivos e latidos,
animal feroz rosnando;
uma pérfida matilha
a correr-lhe atrás, mas quando
se virava, nada via;
pareciam cães do inferno
pretendendo enlouquecê-lo
ou levar-lhe a vida a término.
No entanto, nesses tempos,
satisfez um velho sonho:
conseguiu gravar um disco
que ninguém ouviu. Tristonho,
afogou-se na bebida,
foi perdendo as esperanças,
pois cantar a dor não cura,
nem conforta, apenas cansa.
Um consolo, ao menos, tinha:
por mais tímido que fosse,
era um grande sedutor,
um galã de lábios doces.
E por causa de mulher
nosso herói seria morto;
morreria envenenado
num funesto mês de agosto.
(...)
Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá).
***
https://www.youtube.com/watch?v=YYsnRc09csQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yd60nI4sa9A

João Filho traduz dois sonetos que têm por tema Baruch de Spinoza, um de Sully Pruhdhomme e o outro de Jorge Luis Borges. E para complementá-los, na sequência, segue um soneto de Machado de Assis, também sobre sábio solitário
[caption id="attachment_89911" align="aligncenter" width="620"] O judeu-holandês Baruch de Spinoza (1632-1677) foi um dos maiores nomes do início do pensamento moderno, ao lado de René Descartes e Gottfried Leibnitz
O judeu-holandês Baruch de Spinoza (1632-1677) foi um dos maiores nomes do início do pensamento moderno, ao lado de René Descartes e Gottfried Leibnitz
[/caption]
João Filho
Especial para o Jornal Opção
Deparei-me com o soneto de Borges no livro El outro, el mismo, na sua obra poética completa. Segundo o autor argentino era o livro que mais apreciava. O soneto de Sully Prudhomme retirei do Itinerário de Pasárgada, de Bandeira; cotejei com uma edição virtual e há algumas ligeiras mudanças de pontuação, fora um erro estranho de digitação. Coisas da Internet. Conservei a de Bandeira. O “natura” do 10º verso fica, além da facilidade rímica, também pelo sabor de contração comum ao século do poeta francês. O nome do filósofo, no final do soneto, fica Bento mesmo por causa da métrica, além de condizer com o espírito do poema. O de Borges ficou em decassílabo, e o de Prudhomme em alexandrino.
ESPINOSA
As translúcidas mãos desse judeu
que lustram na penumbra seus cristais
e essa tarde morrendo é medo e breu.
(As tardes dessas tardes são iguais.)
As mãos e o seu espaço de jacinto
que empalidece no confim do Gueto
quase inexiste para esse homem quedo
que está sonhando um claro labirinto.
Não o perturba a fama, esse parelho
de sonhos com os sonhos de outro espelho,
nem o amor temeroso dessas virgens.
E livre da metáfora e do mito
lustra um árduo cristal: o infinito
mapa d’Aquele dono das origens.
SPINOZA
Las traslúcidas manos del judio
labran en la penumbra los cristales
y la tarde que muere es miedo y frío.
(Las tardes a las tardes son iguales.)
Las manos y el espacio del jacinto
que palidece en el confín del Ghetto
casi no existen para el hombre quieto
que está soñando un claro laberinto.
No lo turba la fama, ese reflejo
de sueños en el sueño de outro espejo,
ni el temeroso amor de las doncellas.
Libre de la metáfora y del mito
labra un arduo cristal: el infinito
mapa de Aquel que es todas Sus estrellas.
Jorge Luis Borges
UM HOMEM BOM
Era um homem tão doce, de saúde frágil,
Que de tanto polir os cristais de mil lentes,
Pôs a essência divina numa fórmula ágil,
E o mundo apavorado o viu como um descrente.
O sábio demonstrou, com um simples adágio,
Que tanto o bem quanto o mal são velhos dementes,
E os mortais são fantoches que devem seu ágio
Aos fios necessários de mãos descontentes.
Admirador devoto da Santa Escritura,
Não poderia ver um Deus contra a natura,
Ao qual a sinagoga se opunha raivosa.
Longe dela, polia os cristais de mil lentes,
E socorria os sábios contando astros e entes.
Era um homem tão doce, Bento de Espinosa.
UN BONHOMME
_C’était un homme doux, de chétive santé,
Qui, tout en polissant des verres de lunettes,
Mit l’essence divine en formules très nettes,
Si nettes, que le monde en fut épouvanté.
_Ce sage démontrait avec simplicité,
Que le bien et le mal sont d’antiques sornettes,
Et les libres mortels d’humbles marionettes
Dont le fil est aux mains de la nécessité.
_Pieux admirateur de la sainte Écriture,
Il n’y voulait pas voir un Dieu contre nature;
A quoi la synagogue en rage s’opposa.
_Loin d’elle, polissant des verres de lunettes,
Il aidait les savants à compter les planètes.
C’était un homme doux, Baruch de Spinoza.
Sully Prudhomme
***
João Filho é poeta e tradutor, autor do livro “A Dimensão Necessária”, que foi publicado pela editora Mondrongo, em 2014, tendo sido o vencedor do Prêmio da Biblioteca Nacional de 2015, na categoria poesia.
***
Por sugestão do também poeta e tradutor Wagner Schadeck, incluímos nesta publicação o soneto “Spinoza”, de Machado de Assis, que segue abaixo:
SPINOZA
Gosto de ver-te, grave e solitário,
Sob o fumo de esquálida candeia,
Nas mãos a ferramenta de operário,
E na cabeça a coruscante idéia.
E enquanto o pensamento delineia
Uma filosofia, o pão diário
A tua mão a labutar granjeia
E achas na independência o teu salário.
Soem cá fora agitações e lutas,
Sibile o bafo aspérrimo do inverno,
Tu trabalhas, tu pensas, e executas
Sóbrio, tranqüilo, desvelado e terno,
A lei comum, e morres, e transmutas
O suado labor no prêmio eterno.
Machado de Assis

Leia um dos poemas desse excêntrico escritor soviético, intitulado "Um linchamento"
[caption id="attachment_89410" align="aligncenter" width="620"] Poeta absurdista russo, Daniil Kharms (1905-1942)[/caption]
Confira, abaixo, o poema em prosa “Um linchamento”, do poeta russo Daniil Kharms (1905-1942). Kharms pertenceu à corrente literária soviética correspondente ao dadaísmo da Europa Ocidental, que ficou conhecida na historiografia russa como “absurdista”. A tradução que segue é de Lauro Machado Coelho, extraída da coletânea selecionada pelo próprio tradutor: “Poesia Soviética” (São Paulo: Algol Editora, 2007).
***
UM LINCHAMENTO
Petróv monta em seu cavalo e, dirigindo-se à multidão, faz um discurso a respeito do que acontecerá se, na praça onde hoje há um parque público, for construído um arranha-céu americano. A multidão ouve e, evidentemente, concorda. Petróv faz anotações em sua caderneta. No meio da multidão pode-se distinguir um homem de meia-idade que pergunta a Petróv o que foi que ele anotou em sua caderneta. Petróv responde que isso só diz respeito a ele mesmo. O homem de meia-idade insiste. Uma palavra leva à outra e uma briga começa. A multidão toma o partido do homem de meia-idade e Petróv, para salvar a própria pele, esporeia o cavalo e dá volta na praça. A multidão fica agitada e, na falta de outra vítima, agarra o homem de meia-idade e arranca-lhe a cabeça. A cabeça arrancada rola na calçada e fica presa num ralo de esgoto que está aberto. A multidão, tendo satisfeito as suas paixões, se dispersa.
Poeta absurdista russo, Daniil Kharms (1905-1942)[/caption]
Confira, abaixo, o poema em prosa “Um linchamento”, do poeta russo Daniil Kharms (1905-1942). Kharms pertenceu à corrente literária soviética correspondente ao dadaísmo da Europa Ocidental, que ficou conhecida na historiografia russa como “absurdista”. A tradução que segue é de Lauro Machado Coelho, extraída da coletânea selecionada pelo próprio tradutor: “Poesia Soviética” (São Paulo: Algol Editora, 2007).
***
UM LINCHAMENTO
Petróv monta em seu cavalo e, dirigindo-se à multidão, faz um discurso a respeito do que acontecerá se, na praça onde hoje há um parque público, for construído um arranha-céu americano. A multidão ouve e, evidentemente, concorda. Petróv faz anotações em sua caderneta. No meio da multidão pode-se distinguir um homem de meia-idade que pergunta a Petróv o que foi que ele anotou em sua caderneta. Petróv responde que isso só diz respeito a ele mesmo. O homem de meia-idade insiste. Uma palavra leva à outra e uma briga começa. A multidão toma o partido do homem de meia-idade e Petróv, para salvar a própria pele, esporeia o cavalo e dá volta na praça. A multidão fica agitada e, na falta de outra vítima, agarra o homem de meia-idade e arranca-lhe a cabeça. A cabeça arrancada rola na calçada e fica presa num ralo de esgoto que está aberto. A multidão, tendo satisfeito as suas paixões, se dispersa.


