Notícias

[caption id="attachment_17731" align="alignleft" width="620"] Frei Tito, numa fotografia de 1966: o religioso foi destruído pela tortura perpetrada pela equipe de policiais do delegado Sérgio Paranhos Fleury | Fotos: Reprodução[/caption]
No livro “Um Homem Torturado — Nos Passos de Frei Tito de Alencar” (Civilização Brasileira, 418 páginas), as jornalistas Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meireles entrevistaram o psiquiatra francês que tentou mas não conseguiu tratar o frade dominicano.
Jean-Claude Rolland recebeu o frei Tito no Hospital Édouard Herriot, de Lyon, em 1973. Na época, aos 35 anos, além de atuar como psiquiatra, fazia uma formação na Associação Psicanalítica da França (APF). Hoje, tendo abandonado a psiquiatria, atua como psicanalista.
O dr. Rolland admite que o frei Tito “foi um marco” na sua vida profissional. “Desde que tratou do dominicano, o médico não parou de escrever e testemunhar sobre as consequências da tortura no psiquismo do jovem paciente”, relatam Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meireles. Às entrevistadoras, ele disse que, “ao refletir sobre a tortura, descobriu que existe na humanidade uma imensa capacidade de destruir o outro, ainda que profundamente reprimida”. “A tortura se desenvolve em bases que já existem. Há, no fundo de nós mesmos, muito recalcada, uma capacidade de destruir o outro, e o torturador apenas ativa essa capacidade de destruição”, afirma o psiquiatra-psicanalista.
Ao se aproximar de Tito, ao tentar entendê-lo, em busca do tratamento adequado, o dr. Rolland percebeu que não conseguiam se comunicar. Havia aquilo que chama de “sofrimento tão incomunicável”. “Quando compreendemos, os frades e eu, que Tito tinha vivido coisas atrozes e que nos tinha escapado pelo suicídio, disse a mim mesmo que era preciso testemunhar o que ele viveu. E comecei a fazer pesquisas”, afirma o médico.
No tratamento psiquiátrico, ou na abordagem psicanalítica, é preciso notar o que é específico do indivíduo. Quando o frei Tito chegou ao serviço de emergência da unidade de psiquiatria do hospital, o dr. Rolland disse que poderia, de imediato, “ter qualificado seu estado” como “delirante, pois pensava que Fleury estava lá, ouvia vozes”. Porém, observando mais atentamente, o médico diz ter percebido que “eram vozes que ele tinha realmente ouvido, de torturadores e torturados”. Não era delírio nem fantasia.
Em vez de delírio, a fala entrecortada do frei Tito era uma espécie de “sintoma-testemunho”. Era “a única forma possível de contar a tortura, de testemunhar a barbárie de que fora vítima”, anotam as jornalistas. “Ele dramatizava para exprimir com o corpo algo que estava além das palavras e da consciência”, diz Rolland. Tito levara os torturadores para a França — “dentro de si”.
[caption id="attachment_17734" align="alignleft" width="620"]
Frei Tito, numa fotografia de 1966: o religioso foi destruído pela tortura perpetrada pela equipe de policiais do delegado Sérgio Paranhos Fleury | Fotos: Reprodução[/caption]
No livro “Um Homem Torturado — Nos Passos de Frei Tito de Alencar” (Civilização Brasileira, 418 páginas), as jornalistas Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meireles entrevistaram o psiquiatra francês que tentou mas não conseguiu tratar o frade dominicano.
Jean-Claude Rolland recebeu o frei Tito no Hospital Édouard Herriot, de Lyon, em 1973. Na época, aos 35 anos, além de atuar como psiquiatra, fazia uma formação na Associação Psicanalítica da França (APF). Hoje, tendo abandonado a psiquiatria, atua como psicanalista.
O dr. Rolland admite que o frei Tito “foi um marco” na sua vida profissional. “Desde que tratou do dominicano, o médico não parou de escrever e testemunhar sobre as consequências da tortura no psiquismo do jovem paciente”, relatam Leneide Duarte-Plon e Clarisse Meireles. Às entrevistadoras, ele disse que, “ao refletir sobre a tortura, descobriu que existe na humanidade uma imensa capacidade de destruir o outro, ainda que profundamente reprimida”. “A tortura se desenvolve em bases que já existem. Há, no fundo de nós mesmos, muito recalcada, uma capacidade de destruir o outro, e o torturador apenas ativa essa capacidade de destruição”, afirma o psiquiatra-psicanalista.
Ao se aproximar de Tito, ao tentar entendê-lo, em busca do tratamento adequado, o dr. Rolland percebeu que não conseguiam se comunicar. Havia aquilo que chama de “sofrimento tão incomunicável”. “Quando compreendemos, os frades e eu, que Tito tinha vivido coisas atrozes e que nos tinha escapado pelo suicídio, disse a mim mesmo que era preciso testemunhar o que ele viveu. E comecei a fazer pesquisas”, afirma o médico.
No tratamento psiquiátrico, ou na abordagem psicanalítica, é preciso notar o que é específico do indivíduo. Quando o frei Tito chegou ao serviço de emergência da unidade de psiquiatria do hospital, o dr. Rolland disse que poderia, de imediato, “ter qualificado seu estado” como “delirante, pois pensava que Fleury estava lá, ouvia vozes”. Porém, observando mais atentamente, o médico diz ter percebido que “eram vozes que ele tinha realmente ouvido, de torturadores e torturados”. Não era delírio nem fantasia.
Em vez de delírio, a fala entrecortada do frei Tito era uma espécie de “sintoma-testemunho”. Era “a única forma possível de contar a tortura, de testemunhar a barbárie de que fora vítima”, anotam as jornalistas. “Ele dramatizava para exprimir com o corpo algo que estava além das palavras e da consciência”, diz Rolland. Tito levara os torturadores para a França — “dentro de si”.
[caption id="attachment_17734" align="alignleft" width="620"] Jean-Claude Rolland, psiquiatra e psicanalista francês que tentou tratar o dominicano Tito, mas admite que fracassou, pois o paciente esperava que a “cura” viesse de Deus[/caption]
O francês Xavier Plassat, religioso amigo de Tito, sugere que a queda de Salvador Allende, no Chile, em 1973, acelerou a crise do religioso brasileiro. Mas Rolland ressalva que as alucinações do frei não tinham a ver com a queda do presidente chileno. “Tito já estava destruído, sofria os efeitos da tortura. Ele já devia estar destruído em Paris, inclusive porque não pôde utilizar os recursos terapêuticos que lhe foram propostos. Penso que desmoronou quando foi escolhido para ser trocado pelo embaixador, como se a prisão o protegesse contra uma espécie de desejo de morrer. Como se não tivesse direito de ser livre. Há em alguns pacientes uma culpa ou uma vergonha tão grandes que eles não podem se curar, como se não tivessem o direito de viver. Só podem viver de maneira reduzida, estreita, atormentada”, afirma o psiquiatra.
Ao torturar Tito, o delegado Sérgio Fleury sempre dizia que o frei havia traído seus companheiros. “Ele [Tito] tinha vergonha e se sentia um traidor. Parecia consumido pela vergonha. Mas não se pode pedir a um torturado que não confesse, tudo é feito para levá-lo a falar. Em nossas sessões ele era silencioso, cheguei a me perguntar depois se sabia falar bem francês. O que eu escutava era o que seu silêncio continha de sofrimento e de recordações. Foi, sem dúvida, a experiência mais violenta que tive em toda minha prática psiquiátrica”, assinala Rolland. Tito se expressava bem em francês, ainda que com sotaque. Mas, nas consultas, um frade falava por ele, explicando sua história e o que fazia no dia a dia.
No seminário francês, o frei Tito vivia calado, mas preocupado, acreditando que Sérgio Fleury estava torturando sua família no Brasil.
Há torturadores que querem informações, mas há torturadores, como Sérgio Fleury, que, além das informações, querem destruir seus oponentes. No caso do frei Tito, o delegado conseguiu. “Pode-se dizer que ele foi quebrado porque tinha um ponto de fraqueza. Mas todos os homens têm um ponto de fraqueza. Há algo na perversidade da tortura que leva o torturador a procurar no outro exatamente o que ele percebe que não vai resistir. Eles visaram à sinceridade do seu sacerdócio, foi aí que ele foi terrivelmente posto à prova, perseguido, acuado. E desmoronou”, anota Rolland.
Os torturadores perceberam que, ao massacrá-lo e ao “dialogar” com ele, poderiam “demolir sua autoestima”. Por isso insistiam que ele era “traidor”. Insinuavam que era homossexual (as autoras discutem a questão, mas não apresentam uma conclusão). Para Rolland, “a violência da brutalidade extrema, desumana, da prática da tortura traz com ela a abolição de toda semelhança entre os carrasco e a vítima, elimina a língua comum. A instrumentalização das palavras e da linguagem que, no uso do insulto, por exemplo, se reduzem a ‘atos’ destinados a ferir a pessoa e a desvalorizá-la, exclui a vítima de sua própria língua”.
O silêncio de Tito é interpretado por Rolland como “a arrogância dos mártires”. “Era um homem que tinha um ideal importante, grandioso. Em seu profundo sofrimento, lembrava São Francisco de Assis ou Cristo. Ele tinha se identificado com Cristo, era impressionante. Parecia completamente destruído, mas ao mesmo tempo sentíamos que a última coisa que o sustentava era a ideia de que era um mártir. Ele tinha aquela superioridade dos mártires, a arrogância dos mártires.”
O psiquiatra não conseguiu “acessar” Tito, porque este “esperava que a cura viria de Deus, não dos homens”. “A tortura”, afirma Rolland, “tinha esvaziado Tito, retirado dele qualquer possibilidade de relacionamento”.
O psiquiatra-psicanalista admite que o suicídio de um paciente “é uma derrota”. Assim, para Rolland, “o tratamento de Tito foi ‘enriquecedor e deprimente’”. “Fiquei realmente chocado, ele escapou a todos nós. Mesmo sabendo que fugia e se esquivava o tempo todo, foi um choque. Tito não estava mais presente. Mas suicidar-se... Ele realmente nos escapou. Mas talvez a ideia de se suicidar lhe veio no momento de sua libertação.”
É possível que Tito seja visto como tendo uma espécie de loucura. Mas o psiquiatra-psicanalista Rolland discorda: “Hoje, penso que a loucura está no torturador. É preciso ver a tortura como uma loucura. Alguns militares que torturaram na Argélia ficaram loucos. Só se pode fazer isso exercendo uma distorção mental muito grande. Albernaz, um dos torturadores de Tito, lhe disse: ‘Quando venho para a Operação Bandeirantes, deixo meu coração em casa’. Isso mostra que são realmente seres divididos, como se houvesse uma cisão”.
Por que, exatamente, o religioso se matou? Rolland apresenta uma explicação: “O suicídio de frei Tito teria sido consequência das sevícias que ele suportou na prisão, da tortura, das desordens psíquicas que se seguiram e, finalmente, do exílio forçado num país estrangeiro. Tudo isso que se pode resumir na perda de todo o controle sobre seu destino e de esperança no gênero humano. O suicídio é um ato de desespero, cego. Por isso, deve-se evitar explicá-lo: no momento do ato, significa o bloqueio das funções intelectuais, tanto no autor do ato quanto nos que o cercam. Porque o suicídio não é nunca o ato solitário que pensamos, inscreve-se num contexto de relações no qual o outro é ao mesmo tempo interpelado e repudiado”.
Tito, frisa Rolland, “vivia como um exilado do mundo que, para ele, era habitado pela sombra dos torturadores. Os vivos que o cercavam eram representantes dos carrascos, particularmente Fleury. (...) Estava claro que nós, que o tratávamos, éramos identificados com seus torturadores. (...) Ele tinha a impressão de que ia ser morto de um momento para outro. Foi o que deve ter sentido durante sua prisão e tortura. Vivia como um condenado à morte, e o suicídio se inscreve nesta lógica: matar-se em vez de ser morto. Esse é o sentido de sua primeira tentativa de suicídio na prisão. Pode-se dizer que, com esse gesto, ele se identificou com seus agressores. Assim, é legítimo afirmar que o delegado Fleury foi, em última instância, autor de um assassinato”.
O que queria Sérgio Fleury, ao insistir na tortura ao frei Tito, que, a rigor, nada mais tinha a dizer que contribuísse para desmantelar a guerrilha armada? O delegado “queria destruir nele o que não lhe é semelhante”, analisa Rolland. “O que quer Fleury de Tito quando pela tortura quer apagar toda diferença entre eles? Seu desaparecimento como ser”, sublinha o psiquiatra-psicanalista.
Leia mais:
Frei Tito, o religioso brasileiro que a ditadura levou ao suicídio
Jean-Claude Rolland, psiquiatra e psicanalista francês que tentou tratar o dominicano Tito, mas admite que fracassou, pois o paciente esperava que a “cura” viesse de Deus[/caption]
O francês Xavier Plassat, religioso amigo de Tito, sugere que a queda de Salvador Allende, no Chile, em 1973, acelerou a crise do religioso brasileiro. Mas Rolland ressalva que as alucinações do frei não tinham a ver com a queda do presidente chileno. “Tito já estava destruído, sofria os efeitos da tortura. Ele já devia estar destruído em Paris, inclusive porque não pôde utilizar os recursos terapêuticos que lhe foram propostos. Penso que desmoronou quando foi escolhido para ser trocado pelo embaixador, como se a prisão o protegesse contra uma espécie de desejo de morrer. Como se não tivesse direito de ser livre. Há em alguns pacientes uma culpa ou uma vergonha tão grandes que eles não podem se curar, como se não tivessem o direito de viver. Só podem viver de maneira reduzida, estreita, atormentada”, afirma o psiquiatra.
Ao torturar Tito, o delegado Sérgio Fleury sempre dizia que o frei havia traído seus companheiros. “Ele [Tito] tinha vergonha e se sentia um traidor. Parecia consumido pela vergonha. Mas não se pode pedir a um torturado que não confesse, tudo é feito para levá-lo a falar. Em nossas sessões ele era silencioso, cheguei a me perguntar depois se sabia falar bem francês. O que eu escutava era o que seu silêncio continha de sofrimento e de recordações. Foi, sem dúvida, a experiência mais violenta que tive em toda minha prática psiquiátrica”, assinala Rolland. Tito se expressava bem em francês, ainda que com sotaque. Mas, nas consultas, um frade falava por ele, explicando sua história e o que fazia no dia a dia.
No seminário francês, o frei Tito vivia calado, mas preocupado, acreditando que Sérgio Fleury estava torturando sua família no Brasil.
Há torturadores que querem informações, mas há torturadores, como Sérgio Fleury, que, além das informações, querem destruir seus oponentes. No caso do frei Tito, o delegado conseguiu. “Pode-se dizer que ele foi quebrado porque tinha um ponto de fraqueza. Mas todos os homens têm um ponto de fraqueza. Há algo na perversidade da tortura que leva o torturador a procurar no outro exatamente o que ele percebe que não vai resistir. Eles visaram à sinceridade do seu sacerdócio, foi aí que ele foi terrivelmente posto à prova, perseguido, acuado. E desmoronou”, anota Rolland.
Os torturadores perceberam que, ao massacrá-lo e ao “dialogar” com ele, poderiam “demolir sua autoestima”. Por isso insistiam que ele era “traidor”. Insinuavam que era homossexual (as autoras discutem a questão, mas não apresentam uma conclusão). Para Rolland, “a violência da brutalidade extrema, desumana, da prática da tortura traz com ela a abolição de toda semelhança entre os carrasco e a vítima, elimina a língua comum. A instrumentalização das palavras e da linguagem que, no uso do insulto, por exemplo, se reduzem a ‘atos’ destinados a ferir a pessoa e a desvalorizá-la, exclui a vítima de sua própria língua”.
O silêncio de Tito é interpretado por Rolland como “a arrogância dos mártires”. “Era um homem que tinha um ideal importante, grandioso. Em seu profundo sofrimento, lembrava São Francisco de Assis ou Cristo. Ele tinha se identificado com Cristo, era impressionante. Parecia completamente destruído, mas ao mesmo tempo sentíamos que a última coisa que o sustentava era a ideia de que era um mártir. Ele tinha aquela superioridade dos mártires, a arrogância dos mártires.”
O psiquiatra não conseguiu “acessar” Tito, porque este “esperava que a cura viria de Deus, não dos homens”. “A tortura”, afirma Rolland, “tinha esvaziado Tito, retirado dele qualquer possibilidade de relacionamento”.
O psiquiatra-psicanalista admite que o suicídio de um paciente “é uma derrota”. Assim, para Rolland, “o tratamento de Tito foi ‘enriquecedor e deprimente’”. “Fiquei realmente chocado, ele escapou a todos nós. Mesmo sabendo que fugia e se esquivava o tempo todo, foi um choque. Tito não estava mais presente. Mas suicidar-se... Ele realmente nos escapou. Mas talvez a ideia de se suicidar lhe veio no momento de sua libertação.”
É possível que Tito seja visto como tendo uma espécie de loucura. Mas o psiquiatra-psicanalista Rolland discorda: “Hoje, penso que a loucura está no torturador. É preciso ver a tortura como uma loucura. Alguns militares que torturaram na Argélia ficaram loucos. Só se pode fazer isso exercendo uma distorção mental muito grande. Albernaz, um dos torturadores de Tito, lhe disse: ‘Quando venho para a Operação Bandeirantes, deixo meu coração em casa’. Isso mostra que são realmente seres divididos, como se houvesse uma cisão”.
Por que, exatamente, o religioso se matou? Rolland apresenta uma explicação: “O suicídio de frei Tito teria sido consequência das sevícias que ele suportou na prisão, da tortura, das desordens psíquicas que se seguiram e, finalmente, do exílio forçado num país estrangeiro. Tudo isso que se pode resumir na perda de todo o controle sobre seu destino e de esperança no gênero humano. O suicídio é um ato de desespero, cego. Por isso, deve-se evitar explicá-lo: no momento do ato, significa o bloqueio das funções intelectuais, tanto no autor do ato quanto nos que o cercam. Porque o suicídio não é nunca o ato solitário que pensamos, inscreve-se num contexto de relações no qual o outro é ao mesmo tempo interpelado e repudiado”.
Tito, frisa Rolland, “vivia como um exilado do mundo que, para ele, era habitado pela sombra dos torturadores. Os vivos que o cercavam eram representantes dos carrascos, particularmente Fleury. (...) Estava claro que nós, que o tratávamos, éramos identificados com seus torturadores. (...) Ele tinha a impressão de que ia ser morto de um momento para outro. Foi o que deve ter sentido durante sua prisão e tortura. Vivia como um condenado à morte, e o suicídio se inscreve nesta lógica: matar-se em vez de ser morto. Esse é o sentido de sua primeira tentativa de suicídio na prisão. Pode-se dizer que, com esse gesto, ele se identificou com seus agressores. Assim, é legítimo afirmar que o delegado Fleury foi, em última instância, autor de um assassinato”.
O que queria Sérgio Fleury, ao insistir na tortura ao frei Tito, que, a rigor, nada mais tinha a dizer que contribuísse para desmantelar a guerrilha armada? O delegado “queria destruir nele o que não lhe é semelhante”, analisa Rolland. “O que quer Fleury de Tito quando pela tortura quer apagar toda diferença entre eles? Seu desaparecimento como ser”, sublinha o psiquiatra-psicanalista.
Leia mais:
Frei Tito, o religioso brasileiro que a ditadura levou ao suicídio

Campeão de votos para a Câmara dos Deputados afirma que sua eleição significa que o cidadão quer mais segurança
A repórter Maria Fernanda Rodrigues, na coluna “Babel”, de “O Estado de S. Paulo”, anuncia uma das melhores notícias literárias do ano: o lançamento do romance “Vida e Destino” (Alfaguara, 920 páginas), com tradução direta do russo por Irineu Franco Perpétuo. O livro é apresentado pelo “Estadão”, erroneamente, com o título de “Destino e Vida”. O “Times Literary Supplement” assinala: “Uma das grandes obras-primas do século 20”. Martin Amis corrobora, e sem exagerar (muito): “Vassili Grossman é o Tolstói da URSS”. Boris Pasternak era acima de tudo poeta, mas escreveu uma espécie de romance-vingador contra o stalinismo, reverberando a literatura política da Rússia do século 19. É provável que com “Doutor Jivago”, belo mas não muito sólido livro, Pasternak tenha tentado mostrar sua identificação com autores que nada tinham a ver com o realismo socialista dos tempos de Stálin. “Sou quase czarista”, poderia ter dito o poeta. Como “Doutor Jivago” ganhou o Nobel de Literatura e foi levado ao cinema, numa magnífica adaptação de David Lean — quiçá mais romântica do que o livro, que é profundamente realista —, o poeta Pasternak foi ligeiramente deixado de lado, em certo momento da história. Hoje, na e fora da Rússia, é o poeta que brilha mais. O grande romance do século soviético é mesmo “Vida e Destino”, que a turma de Stálin boicotou e impediu a publicação. Vassili Grossman era um escritor inspirado e um jornalista talentoso, que cobriu, de maneira brilhante e perspicaz, a Segunda Guerra Mundial, no front soviético. Era permanentemente vigiado pelos stalinistas. Porque era livre e não escondia o que via. A seguir, um release da Editora Alfaguara: “‘Vida e Destino’ é um épico moderno e uma análise profunda das forças que mergulharam o mundo na Segunda Guerra Mundial. Vassili Grossman, que esteve no campo de batalha e acompanhou os soldados russos em Stalingrado, compôs uma obra com a dimensão de Tolstói e de Dostoiévski, tocando, ao mesmo tempo, num dos momentos cruciais do século 20. “Este é um dos poucos romances que parecem abarcar toda a vida. Os campos de prisioneiros militares e os campos de concentração; os altos-comandos, com Hitler de um lado e Stálin de outro; a disputa insensata dos soldados por uma única casa na cidade em ruínas; e os dramas familiares dos que ficam para trás e enfrentam o terror político e a incerteza. Não existe um romance sobre a Segunda Guerra com a mesma força dramática, com o mesmo impacto. “Finalizado em 1960, e a seguir confiscado pela KGB, o livro permaneceu inédito até a metade dos anos 1980. Uma vez redescoberto, foi alçado a um dos romances mais importantes do século 20. A edição da Alfaguara de ‘Vida e Destino’ foi traduzida do russo por Irineu Franco Perpetuo, a partir da edição mais completa do romance, publicada na Rússia em 1989.” Leia Mais: Os três melhores romances do ano são de um cubano, de um russo e de uma americana/Retranca: “Paradiso”, “Vida e Destino” e “O Pintassilgo”
Tendo como base o aspecto dramático do maior acidente radiológico do país, antropóloga goiana dá uma nova visão às narrativas do evento que mudou a história de Goiás
[caption id="attachment_17708" align="alignleft" width="620"] Foto mostra funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) removendo o que antes eram objetos pessoais das vítimas, mas que se tornou lixo radioativo[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Foto mostra funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) removendo o que antes eram objetos pessoais das vítimas, mas que se tornou lixo radioativo[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Peter Szondi, um dos mais consagrados teóricos da literatura mundial, define, em linhas gerais, o drama moderno como sendo uma sucessão temporal que não se esgota e guarda as características de um pequeno sistema saturado de tensões. Isto é, para o pensador húngaro, o drama, ao menos o literário, é contínuo em seu próprio sistema, além de que deve ser formado por tensões próprias, pois, ao contrário, não conseguirá gerar o efeito dramático necessário à obra.
Esse conceito, obviamente, trata de gêneros da literatura, sendo que o drama social, aquele mais próximo à sociedade em que vivemos, adquire outros conceitos. Contudo, embora a teoria literária tenha uma aplicação específica, a própria literatura pode nos auxiliar no entendimento de algumas questões que extrapolam as capas dos livros. Certa vez, ouvi de uma mulher que passou por anos de conflitos civis na África, que sobreviventes de guerra não têm sonhos. Tal constatação é, no mínimo, dramática, pois a palavra “sonho”, usada por ela no significado de perspectiva, atribui ao ser humano grande parte de seu sentido de vida. Mas, se a afirmação possui uma grande carga dramática, ela também é compreensível, uma vez que guerra é um evento catastrófico — catástrofe pode ser definida como algo que aglomera um sentido de ruptura profunda, absoluta e que compreende tanto as situações históricas de extrema violência, caso das guerras, quanto a unidade narrativa do testemunho, como observado na afirmação da sobrevivente dos conflitos africanos. Porém, não somente as guerras são eventos catastróficos geradores de tensões, que, por sua vez, estimulam a criação de narrativas. Tais tensões, muito menos, estão longe da sociedade em que vivemos atualmente. É o que mostra a goiana Suzane de Alencar Vieira em seu livro “Césio-137, o drama azul: irradiação em narrativas” — lançado na última semana, em Goiânia. O livro é fruto da dissertação de mestrado defendida por Suzane na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2010, cujo objetivo principal foi entender porque o evento radiológico do césio-137 provoca ou incita a produção de narrativas desde 1987, ano do acidente. O dia 13 de setembro de 1987 é marcado pelos jornais da época como o ponto inicial do acidente. Naquela data, a peça radiológica teria sido retirada do Instituto Goiano de Radiologia (IGR), então localizado onde hoje se encontra o Centro de Convenções de Goiânia, entre as avenidas Paranaíba e Tocantins. À época, o instituto estava abandonado e acabou despertando a curiosidade de dois moradores do Bairro Popular, adjacente ao prédio em ruínas: Roberto Santos Alves e Wagner Motta Pereira. Temporariamente sem emprego, os dois encontraram, dentro do prédio abandonado, um aparelho radiológico contendo uma cápsula de césio-137, um elemento químico altamente tóxico. Roberto e Wagner viram naquela parafernália uma oportunidade de fazer dinheiro e levaram o aparelho para a casa do primeiro na Rua 57, onde romperam o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio que isolava as partículas radioativas do contato com o ambiente. Feito o serviço, venderam tudo para Devair Alves Ferreira, então dono de um ferro-velho na Rua 26-A, no Setor Aeroporto. “Nas mãos de Devair”, narra Suzane, “a cápsula revelou um brilho azul fascinante em uma noite de setembro. Entusiasmado com sua descoberta, Devair divulgou na vizinhança o espetáculo da luz azul e distribuiu entre parentes, amigos e vizinhos alguns fragmentos do pó desprendidos do interior da cápsula. O césio-137, libertado da cápsula, passaria a circular silenciosamente pela vizinhança do Bairro Popular, Setor Aeroporto e Setor Norte Ferroviário, bairros da região central de Goiânia.” O elemento se espalhou entre os dias 13 e 29 de setembro de 1987, data em que Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, levou a cápsula à sede da Vigilância Sanitária por desconfiar de seu efeito destrutivo. Assim, somente a partir do dia 1º de outubro, o acidente começou a ser divulgado, gerando transtorno, perturbação e o início da composição progressiva de um drama que, segundo Suzane, foi vivido não apenas pelas vítimas, mas por todos os goianienses, sobretudo com as notícias das primeiras mortes. No dia 23 de outubro morreram Maria Gabriela — que levou a cápsula à Vigilância Sanitária e permitiu que o acidente fosse identificado — e Leide das Neves Ferreira, a menina que se tornou símbolo da catástrofe radiológica de Goiânia. No dia seguinte, dia do aniversário de Goiânia, o então prefeito Joaquim Roriz e o governador Henrique Santillo anunciaram, em nota solene, que a cidade estava em luto oficial, cancelando todas as programações comemorativas da data. O luto só terminou no dia 26 de outubro, data do enterro das duas vítimas. Essa data adquire importância ímpar na narrativa de Suzane, pois demonstra, mais do que todas as outras, que o drama é central na dinâmica do acidente radiológico, visto que, não apenas estende seus limites, “modulando sua intensidade e atualizando-o a cada nova narrativa” (p. 36), como identifica que os sentimentos, as relações e os lugares foram violentamente atingidos. Isso ocorre porque o enterro simboliza o passo inicial dos eventos que se dariam a seguir, em que pessoas foram arrancadas de suas casas, “classificadas e isoladas, os lugares destruídos e todo patrimônio familiar transformado em lixo radioativo” (p. 58).Enterro das primeiras vítimas se tornou símbolo dramático do acidente goianiense
[caption id="attachment_17710" align="alignleft" width="620"] Funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) protegidos por roupas especiais durante os trabalhos. Estima-se que aproximadamente 700 pessoas da CNEN trabalharam em Goiânia, no ano de 1987[/caption]
A escolha do dia 26 de outubro de 1987 como ponto chave no livro se dá pelo fato de mostrar o enterro das duas primeiras vítimas de um acidente nuclear que se imaginava distante da realidade de Goiânia. Relembrou-se, na data, o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, considerado um dos maiores da história e que havia ocorrido um ano antes. Além disso, a autora pontua (veja entrevista) que as duas mulheres atribuem ao evento uma carga simbólica muito grande, uma vez que, geralmente, as histórias são narradas do ponto de vista masculino.
Como a data do sepultamento de Maria Gabriela e Leide das Neves Ferreira tem uma importância singular no livro de Suzane de Alencar, deixaremos que a própria autora narre os acontecimentos do dia:
“No Cemitério Parque, onde seriam enterradas as vítimas, os técnicos faziam as últimas avaliações de segurança nas covas. Testavam a espessura da concretagem e instalavam os cordões de isolamentos. Após o anúncio sobre o pouso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no aeroporto Santa Genoveva, trazendo do Rio de Janeiro os caixões de Maria Gabriela e Leide das Neves, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros iniciaram a intricada tarefa de transportar em segurança os pesados caixões de chumbo até o cemitério.
“Uma equipe do corpo de bombeiros escoltava os caixões em carros blindados, enquanto uma multidão enfurecida se aglomerava na porta do cemitério para impedir que o sepultamento se realizasse. A vizinhança do Setor Urias Magalhães, onde se localizava o Cemitério Parque, temia que a energia radioativa do césio-137 se instalasse tão próximo aos seus quintais. Dirigentes da associação de moradores e um vereador [José Nelto (PMDB)] inflamavam a revolta. O cordão de isolamento era cerceado por um agitado e intimidador cordão humano. Os jornalistas se avolumavam no meio daquela tensa agitação popular. Pelo rádio das viaturas, policiais pediam reforço ao centro de operações da Polícia Militar.
“Quando o caminhão blindado assomou na rua do cemitério, um motim ruidoso começou o ataque lançando palavras de rechaço e protesto, que evoluíram para insultos. O caminhão ultrapassou o cordão de isolamento, venceu a resistência da multidão e seguiu em direção às duas covas. Pedras, torrões de barro, nacos de paralelepípedo, pedaços de cruzes eram atirados com fúria contra todo o aparato de veículos blindados e guindastes. Sob uma chuva de pedregulhos e estilhaços, os técnicos da CNEN [Comissão Nacional de Energia Nuclear] iniciavam a complicada operação de retirada dos caixões de chumbo que pesavam toneladas. Os poucos parentes das vítimas se escondiam atônitos na confusão para não se tornarem novos alvos da ira popular. A artilharia de pedras não parou nem mesmo quando os caixões desceram às sepulturas com a ajuda de guindastes. Os ruídos pavorosos daquela revolta tornaram inaudíveis as palavras do padre que tentava coordenar a tensa cerimônia de sepultamento. Ao invés do descanso do barro, da terra, os mortos se refugiavam no abrigo do chumbo e do concreto. O retorno cristão ao pó não lhes seria possível”.
Funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) protegidos por roupas especiais durante os trabalhos. Estima-se que aproximadamente 700 pessoas da CNEN trabalharam em Goiânia, no ano de 1987[/caption]
A escolha do dia 26 de outubro de 1987 como ponto chave no livro se dá pelo fato de mostrar o enterro das duas primeiras vítimas de um acidente nuclear que se imaginava distante da realidade de Goiânia. Relembrou-se, na data, o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, considerado um dos maiores da história e que havia ocorrido um ano antes. Além disso, a autora pontua (veja entrevista) que as duas mulheres atribuem ao evento uma carga simbólica muito grande, uma vez que, geralmente, as histórias são narradas do ponto de vista masculino.
Como a data do sepultamento de Maria Gabriela e Leide das Neves Ferreira tem uma importância singular no livro de Suzane de Alencar, deixaremos que a própria autora narre os acontecimentos do dia:
“No Cemitério Parque, onde seriam enterradas as vítimas, os técnicos faziam as últimas avaliações de segurança nas covas. Testavam a espessura da concretagem e instalavam os cordões de isolamentos. Após o anúncio sobre o pouso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no aeroporto Santa Genoveva, trazendo do Rio de Janeiro os caixões de Maria Gabriela e Leide das Neves, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros iniciaram a intricada tarefa de transportar em segurança os pesados caixões de chumbo até o cemitério.
“Uma equipe do corpo de bombeiros escoltava os caixões em carros blindados, enquanto uma multidão enfurecida se aglomerava na porta do cemitério para impedir que o sepultamento se realizasse. A vizinhança do Setor Urias Magalhães, onde se localizava o Cemitério Parque, temia que a energia radioativa do césio-137 se instalasse tão próximo aos seus quintais. Dirigentes da associação de moradores e um vereador [José Nelto (PMDB)] inflamavam a revolta. O cordão de isolamento era cerceado por um agitado e intimidador cordão humano. Os jornalistas se avolumavam no meio daquela tensa agitação popular. Pelo rádio das viaturas, policiais pediam reforço ao centro de operações da Polícia Militar.
“Quando o caminhão blindado assomou na rua do cemitério, um motim ruidoso começou o ataque lançando palavras de rechaço e protesto, que evoluíram para insultos. O caminhão ultrapassou o cordão de isolamento, venceu a resistência da multidão e seguiu em direção às duas covas. Pedras, torrões de barro, nacos de paralelepípedo, pedaços de cruzes eram atirados com fúria contra todo o aparato de veículos blindados e guindastes. Sob uma chuva de pedregulhos e estilhaços, os técnicos da CNEN [Comissão Nacional de Energia Nuclear] iniciavam a complicada operação de retirada dos caixões de chumbo que pesavam toneladas. Os poucos parentes das vítimas se escondiam atônitos na confusão para não se tornarem novos alvos da ira popular. A artilharia de pedras não parou nem mesmo quando os caixões desceram às sepulturas com a ajuda de guindastes. Os ruídos pavorosos daquela revolta tornaram inaudíveis as palavras do padre que tentava coordenar a tensa cerimônia de sepultamento. Ao invés do descanso do barro, da terra, os mortos se refugiavam no abrigo do chumbo e do concreto. O retorno cristão ao pó não lhes seria possível”.
Os marcos simbólicos: Leide das Neves
[caption id="attachment_17712" align="alignleft" width="350"] Uma das primeiras vítimas, Leide das Neves morreu aos seis anos de idade, após ingerir um pouco de césio-137 e se tornou o símbolo do acidente radiológico de Goiânia[/caption]
Na medida em que as histórias vão sendo produzidas e recontadas ao longo dos anos, o modelo dramático vai ganhando mais solidez e os limites do evento vão sendo diluídos e alongados. Ao mesmo tempo, marcos simbólicos sobre o acidente vão sendo fixados e acabam tornando o modelo dramático mais consolidado. O principal símbolo dos acontecimentos do césio-137 é, sem sombra de dúvidas, Leide das Neves Ferreira, que, “enquanto símbolo, Leide das Neves, que concentra as referências de sua parentela, expande seu poder referencial, englobando a comunidade de vítimas e, finalmente, simbolizando o evento radiológico como um todo.”
A menina Leide adquiriu uma grande importância à medida que sua história foi sendo revelada. Na narração de Suzane de Alencar Vieira é possível identificar a força simbólica da contaminação da criança:
“Em outra rua contaminada, chamada Rua 6, no Setor Norte-Ferroviário, havia uma intensa agitação de técnicos no lote de Ivo Alves Ferreira, um dos irmãos de Devair, que também recebera a dádiva das pedras azuis. O trabalho de demolição precisava ser iniciado com urgência e os técnicos se adiantavam na avaliação. A casa apresentava aparência absolutamente trivial: a mesa do café ainda estava posta com cinco xícaras, cinco lugares, para Ivo, para sua esposa Lourdes, para os três filhos Lucélia, Lucimar e Leide. Mas os farejadores Geiger [aparelhos usados para medir o nível de radiação] percebiam uma mesa extremamente contaminada, sobretudo, no lugar reservado à filha caçula. Ali, Leide teria ingerido seu jantar com as mãos contaminadas depois de brincar com as luzinhas radioativas que seu pai havia trazido em uma noite de setembro. O cintilômetro havia disparado em um ruído estridente ao se aproximar do corpo da menina, na primeira visita do físico Walter Mendes nos últimos dias de setembro, após a ilusão das pedras brilhantes. A partir desses aparelhos, o césio tomava forma e realidade; poderia, então, ser detectado.
“Os técnicos observavam com assombro ininteligível o berço da menina que ainda ardia sobre algumas centelhas radioativas e precisava de um tratamento técnico especial para que a radiação ali concentrada em altos níveis não contaminasse ainda mais as outras partes da casa. As pedras radiativas conteriam um poder de anti-midas transformando tudo em lixo e ruínas.
“Todos queriam ver a casa da menina Leide das Neves e os jornalistas se antecipavam na cobertura da operação demolição. Algo precisava ser salvo daquele conjunto condenado a virar pó e entulho radioativo. Alguma lembrança de Leide sobreviveria aos escombros? Sob os apelos comovidos da mãe da menina, Dona Lourdes, corroborados pelo jornalista Weber Borges, os técnicos salvariam um foto de Leide retirada do álbum da família ‘banhado de Césio’. Essa foto contaminada, mais tarde, seria reproduzida como o símbolo do acidente e das lutas das vítimas por seus direitos”.
Uma das primeiras vítimas, Leide das Neves morreu aos seis anos de idade, após ingerir um pouco de césio-137 e se tornou o símbolo do acidente radiológico de Goiânia[/caption]
Na medida em que as histórias vão sendo produzidas e recontadas ao longo dos anos, o modelo dramático vai ganhando mais solidez e os limites do evento vão sendo diluídos e alongados. Ao mesmo tempo, marcos simbólicos sobre o acidente vão sendo fixados e acabam tornando o modelo dramático mais consolidado. O principal símbolo dos acontecimentos do césio-137 é, sem sombra de dúvidas, Leide das Neves Ferreira, que, “enquanto símbolo, Leide das Neves, que concentra as referências de sua parentela, expande seu poder referencial, englobando a comunidade de vítimas e, finalmente, simbolizando o evento radiológico como um todo.”
A menina Leide adquiriu uma grande importância à medida que sua história foi sendo revelada. Na narração de Suzane de Alencar Vieira é possível identificar a força simbólica da contaminação da criança:
“Em outra rua contaminada, chamada Rua 6, no Setor Norte-Ferroviário, havia uma intensa agitação de técnicos no lote de Ivo Alves Ferreira, um dos irmãos de Devair, que também recebera a dádiva das pedras azuis. O trabalho de demolição precisava ser iniciado com urgência e os técnicos se adiantavam na avaliação. A casa apresentava aparência absolutamente trivial: a mesa do café ainda estava posta com cinco xícaras, cinco lugares, para Ivo, para sua esposa Lourdes, para os três filhos Lucélia, Lucimar e Leide. Mas os farejadores Geiger [aparelhos usados para medir o nível de radiação] percebiam uma mesa extremamente contaminada, sobretudo, no lugar reservado à filha caçula. Ali, Leide teria ingerido seu jantar com as mãos contaminadas depois de brincar com as luzinhas radioativas que seu pai havia trazido em uma noite de setembro. O cintilômetro havia disparado em um ruído estridente ao se aproximar do corpo da menina, na primeira visita do físico Walter Mendes nos últimos dias de setembro, após a ilusão das pedras brilhantes. A partir desses aparelhos, o césio tomava forma e realidade; poderia, então, ser detectado.
“Os técnicos observavam com assombro ininteligível o berço da menina que ainda ardia sobre algumas centelhas radioativas e precisava de um tratamento técnico especial para que a radiação ali concentrada em altos níveis não contaminasse ainda mais as outras partes da casa. As pedras radiativas conteriam um poder de anti-midas transformando tudo em lixo e ruínas.
“Todos queriam ver a casa da menina Leide das Neves e os jornalistas se antecipavam na cobertura da operação demolição. Algo precisava ser salvo daquele conjunto condenado a virar pó e entulho radioativo. Alguma lembrança de Leide sobreviveria aos escombros? Sob os apelos comovidos da mãe da menina, Dona Lourdes, corroborados pelo jornalista Weber Borges, os técnicos salvariam um foto de Leide retirada do álbum da família ‘banhado de Césio’. Essa foto contaminada, mais tarde, seria reproduzida como o símbolo do acidente e das lutas das vítimas por seus direitos”.
A narrativa como processo contagioso
[caption id="attachment_17716" align="alignleft" width="350"] O livro de Suzane de Alencar foi lançado no fim da semana passada, em Goiânia[/caption]
Os terceiro e quarto capítulos do livro de Suzane de Alencar Vieira podem ser considerados como os que têm o núcleo do pensamento da autora, pois analisam o drama em sua aplicação no evento e na temporalidade que permite que as narrativas dramáticas continuem sendo enunciadas.
No início do terceiro capítulo, chamado “A comunidade de sofrimento”, a antropóloga diz que o evento radiológico, convertido em drama, é capaz de afetar e envolver outras pessoas além das vítimas, visto que a profusão de narrativas que surgem constrói um campo público e coletivo concebido como uma “comunidade de sofrimento” na qual as experiências são comunicadas e compartilhadas. Nesse processo, segundo a autora, a narrativa organiza uma experiência de sofrimento e vincula o sujeito do relato a essa comunidade.
No caso do acidente radiológico de Goiânia, as pessoas são afetadas ao assumir um lugar no drama, que tem como uma de suas portas de entrada a disseminação de narrativas, isto é, histórias contadas sobre o acidente. E esse drama foi tensionado pelas práticas de controle sobre a produção e circulação das narrativas, exercido na época — 1987 — pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), cujo trabalho agiu no sentido de fazer com que o vocabulário técnico predominasse sobre as manifestações emotivas que arrebatavam um público amplo, difundindo o medo e a angústia da contaminação radiológica.
Assim, o “contágio” surge como uma forma metafórica pela qual se expressa a difusão dramática do evento e o modo como os relatos afetam as pessoas. Ou seja, como o césio-137, as narrativas sobre o acidente também irradiavam as pessoas. E continuam irradiando, pois “a metáfora da contaminação constitui o modo emocional através do qual o sofrimento é traduzido” (p. 117), logo, é possível dizer que as narrativas acerca do acidente do césio-137, ao provocarem uma experiência do drama, ampliam essa experiência de sofrimento fazendo com que ela se torne comunicável.
Dessa forma, devido a esse caráter contagiante das narrativas dramáticas, o leitor pode ser também absorvido pelo drama, que contagia quem não participou diretamente dos fatos em 1987 — caso da própria Suzane —, mas também reabilita o sofrimento das vítimas, promovendo o engajamento emocional dos sujeitos nesse processo. Parte daí, por exemplo, a criação de entidades constituídas para tratar das consequências do acidente, como a Associação de Vítimas do Césio-137 e a Superintendência Leide das Neves (Suleide). Ou seja, provoca certo engajamento político.
O livro de Suzane de Alencar foi lançado no fim da semana passada, em Goiânia[/caption]
Os terceiro e quarto capítulos do livro de Suzane de Alencar Vieira podem ser considerados como os que têm o núcleo do pensamento da autora, pois analisam o drama em sua aplicação no evento e na temporalidade que permite que as narrativas dramáticas continuem sendo enunciadas.
No início do terceiro capítulo, chamado “A comunidade de sofrimento”, a antropóloga diz que o evento radiológico, convertido em drama, é capaz de afetar e envolver outras pessoas além das vítimas, visto que a profusão de narrativas que surgem constrói um campo público e coletivo concebido como uma “comunidade de sofrimento” na qual as experiências são comunicadas e compartilhadas. Nesse processo, segundo a autora, a narrativa organiza uma experiência de sofrimento e vincula o sujeito do relato a essa comunidade.
No caso do acidente radiológico de Goiânia, as pessoas são afetadas ao assumir um lugar no drama, que tem como uma de suas portas de entrada a disseminação de narrativas, isto é, histórias contadas sobre o acidente. E esse drama foi tensionado pelas práticas de controle sobre a produção e circulação das narrativas, exercido na época — 1987 — pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), cujo trabalho agiu no sentido de fazer com que o vocabulário técnico predominasse sobre as manifestações emotivas que arrebatavam um público amplo, difundindo o medo e a angústia da contaminação radiológica.
Assim, o “contágio” surge como uma forma metafórica pela qual se expressa a difusão dramática do evento e o modo como os relatos afetam as pessoas. Ou seja, como o césio-137, as narrativas sobre o acidente também irradiavam as pessoas. E continuam irradiando, pois “a metáfora da contaminação constitui o modo emocional através do qual o sofrimento é traduzido” (p. 117), logo, é possível dizer que as narrativas acerca do acidente do césio-137, ao provocarem uma experiência do drama, ampliam essa experiência de sofrimento fazendo com que ela se torne comunicável.
Dessa forma, devido a esse caráter contagiante das narrativas dramáticas, o leitor pode ser também absorvido pelo drama, que contagia quem não participou diretamente dos fatos em 1987 — caso da própria Suzane —, mas também reabilita o sofrimento das vítimas, promovendo o engajamento emocional dos sujeitos nesse processo. Parte daí, por exemplo, a criação de entidades constituídas para tratar das consequências do acidente, como a Associação de Vítimas do Césio-137 e a Superintendência Leide das Neves (Suleide). Ou seja, provoca certo engajamento político.
“O acidente com o césio-137 nos faz lidar com a própria vulnerabilidade do ser humano”
[caption id="attachment_17717" align="alignleft" width="350"] Antropóloga Suzane de Alencar Vieira: “A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo é lento e dói. É uma barreira que está sendo rompida”[/caption]
A jovem antropóloga Suzane de Alencar Vieira não é apenas uma pesquisadora dedicada e uma escritora perspicaz. Sentada em vota de uma mesa de vidro e base de madeira, disposta no centro do hall de entrada de seu apartamento, no Setor Pedro Ludovico, a autora conversou longamente com a reportagem.
Suzane conta que, quando partiu para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sua intenção não era pesquisar acerca do acidente radiológico de Goiânia. Ela atribui a isso o fato de que, goianiense que é, nunca havia prestado a devida atenção ao evento. “Somente quando vi o caso com um olhar estrangeiro, percebi a riqueza que poderia ser explorada”, diz.
Suzane terminou seu mestrado em 2010 e, desde então, é doutoranda no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo objeto ainda é, de certo modo, a atividade nuclear no Brasil, mas agora tendo como centro as políticas da natureza no alto sertão baiano. E nesse novo projeto, ela continua exercitando aquilo que colocou em prática quando da pesquisa sobre o evento de Goiânia.
Afinal, a antropologia é um tipo de disciplina que possibilita uma experiência de conhecimento a partir de uma vivência empírica, subjetiva, a partir de determinado objeto de pesquisa. Suzane conta que, à época do acidente, morava em Goiânia, mas tinha apenas um ano, logo, não vivenciou o drama que relata em seu livro. Assim, foi necessário que tentasse tornar tudo o que escutava, via e lia sobre o acidente do césio-137 em uma experiência etnográfica.
O que isso significa? “Tomar isso como uma experiência real, pois isso te afeta. E a maneira como isso te afeta que é tomado como um procedimento intelectual de conhecimento. Eu me deixei afetar da maneira como o evento chegava até mim, que foi através de diversas narrativas: livros, documentários, filmes, etc. E eu quis problematizar o porquê de esse evento inspirar tanta produção narrativa e ficcional. E não era uma produção narrativa apenas nas décadas de 1980 e 1990, mas algo que se prolongava e que havia também uma produção discursiva até o presente”, relata Suzane.
Dessa forma, a necessidade de recorrer a narrativas não se deu apenas devido a não presença de Suzane à época dos acontecimentos, mas também porque elas são parte do evento, tendo funcionado como uma ajuda ao prolongamento do próprio evento. “Essas narrativas não são representativas, mas são partes constitutivas do próprio evento na medida em que se descobriam novas vítimas”, que, por sua vez, passaram a não apenas lutar por seus direitos como também a contar novas histórias sobre o evento.
Isso mostra, segundo Suzane, que ainda existe uma grande margem de indeterminação em relação ao acidente com o césio-137. Portanto, a autora ressalta que o acidente não pode ser sedimentado no passado, pois “nem tudo foi resolvido”. Além disso, o próprio efeito da contaminação radiológica ainda está presente, pois vemos a presença daqueles chamados de os “filhos e os netos do césio”, isto é, a descendência dos afetados pelo acidente radiológico.
Os desafios da escrita
[caption id="attachment_17719" align="alignleft" width="620"]
Antropóloga Suzane de Alencar Vieira: “A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo é lento e dói. É uma barreira que está sendo rompida”[/caption]
A jovem antropóloga Suzane de Alencar Vieira não é apenas uma pesquisadora dedicada e uma escritora perspicaz. Sentada em vota de uma mesa de vidro e base de madeira, disposta no centro do hall de entrada de seu apartamento, no Setor Pedro Ludovico, a autora conversou longamente com a reportagem.
Suzane conta que, quando partiu para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sua intenção não era pesquisar acerca do acidente radiológico de Goiânia. Ela atribui a isso o fato de que, goianiense que é, nunca havia prestado a devida atenção ao evento. “Somente quando vi o caso com um olhar estrangeiro, percebi a riqueza que poderia ser explorada”, diz.
Suzane terminou seu mestrado em 2010 e, desde então, é doutoranda no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo objeto ainda é, de certo modo, a atividade nuclear no Brasil, mas agora tendo como centro as políticas da natureza no alto sertão baiano. E nesse novo projeto, ela continua exercitando aquilo que colocou em prática quando da pesquisa sobre o evento de Goiânia.
Afinal, a antropologia é um tipo de disciplina que possibilita uma experiência de conhecimento a partir de uma vivência empírica, subjetiva, a partir de determinado objeto de pesquisa. Suzane conta que, à época do acidente, morava em Goiânia, mas tinha apenas um ano, logo, não vivenciou o drama que relata em seu livro. Assim, foi necessário que tentasse tornar tudo o que escutava, via e lia sobre o acidente do césio-137 em uma experiência etnográfica.
O que isso significa? “Tomar isso como uma experiência real, pois isso te afeta. E a maneira como isso te afeta que é tomado como um procedimento intelectual de conhecimento. Eu me deixei afetar da maneira como o evento chegava até mim, que foi através de diversas narrativas: livros, documentários, filmes, etc. E eu quis problematizar o porquê de esse evento inspirar tanta produção narrativa e ficcional. E não era uma produção narrativa apenas nas décadas de 1980 e 1990, mas algo que se prolongava e que havia também uma produção discursiva até o presente”, relata Suzane.
Dessa forma, a necessidade de recorrer a narrativas não se deu apenas devido a não presença de Suzane à época dos acontecimentos, mas também porque elas são parte do evento, tendo funcionado como uma ajuda ao prolongamento do próprio evento. “Essas narrativas não são representativas, mas são partes constitutivas do próprio evento na medida em que se descobriam novas vítimas”, que, por sua vez, passaram a não apenas lutar por seus direitos como também a contar novas histórias sobre o evento.
Isso mostra, segundo Suzane, que ainda existe uma grande margem de indeterminação em relação ao acidente com o césio-137. Portanto, a autora ressalta que o acidente não pode ser sedimentado no passado, pois “nem tudo foi resolvido”. Além disso, o próprio efeito da contaminação radiológica ainda está presente, pois vemos a presença daqueles chamados de os “filhos e os netos do césio”, isto é, a descendência dos afetados pelo acidente radiológico.
Os desafios da escrita
[caption id="attachment_17719" align="alignleft" width="620"] Suzane de Alencar: “Foi muito difícil escrever. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica.”[/caption]
Questionada sobre os desafios da pesquisa e, consequentemente, da publicação em forma de livro, Suzane afirma que encontrou certa dificuldade em escrever. “Preciso ser sincera. Foi muito difícil escrever sobre o evento”. A dificuldade foi encontrada na diferença das escritas acadêmica, mais burocrática, e literária, cuja abertura para uma apresentação escrita voltada para o próprio tema da pesquisa — o drama.
A autora analisa as convenções de escrita da seguinte maneira: “Enquanto aquilo que chamo de escrita dramática tenta mostrar a desagregação, a ruptura, isto é, aquilo que não é objetivo, dando também sugestões de aspectos não registrados do evento, a escrita técnico-científica está ligada ao bloqueio das tentativas dessas narrativas contagiarem, emocionarem as pessoas. Então, a forma de escrita também foi uma opção acadêmica na tentativa de que essa convenção etnográfica transformasse, inclusive, a convenção da escrita. Ou seja, trabalhei a escrita como um laboratório”, conta ela.
Em sua apresentação, logo após narrar um parte dos acontecimentos, a sra. diz: “O drama narrado na apresentação constitui apenas uma das versões possíveis sobre o evento radiológico do Césio-137”. É certo que o discurso é mutável e se desenvolveu ao longo desses quase trinta anos. Como foi lidar com essas questões durante sua pesquisa?
Foi muito difícil escrever sobre o evento. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica. E ela é uma cilada, na verdade, pois parte do princípio de que existe alguém que tenha uma verdade única e que é capaz de enunciá-la. E quem na nossa sociedade com autoridade para fazer algo assim? O discurso que se faz em nome da ciência. Se eu encarnasse esse discurso, eu poderia tentar fazer uma tradução eminentemente objetiva desses fatos. Porém, não existe uma versão oficial, logo, qualquer narrativa é válida. E foi isso que me encorajou a construir minha própria narrativa. E o interessante é que as histórias sobre o acontecimento com o césio alimentaram a criação ficcional de pessoas que estão em São Paulo, Manaus, ou seja, muitos distantes de Goiás, mas que foram impactadas de alguma maneira. Outra dificuldade foi esbarrar em questões políticas, sobretudo no que diz respeito a culpados e vítimas. Visando isso, eu tentei fazer uma narrativa que fosse uma rede extensa, sem cortar histórias ou narrativas, mas que colocasse todos os agentes cruciais dessa trama que foi sendo montada em torno do acidente.
A sra. diz no livro que sentiu, ao longo da pesquisa, uma mudança nos discursos das pessoas que entrevistou. Por que existem diferenças nos discursos das vítimas? Quais são as influências que geram essa mudança? A temporalidade é um deles?
A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo narrativo é lento e dói, porque a experiência excede e não limita a nossa capacidade de traduzi-la e torná-la inteligível. Ou seja, entrevistar essas pessoas é pedir para que eles relembrem fatos que as machucaram. É como se elas tivessem uma grande barreira que a narrativa tenta romper. E isso dói. Alguns já conseguem falar sobre o assunto por ter um discurso pronto e superado. Outros não. À época do acidente, as pessoas conseguiam definir um fluxo narrativo por meio dos jornais, que tiveram um papel fundamental, pois tentavam garantir esse fluxo. Hoje, quem viveu aquela situação viveu o que chamamos de evento traumático, logo, falar do césio-137 é um processo muito doloroso, pois é como se ele representasse um ponto de bloqueio na vida das pessoas, cuja história de vida é fluente até o momento do evento. Dali em diante, há um bloqueio que impede a narrativa de fluir oralmente. Então, são necessários outros meios. Alguns, por exemplo, expressam isso por meio de fotos e álbuns de família.
Existe uma dialética ou uma síntese entre narrativa e temporalidade?
O drama contém mais elementos além do tempo, pois há também a configuração espacial e o fator estrutural, de oferecer símbolos para estruturar essa experiência temporal. Nesse sentido a relação é sintética. Mas também há uma tensão dialética, porque o tempo sempre desafia a narrativa, que está sempre defasada em relação ao tempo. A experiência é sempre excessiva.
As narrativas analisadas pela sra. são, inevitavelmente, muito carregadas de tensões. Baseado nisso, como a sra. vê o drama no qual o “acidente do césio” se enquadra e como isso inferiu na sua pesquisa?
Uso o conceito de drama social do antropólogo Victor Turner, inspirado, de certa forma, na questão do drama literário para traduzir conflitos microssociais em aldeias na África. Esse drama passa por várias fases, sendo a principal delas, nessa configuração dramática, a ruptura, que é também uma oportunidade para criação simbólica, visto que é um evento novo que desestabiliza o convencional e obriga a uma criação simbólica. Por isso que, como um drama, o evento do césio inspira tanto a criação ficcional, que serve para significar essa grande ruptura e, às vezes, dar sentido em um processo que é também de ritual, de reconciliação. E nessa questão de ruptura é preciso dizer também que existiu um medo muito forte por parte das pessoas na época, pois havia acabado de acontecer o evento de Chernobyl. Por isso, escolhi o evento do enterro das primeiras vítimas. Pela incidência das narrativas, esse parece ser o evento com maior grau de ruptura ao passo em que as pessoas percebem que energia nuclear mata, que a contaminação é real. Foi um choque de realidade que desencadeou uma reação muito forte nas pessoas. Os protestos no dia do sepultamento eram a expressão do medo e da impotência diante de um acontecimento descontrolado, que nem mesmo os técnicos tinham pleno controle. Somado a isso tem a morte da Leide das Neves, uma criança que sofreu muita violência, primeiro a da contaminação e depois a da hostilização por parte da população, que estava com medo. E isso criou um mártir, a figura da criança-santa.
Em sua tese de doutorado, o professor Eliézer Oliveira afirma que a “catástrofe do césio” alterou a identidade goiana, substituindo uma visão de modernidade pela da sustentabilidade ecológica. A sra. concorda com essa visão?
Acredito que o acidente com o césio-137 ultrapassa as fronteiras regionais, pois nos faz lidar com nossa própria vulnerabilidade. É algo que poderia acontecer em qualquer lugar. A energia nuclear tem uma gênese catastrófica, visto que o processo de estudo dessa energia, acabou contaminando a própria pioneira na pesquisa, Marie Curie. Por isso, tentei dar essa visão para o acontecimento do césio. No entanto, quando se entra em contato com os discursos da época, o impacto nessa questão da identidade goiana foi muito grande, carregado de estigmatização. E esse impacto sobre um discurso de modernização pode ser percebido pela própria maneira de tradução daquela época. Falava-se muito sobre “uma ciranda nuclear no quintal do subdesenvolvimento”, como se o fato de Goiás ter uma visão subalterna nas benesses da modernidade tivesse contribuído para que o evento ocorresse. Nesse contexto, Fukushima [o acidente nuclear na cidade japonesa ocorrido em 2011] nos mostrou que isso não é bem assim. Dessa forma, houve um impacto sobre a questão da identidade goiana, mas também houve um impacto na nossa concepção humana associada a uma tecnologia potencialmente destrutiva.
Suzane de Alencar: “Foi muito difícil escrever. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica.”[/caption]
Questionada sobre os desafios da pesquisa e, consequentemente, da publicação em forma de livro, Suzane afirma que encontrou certa dificuldade em escrever. “Preciso ser sincera. Foi muito difícil escrever sobre o evento”. A dificuldade foi encontrada na diferença das escritas acadêmica, mais burocrática, e literária, cuja abertura para uma apresentação escrita voltada para o próprio tema da pesquisa — o drama.
A autora analisa as convenções de escrita da seguinte maneira: “Enquanto aquilo que chamo de escrita dramática tenta mostrar a desagregação, a ruptura, isto é, aquilo que não é objetivo, dando também sugestões de aspectos não registrados do evento, a escrita técnico-científica está ligada ao bloqueio das tentativas dessas narrativas contagiarem, emocionarem as pessoas. Então, a forma de escrita também foi uma opção acadêmica na tentativa de que essa convenção etnográfica transformasse, inclusive, a convenção da escrita. Ou seja, trabalhei a escrita como um laboratório”, conta ela.
Em sua apresentação, logo após narrar um parte dos acontecimentos, a sra. diz: “O drama narrado na apresentação constitui apenas uma das versões possíveis sobre o evento radiológico do Césio-137”. É certo que o discurso é mutável e se desenvolveu ao longo desses quase trinta anos. Como foi lidar com essas questões durante sua pesquisa?
Foi muito difícil escrever sobre o evento. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica. E ela é uma cilada, na verdade, pois parte do princípio de que existe alguém que tenha uma verdade única e que é capaz de enunciá-la. E quem na nossa sociedade com autoridade para fazer algo assim? O discurso que se faz em nome da ciência. Se eu encarnasse esse discurso, eu poderia tentar fazer uma tradução eminentemente objetiva desses fatos. Porém, não existe uma versão oficial, logo, qualquer narrativa é válida. E foi isso que me encorajou a construir minha própria narrativa. E o interessante é que as histórias sobre o acontecimento com o césio alimentaram a criação ficcional de pessoas que estão em São Paulo, Manaus, ou seja, muitos distantes de Goiás, mas que foram impactadas de alguma maneira. Outra dificuldade foi esbarrar em questões políticas, sobretudo no que diz respeito a culpados e vítimas. Visando isso, eu tentei fazer uma narrativa que fosse uma rede extensa, sem cortar histórias ou narrativas, mas que colocasse todos os agentes cruciais dessa trama que foi sendo montada em torno do acidente.
A sra. diz no livro que sentiu, ao longo da pesquisa, uma mudança nos discursos das pessoas que entrevistou. Por que existem diferenças nos discursos das vítimas? Quais são as influências que geram essa mudança? A temporalidade é um deles?
A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo narrativo é lento e dói, porque a experiência excede e não limita a nossa capacidade de traduzi-la e torná-la inteligível. Ou seja, entrevistar essas pessoas é pedir para que eles relembrem fatos que as machucaram. É como se elas tivessem uma grande barreira que a narrativa tenta romper. E isso dói. Alguns já conseguem falar sobre o assunto por ter um discurso pronto e superado. Outros não. À época do acidente, as pessoas conseguiam definir um fluxo narrativo por meio dos jornais, que tiveram um papel fundamental, pois tentavam garantir esse fluxo. Hoje, quem viveu aquela situação viveu o que chamamos de evento traumático, logo, falar do césio-137 é um processo muito doloroso, pois é como se ele representasse um ponto de bloqueio na vida das pessoas, cuja história de vida é fluente até o momento do evento. Dali em diante, há um bloqueio que impede a narrativa de fluir oralmente. Então, são necessários outros meios. Alguns, por exemplo, expressam isso por meio de fotos e álbuns de família.
Existe uma dialética ou uma síntese entre narrativa e temporalidade?
O drama contém mais elementos além do tempo, pois há também a configuração espacial e o fator estrutural, de oferecer símbolos para estruturar essa experiência temporal. Nesse sentido a relação é sintética. Mas também há uma tensão dialética, porque o tempo sempre desafia a narrativa, que está sempre defasada em relação ao tempo. A experiência é sempre excessiva.
As narrativas analisadas pela sra. são, inevitavelmente, muito carregadas de tensões. Baseado nisso, como a sra. vê o drama no qual o “acidente do césio” se enquadra e como isso inferiu na sua pesquisa?
Uso o conceito de drama social do antropólogo Victor Turner, inspirado, de certa forma, na questão do drama literário para traduzir conflitos microssociais em aldeias na África. Esse drama passa por várias fases, sendo a principal delas, nessa configuração dramática, a ruptura, que é também uma oportunidade para criação simbólica, visto que é um evento novo que desestabiliza o convencional e obriga a uma criação simbólica. Por isso que, como um drama, o evento do césio inspira tanto a criação ficcional, que serve para significar essa grande ruptura e, às vezes, dar sentido em um processo que é também de ritual, de reconciliação. E nessa questão de ruptura é preciso dizer também que existiu um medo muito forte por parte das pessoas na época, pois havia acabado de acontecer o evento de Chernobyl. Por isso, escolhi o evento do enterro das primeiras vítimas. Pela incidência das narrativas, esse parece ser o evento com maior grau de ruptura ao passo em que as pessoas percebem que energia nuclear mata, que a contaminação é real. Foi um choque de realidade que desencadeou uma reação muito forte nas pessoas. Os protestos no dia do sepultamento eram a expressão do medo e da impotência diante de um acontecimento descontrolado, que nem mesmo os técnicos tinham pleno controle. Somado a isso tem a morte da Leide das Neves, uma criança que sofreu muita violência, primeiro a da contaminação e depois a da hostilização por parte da população, que estava com medo. E isso criou um mártir, a figura da criança-santa.
Em sua tese de doutorado, o professor Eliézer Oliveira afirma que a “catástrofe do césio” alterou a identidade goiana, substituindo uma visão de modernidade pela da sustentabilidade ecológica. A sra. concorda com essa visão?
Acredito que o acidente com o césio-137 ultrapassa as fronteiras regionais, pois nos faz lidar com nossa própria vulnerabilidade. É algo que poderia acontecer em qualquer lugar. A energia nuclear tem uma gênese catastrófica, visto que o processo de estudo dessa energia, acabou contaminando a própria pioneira na pesquisa, Marie Curie. Por isso, tentei dar essa visão para o acontecimento do césio. No entanto, quando se entra em contato com os discursos da época, o impacto nessa questão da identidade goiana foi muito grande, carregado de estigmatização. E esse impacto sobre um discurso de modernização pode ser percebido pela própria maneira de tradução daquela época. Falava-se muito sobre “uma ciranda nuclear no quintal do subdesenvolvimento”, como se o fato de Goiás ter uma visão subalterna nas benesses da modernidade tivesse contribuído para que o evento ocorresse. Nesse contexto, Fukushima [o acidente nuclear na cidade japonesa ocorrido em 2011] nos mostrou que isso não é bem assim. Dessa forma, houve um impacto sobre a questão da identidade goiana, mas também houve um impacto na nossa concepção humana associada a uma tecnologia potencialmente destrutiva.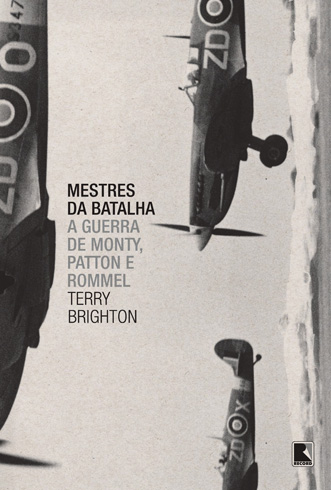
[caption id="attachment_17703" align="alignleft" width="300"] Livro revela que Montgomery dizia que Patton era “um chulo amante da guerra” e este dizia que aquele era um “inglesinho metido”[/caption]
Imagine um livro de história que ensina e, ao mesmo tempo, diverte. Estamos falando do ótimo “Mestres da Batalha — A Guerra de Monty, Patton e Rommel” (Record, 460 páginas, tradução de Vítor Paolozzi), de Terry Brighton. O autor se refere a Bernard Montgomery, comandante inglês, George Patton, comandante americano, e Erwin Rommel, comandante alemão. Eles foram decisivos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Mas o ego dos três era quase do tamanho das batalhas.
Monty, Patton e Rommel “eram arrogantes, ávidos por publicidade e apresentavam defeitos pessoais, porém contavam com uma genialidade para comandar homens e um entusiasmo para o combate sem paralelos”, anota Brighton.
Rommel era um gênio militar raro e, até se tornar “traidor”, era respeitado por Hitler. Sua fama logo extrapolou as fronteiras alemãs. “Tornou-se o único general alemão com renome na Grã-Bretanha e na América antes de a maioria sequer ter ouvido falar em Montgomery e Patton”, registra Brighton.
A guerra se deu entre potências, mas Brighton nota que também era “uma disputa bastante pessoal”.
Com uma prosa ágil, o historiador observa que, apesar de pequeno e arrogante — desdenhava até Winston Churchill —, Montgomery derrotou Rommel em El Alamein.
Patton “liderou as tropas americanas à sua primeira vitória no norte da África e comandou as forças dos EUA na invasão da Sicília. Após o Dia D”, o general “chefiou o irrompimento pelas linhas alemães na Normandia, o único comandante aliado a emular a blitzkrieg (guerra relâmpago) de Rommel”. Ele não tinha papa na língua: “Fuzilaria pessoalmente aquele filho da puta do Adolf Hitler”.
Rommel “repeliu os britânicos de volta para El Alamein, derrotou os americanos em Kasserine e ganhou o apelido de Wüstenfuchs (Raposa do Deserto) pelo notável brilhantismo de suas táticas de batalha”.
Montgomery e Patton respeitavem Rommel. “Monty mantinha um retrato do alemão no seu trailer de comando, enquanto Patton estudou o livro de Rommel sobre táticas.” Rommel admirava os rivais: “Montgomery jamais cometeu um erro estratégico sério... [e] no exército de Patton vimos o mais impressionante feito em guerra móvel”.
Mas Patton e Montgomery se detestavam. Patton, para o general inglês, era “um chulo amante da guerra”. Patton não ficava atrás e chamava Monty de “inglesinho metido” e frisava que podia “vencer esse peidinho a qualquer hora”.
Na Normandia, o avanço de Montgomery falhou e Patton não perdoou e disse que as tropas americanas “livrariam a cara do macaquinho”. O britânico exagerava e dizia que Churchill deveria retirar o “dedo gordo” de “suas” batalhas. Patton acreditava que, mais do que na guerra, o general Dwight D. Eisenhower estava de olho grande na Casa Branca.
Brighton sai do “muro” e admite que Patton era “o único comandante aliado a se equiparar a Rommel no seu próprio jogo”.
Apesar das picuinhas, Patton, Rommel e Monty (extremamente metódico) eram militares excepcionais e foram centrais no desfecho da guerra.
Livro revela que Montgomery dizia que Patton era “um chulo amante da guerra” e este dizia que aquele era um “inglesinho metido”[/caption]
Imagine um livro de história que ensina e, ao mesmo tempo, diverte. Estamos falando do ótimo “Mestres da Batalha — A Guerra de Monty, Patton e Rommel” (Record, 460 páginas, tradução de Vítor Paolozzi), de Terry Brighton. O autor se refere a Bernard Montgomery, comandante inglês, George Patton, comandante americano, e Erwin Rommel, comandante alemão. Eles foram decisivos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Mas o ego dos três era quase do tamanho das batalhas.
Monty, Patton e Rommel “eram arrogantes, ávidos por publicidade e apresentavam defeitos pessoais, porém contavam com uma genialidade para comandar homens e um entusiasmo para o combate sem paralelos”, anota Brighton.
Rommel era um gênio militar raro e, até se tornar “traidor”, era respeitado por Hitler. Sua fama logo extrapolou as fronteiras alemãs. “Tornou-se o único general alemão com renome na Grã-Bretanha e na América antes de a maioria sequer ter ouvido falar em Montgomery e Patton”, registra Brighton.
A guerra se deu entre potências, mas Brighton nota que também era “uma disputa bastante pessoal”.
Com uma prosa ágil, o historiador observa que, apesar de pequeno e arrogante — desdenhava até Winston Churchill —, Montgomery derrotou Rommel em El Alamein.
Patton “liderou as tropas americanas à sua primeira vitória no norte da África e comandou as forças dos EUA na invasão da Sicília. Após o Dia D”, o general “chefiou o irrompimento pelas linhas alemães na Normandia, o único comandante aliado a emular a blitzkrieg (guerra relâmpago) de Rommel”. Ele não tinha papa na língua: “Fuzilaria pessoalmente aquele filho da puta do Adolf Hitler”.
Rommel “repeliu os britânicos de volta para El Alamein, derrotou os americanos em Kasserine e ganhou o apelido de Wüstenfuchs (Raposa do Deserto) pelo notável brilhantismo de suas táticas de batalha”.
Montgomery e Patton respeitavem Rommel. “Monty mantinha um retrato do alemão no seu trailer de comando, enquanto Patton estudou o livro de Rommel sobre táticas.” Rommel admirava os rivais: “Montgomery jamais cometeu um erro estratégico sério... [e] no exército de Patton vimos o mais impressionante feito em guerra móvel”.
Mas Patton e Montgomery se detestavam. Patton, para o general inglês, era “um chulo amante da guerra”. Patton não ficava atrás e chamava Monty de “inglesinho metido” e frisava que podia “vencer esse peidinho a qualquer hora”.
Na Normandia, o avanço de Montgomery falhou e Patton não perdoou e disse que as tropas americanas “livrariam a cara do macaquinho”. O britânico exagerava e dizia que Churchill deveria retirar o “dedo gordo” de “suas” batalhas. Patton acreditava que, mais do que na guerra, o general Dwight D. Eisenhower estava de olho grande na Casa Branca.
Brighton sai do “muro” e admite que Patton era “o único comandante aliado a se equiparar a Rommel no seu próprio jogo”.
Apesar das picuinhas, Patton, Rommel e Monty (extremamente metódico) eram militares excepcionais e foram centrais no desfecho da guerra.

 A transgênero Padmini Prakash é a primeira transgênero a apresentar um telejornal na Índia. Os transgêneros são admitidos no país como terceiro sexo, depois de uma decisão da Corte Suprema. A TV Lotus pôs Prakash no ar e a recepção da população foi positiva. “Eles não olharam para o meu sexo, mas para o meu talento”, afirma a jornalista.
Prakash provavelmente é competente, por isso foi escolhida para apresentar o telejornal. Porém, no mundo do espetáculo, das sensações rápidas, é possível que a cúpula da televisão quis chamar a atenção do público. E conseguiu.
A transgênero Padmini Prakash é a primeira transgênero a apresentar um telejornal na Índia. Os transgêneros são admitidos no país como terceiro sexo, depois de uma decisão da Corte Suprema. A TV Lotus pôs Prakash no ar e a recepção da população foi positiva. “Eles não olharam para o meu sexo, mas para o meu talento”, afirma a jornalista.
Prakash provavelmente é competente, por isso foi escolhida para apresentar o telejornal. Porém, no mundo do espetáculo, das sensações rápidas, é possível que a cúpula da televisão quis chamar a atenção do público. E conseguiu.
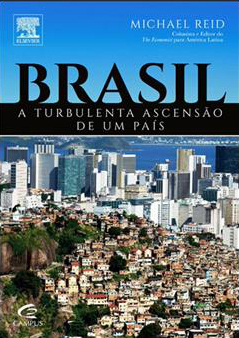
 Lançamento — Michael Reid, editor da “The Economist”, é especialista em América Latina. Quase um scholar. A maioria dos textos recentes da revista sobre o Brasil foi escrita pelo jornalista. Ele acaba de lançar o livro “Brasil — A Turbulenta Ascensão de um País” (Campus, 320 páginas, tradução de Cristiana de Assis Serra).
Jorge Felix, do jornal “Valor”, transcreve um trecho do livro: “(...) é uma peculiaridade dos brasileiros a ênfase nos sentido do tato. (...) Os brasileiros são extremamente cordiais e rápidos para adotar um tratamento aparentemente íntimo. Alguém que você nunca viu pode arrematar um e-mail com ‘Abraços’, em geral abreviando para ‘Abs’. Contudo, por trás dessa cordialidade espreita uma considerável dose de falta de confiança pessoal (pelo menos, segundo pesquisas de opinião) e cinismo”.
Reid afirma, na síntese de Jorge Felix, que o Brasil “pode estar com os motores do crescimento econômico desligados, mas a potência motriz é enorme e acionável. (...) Ainda que eu não acredite que o país corra o risco de outro colapso econômico, como muitos brasileiros, receio que, sem a liderança política e as políticas corretas e sem reformas políticas, entre outras, seu ritmo de avanço poderá decepcionar tanto brasileiros quanto estrangeiros”.
Para o editor da “Economist”, “o Brasil se caracteriza por ciclos de esperança seguidos de decepção”.
A presidente Dilma Rousseff não está equivocada quando afirma que o crescimento da economia brasileira é baixo devido a crise internacional, admite Reid. “Mas o Brasil ficou abaixo da média internacional por erros de política econômica e falta de mudanças estruturais para atacar o custo Brasil.”
Por falar em custo Brasil, o preço do livro de Reid — R$ 74,90 — é escorchante e, por certo, vai chamar a atenção do jornalista. Nenhum livro da Companhia das Letras e da Record, duas das melhores editoras patropis, custa mais de 74 reais — se tem apenas 320 páginas. Os livros da Editora Campus são sempre os mais caros do País.
Lançamento — Michael Reid, editor da “The Economist”, é especialista em América Latina. Quase um scholar. A maioria dos textos recentes da revista sobre o Brasil foi escrita pelo jornalista. Ele acaba de lançar o livro “Brasil — A Turbulenta Ascensão de um País” (Campus, 320 páginas, tradução de Cristiana de Assis Serra).
Jorge Felix, do jornal “Valor”, transcreve um trecho do livro: “(...) é uma peculiaridade dos brasileiros a ênfase nos sentido do tato. (...) Os brasileiros são extremamente cordiais e rápidos para adotar um tratamento aparentemente íntimo. Alguém que você nunca viu pode arrematar um e-mail com ‘Abraços’, em geral abreviando para ‘Abs’. Contudo, por trás dessa cordialidade espreita uma considerável dose de falta de confiança pessoal (pelo menos, segundo pesquisas de opinião) e cinismo”.
Reid afirma, na síntese de Jorge Felix, que o Brasil “pode estar com os motores do crescimento econômico desligados, mas a potência motriz é enorme e acionável. (...) Ainda que eu não acredite que o país corra o risco de outro colapso econômico, como muitos brasileiros, receio que, sem a liderança política e as políticas corretas e sem reformas políticas, entre outras, seu ritmo de avanço poderá decepcionar tanto brasileiros quanto estrangeiros”.
Para o editor da “Economist”, “o Brasil se caracteriza por ciclos de esperança seguidos de decepção”.
A presidente Dilma Rousseff não está equivocada quando afirma que o crescimento da economia brasileira é baixo devido a crise internacional, admite Reid. “Mas o Brasil ficou abaixo da média internacional por erros de política econômica e falta de mudanças estruturais para atacar o custo Brasil.”
Por falar em custo Brasil, o preço do livro de Reid — R$ 74,90 — é escorchante e, por certo, vai chamar a atenção do jornalista. Nenhum livro da Companhia das Letras e da Record, duas das melhores editoras patropis, custa mais de 74 reais — se tem apenas 320 páginas. Os livros da Editora Campus são sempre os mais caros do País.

Enquanto o PMDB sofre forte rejeição por parte do eleitorado anapolino, Marconi Perillo tem alta aprovação por conta de obras como a expansão do Daia, implantação do polo farmoquímico, aeroporto de cargas e o centro de convenções

 Ao anunciar sua saída do “Jornal Nacional”, Patrícia Poeta se tornou alvo de fofoca em jornais, blogs e redes sociais. Seu dilema é: como desmentir o que não é verdadeiro? Não é possível, porque, se entrar neste debate infrutífero, só vai alimentar o submundo da internet. Às vezes um charuto é só um charuto, mas os maliciosos podem sugerir que é um símbolo fálico.
Patrícia Poeta pode ter decidido sair do “Jornal Nacional” porque queria mesmo fazer outra coisa (apresentar um programa de variedade, como disse), talvez, de sua perspectiva, menos desgastante. Jornalismo, para quem se dedica integralmente à profissão, suga até a alma. É provável que sua irmã, ao dizer que ela só quer ser feliz, tenha razão.
O que ocorreu com Poeta e William Bonner — disseram que puxou o tapete da colega — indica, como sugere a jornalista e escritora Janet Malcolm, que a profissão de jornalista é mesmo indefensável.
Contaram, até, que Poeta comprou um apartamento por 23 milhões de um empresário que teria mantido contato com Fernando Cavendish e Carlos Cachoeira. Porém, se o dinheiro era/é a da jornalista, cadê o crime? Mas claro que o fato é notícia, aqui e em qualquer lugar. O problema são as ilações.
Ao anunciar sua saída do “Jornal Nacional”, Patrícia Poeta se tornou alvo de fofoca em jornais, blogs e redes sociais. Seu dilema é: como desmentir o que não é verdadeiro? Não é possível, porque, se entrar neste debate infrutífero, só vai alimentar o submundo da internet. Às vezes um charuto é só um charuto, mas os maliciosos podem sugerir que é um símbolo fálico.
Patrícia Poeta pode ter decidido sair do “Jornal Nacional” porque queria mesmo fazer outra coisa (apresentar um programa de variedade, como disse), talvez, de sua perspectiva, menos desgastante. Jornalismo, para quem se dedica integralmente à profissão, suga até a alma. É provável que sua irmã, ao dizer que ela só quer ser feliz, tenha razão.
O que ocorreu com Poeta e William Bonner — disseram que puxou o tapete da colega — indica, como sugere a jornalista e escritora Janet Malcolm, que a profissão de jornalista é mesmo indefensável.
Contaram, até, que Poeta comprou um apartamento por 23 milhões de um empresário que teria mantido contato com Fernando Cavendish e Carlos Cachoeira. Porém, se o dinheiro era/é a da jornalista, cadê o crime? Mas claro que o fato é notícia, aqui e em qualquer lugar. O problema são as ilações.

Passadas as eleições estaduais, vencedores e derrotados já iniciam articulações político-partidárias visando conquistar a prefeitura da capital tocantinense daqui a dois anos
O escritor francês Patrick Modiano ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2014. Acessei o Estante Virtual e seus livros estavam sendo vendidos a 4 reais (comprei vários por 150 reais). Mais tarde, voltei ao site e os preços haviam sido alterados. A maioria já valia mais de 50 reais. É a tal lei da oferta e da procura do capitalismo.
O chefão da Amazon, Jeff Bezos, comprou o “Washington Post”, o jornal que provocou a queda do presidente Richard Nixon, por 250 milhões de dólares. Os jornais americanos são regionais. O “Post” e o “New York Times” circulam em todo o país, mas em muitos Estados são menos relevantes do que os jornais locais. É a regra em países gigantes, como Estados Unidos e Brasil. Porém, provando que não está brincando, Bezos assegura que vai aumentar a presença nacional do “Post”, a casa editorial do mítico repórter Bob Woodward, de 71 anos. Bezos disse à “Business Week” (cito a partir do Portal Imprensa) que pretende produzir o “Post” no formato “digital com ajuda da Amazon. A ideia é criar um aplicativo gratuito que poderá ser lançado ainda neste ano no novo tablet da varejista, o Fire HDX 8.9”. Segundo o Portal Imprensa, “o novo serviço deve oferecer uma curadoria de notícias e imagens do jornal em um formato de revista específico para tablets. A publicação informa também que os planos de Bezos incluem lançamento de aplicativos para iPad e tablets Android, que funcionariam por um sistema de assinatura mensal. A ferramenta é desenvolvida por um grupo do jornal que integra o projeto intitulado ‘Rainbow’, comandado pelo ex-editor chefe do site Salon Kerry Lauerman”. O “Pop”, que faz mudanças cosméticas e desconectadas das mudanças globais, deveria mirar-se, guardadas as proporções, no exemplo do “Post”.

[caption id="attachment_5511" align="alignright" width="620"] Marcelo Miranda deverá enfrentar alguns desafios à frente do governo[/caption]
O governador eleito Marcelo Miranda (PMDB) está consciente de que vai assumir um Estado com problemas de ordem financeira e administrativa de larga proporção. Além disso, o peemedebista terá que demonstrar habilidade política para conseguir realizar o choque de gestão que pretende. Isso porque o bloco que fará oposição ao seu governo conseguiu eleger o maior número de deputados estaduais.
Miranda, no entanto, não vê dificuldades para emplacar o seu intento, porque entende que a Assembleia Legislativa vai entender que ele precisa elencar uma série de ações e projetos em benefício da “saúde econômico-financeira e administrativa do Estado e dar esperanças de uma melhor qualidade de vida aos tocantinenses”.
O governador eleito diz que respeita a bancada oposicionista e acha até salutar para a democracia que haja oposição responsável. Disse que vai buscar o entendimento com as lideranças das bancadas no Legislativo para ter governabilidade. “A campanha eleitoral acabou, agora é trabalhar, sem ranço ou rancor partidário, pois o Tocantins precisa de um projeto moderno de desenvolvimento e, por isso, espero que os deputados entendam que a nossa intenção é realizar um governo municipalista e fazer as reformas que precisam ser feitas”, argumenta Miranda.
Embora o próximo governador vá iniciar sua administração em desvantagem numérica na Assembleia (15 a 9), seus aliados acreditam que alguns parlamentares de oposição não vão oferecer resistência aos projetos do novo governo. Descartam qualquer gestão no sentido de cooptar parlamentares para a base governista, por entenderem que essa é uma prática arcaica.
No entanto, é sabido que o deputado eleito Eduardo Siqueira (PTB) será, sem dúvida, o líder da oposição ao governo na Assembleia e será um calo no sapato de Miranda. E pode tentar presidir o Legislativo. Nesse contexto, na composição da Mesa Diretora, uma forte queda de braço está sendo esperada. Se a oposição tem um líder preparado e com experiência em articulação política, a bancada governista dispõe de um expoente de qualidades semelhantes, só que com outro viés, que é o ex-prefeito de Porto Nacional Paulo Mourão (PT). Cauteloso, Mourão terá um papel fundamental nesse embate e é a liderança que vai defender o governo de Marcelo Miranda com propriedade.
Dos 24 deputados da próxima legislatura, apenas nove são da base de Miranda: Paulo Mourão (PT), Nilton Franco (PMDB), Elenil da Penha (PMDB), Rocha Miranda (PMDB), Valdemar Junior (PSD), Toinho Andrade (PSD), Amália Santana (PT), José Roberto Forzani (PT) e José Bonifácio (PR), este último eleito pela coligação governista, mas se desentendeu com Eduardo Siqueira no decorrer da campanha eleitoral.
Marcelo Miranda deverá enfrentar alguns desafios à frente do governo[/caption]
O governador eleito Marcelo Miranda (PMDB) está consciente de que vai assumir um Estado com problemas de ordem financeira e administrativa de larga proporção. Além disso, o peemedebista terá que demonstrar habilidade política para conseguir realizar o choque de gestão que pretende. Isso porque o bloco que fará oposição ao seu governo conseguiu eleger o maior número de deputados estaduais.
Miranda, no entanto, não vê dificuldades para emplacar o seu intento, porque entende que a Assembleia Legislativa vai entender que ele precisa elencar uma série de ações e projetos em benefício da “saúde econômico-financeira e administrativa do Estado e dar esperanças de uma melhor qualidade de vida aos tocantinenses”.
O governador eleito diz que respeita a bancada oposicionista e acha até salutar para a democracia que haja oposição responsável. Disse que vai buscar o entendimento com as lideranças das bancadas no Legislativo para ter governabilidade. “A campanha eleitoral acabou, agora é trabalhar, sem ranço ou rancor partidário, pois o Tocantins precisa de um projeto moderno de desenvolvimento e, por isso, espero que os deputados entendam que a nossa intenção é realizar um governo municipalista e fazer as reformas que precisam ser feitas”, argumenta Miranda.
Embora o próximo governador vá iniciar sua administração em desvantagem numérica na Assembleia (15 a 9), seus aliados acreditam que alguns parlamentares de oposição não vão oferecer resistência aos projetos do novo governo. Descartam qualquer gestão no sentido de cooptar parlamentares para a base governista, por entenderem que essa é uma prática arcaica.
No entanto, é sabido que o deputado eleito Eduardo Siqueira (PTB) será, sem dúvida, o líder da oposição ao governo na Assembleia e será um calo no sapato de Miranda. E pode tentar presidir o Legislativo. Nesse contexto, na composição da Mesa Diretora, uma forte queda de braço está sendo esperada. Se a oposição tem um líder preparado e com experiência em articulação política, a bancada governista dispõe de um expoente de qualidades semelhantes, só que com outro viés, que é o ex-prefeito de Porto Nacional Paulo Mourão (PT). Cauteloso, Mourão terá um papel fundamental nesse embate e é a liderança que vai defender o governo de Marcelo Miranda com propriedade.
Dos 24 deputados da próxima legislatura, apenas nove são da base de Miranda: Paulo Mourão (PT), Nilton Franco (PMDB), Elenil da Penha (PMDB), Rocha Miranda (PMDB), Valdemar Junior (PSD), Toinho Andrade (PSD), Amália Santana (PT), José Roberto Forzani (PT) e José Bonifácio (PR), este último eleito pela coligação governista, mas se desentendeu com Eduardo Siqueira no decorrer da campanha eleitoral.
Procurando fazer uma oposição responsável
Dois deputados reeleitos pela coligação do governador Sandoval Cardoso (SD) – Wanderlei Barbosa (SD) e Ricardo Ayres (PSB) – já adiantaram que não farão oposição ferrenha ao próximo governador . Ambos falam em oposição responsável. “Vamos conduzir de maneira transparente as discussões na Casa, procurando conciliar os interesses divergentes, para que nossa população possa receber do Executivo, sob a fiscalização do Legislativo, o atendimento das demandas mais urgentes”, argumentou Ayres. O parlamentar peessedebista diz que o seu partido estará vigilante, fiscalizando e apoiando as ações de interesses do povo e denunciar o que, porventura, entender que esteja errado. Para Wanderlei Barbosa, nada justifica, na política moderna, uma oposição ferrenha. Por isso, garante que vai exercer mais um mandato buscando o entendimento e apoiando o próximo governador naquilo que achar que for de interesse dos tocantinenses. “Esperamos, por exemplo, que o próximo gestor valorize os servidores públicos. Não farei oposição só para dificultar a administração estadual”, adianta o parlamentar, que travou uma briga particular em Taquaruçu, na disputa pelo voto com o vereador Major Negreiros, da mesma coligação, e que não conseguiu se eleger.A repórter-fotográfica Cristina Cabral deixou o “Pop” na terça-feira, 7. Ela trabalhou quase 27 anos no jornal. “Sentirei muita falta, mas estava na hora de mudar”, escreveu a profissional no seu Facebook. Ela acredita que “sempre” se “tem um novo caminho”. Na semana anterior, a competente Carla Borges, depois de quase 19 anos de “Pop”, pediu demissão. Mais dois repórteres do jornal estão prestes a pedir demissão. Sem que os editores reajam, está se processando um desmanche da redação. Todos sugerem que a empresa paga mal e não investe na qualificação dos repórteres. Outros dizem que a editora-chefe Cileide Alves elegeu os “campeões” — como Fabiana Pulcineli e Márcio Leijoto — e só eles têm um salário um pouco melhor.

Este ano, o governo possivelmente não pagará o 13° salário, porque não tem limite financeiro para fazer esses pagamentos




