Imprensa
Ao contrário do que escreve Rogério Borges, do “Pop”, o nazista Adolf Eichmann não “foi sequestrado no centro de Buenos Aires”. O Mossad, serviço secreto de Israel, o sequestrou na periferia da capital da Argentina. (Detalhe: a palavra “capítulo” não perdeu o acento.) Se Eichmann vivesse no centro da capital portenha, o Mossad teria mais dificuldade para sequestrá-lo. Para entender como foi capturado o nazista que chefiava o transporte de judeus para os campos de concentração e de extermínio, vale a pena ler: “Caçando Eichmann” (Objetiva, 200 páginas, tradução de Maria Beatriz de Medina), de Neal Bascomb. Em sebos, pode ser encontrado o livro do chefe dos agentes que sequestraram o nazista. O Jornal Opção publicou três textos pouco ortodoxos sobre Eichmann, que podem ser lidos nos links: http://bit.ly/1DiIECL; http://bit.ly/1uflT0l e http://bit.ly/18RDBO5.
Rogério Borges lamenta o fato de o ator Othon Bastos fazer o papel de mordomo na novela “Império”. O repórter está certo: trata-se mesmo de um grande ator. Mas grandes atores brilham, como é o caso, em papéis que, em tese, são menores. O grande desafio de um ator, como Othon Bastos, é brilhar a partir de papeis menores. Não há, pois, o que lamentar.
O professor de Língua Portuguesa Pedro Paulo de Oliveira faz duas perguntas: “Procede que as palavras ‘muçulmanos’ e ‘bloqueio’ ganharam novas grafias? Acredito que sim, pois, na capa do jornal ‘Diário da Manhã’, publicaram ‘mulçumanos’ e ‘broqueio’. O que diria a personagem Policarpo Quaresma, do romance de Lima Barreto?” O professor, irônico, esclarece as dúvidas, se existirem. A capa do "DM" informa: "Atentado na França — A posição dos mulçumanos em Goiás". Trata-se de uma entrevista de Jamil Nagib Ghannoum, "fundador do Centro de Divulgação do Islã, em Trindade".
Com uma dívida apontada como gigantesca, a “Gula”, excelente revista de gastronomia, pode fechar as portas brevemente. A empresa que a edita não sabe sequer quanto terá recurso para bancar a próxima edição. Segundo o Portal dos Jornalistas, “a queda na receita de publicidade em 2014 teria sido o principal estopim da crise e a responsável por levar a direção da revista a buscar investidores interessados em arrendar ou comprar o título. Ironia do destino, esse indesejável desfecho dá-se exatamente no ano em que a publicação completa 25 anos de vida. Na Redação, o fim da revista já é dado como certo”.
O editor e o diagramador da capa do “Pop” esqueceram-se de uma coisa elementar na edição de sexta-feira, 6: não publicaram a data do jornal. O “Pop” já foi cuidadoso com seu material jornalístico. A perda de profissionais experientes está refletindo na (baixa) qualidade do texto do jornal. O volume de erros impressiona até leitores que não prestam muita atenção no problema. Há indícios de que os editores perderam o controle da qualidade do produto.
Qual é o principal clube de futebol do Estado? O Goiás, é claro. Pois o time jogou na quinta-feira, 5, pelo Campeonato Estadual e o “Pop” ignorou olimpicamente a partida. O jornal não publicou nenhuma linha.
O nome do deputado estadual Paulo Cezar Martins, do PMDB, é uma vítima dos jornalistas do “Pop” e, às vezes, do “Diário da Manhã” e do Jornal Opção. O “Pop” escrever “Cesar”, “César”, “Cézar” e até, o certo, Cezar.
“Vidas Secas” é um belíssimo texto de Rogério Borges sobre a seca, a real da atualidade e a abordada pela literatura de Graciliano Ramos (o título é, claro, uma referência ao romance magno do escritor alagoano), Raquel de Queiroz (por sinal, caro Borges, sem acento), José Américo de Almeida, Patativa do Assaré e Ariano Suassuna e pela música de Luiz Gonzaga (“Súplica Cearense”, não citada [veja uma versão modernizada do Rappa no link: https://www.youtube.com/watch?v=F19PnbWigSA], e “Asa Branca” são maravilhas do cancioneiro popular). No fim do texto, no qual discute as motivações da seca, Borges pergunta: “Por que não os leram?” (Graça, Rachel, Almeida, Patativa e Suassuna. Poderia ter acrescentando Josué de Castro e Marco Antônio Villa.) “Luiz Gonzaga transformou em hino a fuga da asa branca... Por que não o ouviram? Por que nunca aprendemos, meu Deus?”
A ex-presidente da Petrobrás Graça Foster é corrupta? Tudo indica que não. Parece que não está envolvida com as falcatruas de políticos e empreiteiros. Se não está, por que foi pressionada a se demitir? Porque, embora possivelmente não esteja envolvida pela engrenagem corrupstêmica (corrupção sistêmica), a Petrobrás precisa de fatos novos para funcionar e se não arrebentar na bolsa. Não só. No mercado capitalista de alta competitividade, o político e o econômico, nenhum executivo pode ser inocente. Graça Foster pode não ter sido contaminada, por escolha pessoal, mas certamente sabia o que estava acontecendo, não nos porões, e sim nos mais refinados e poderosos gabinetes da empresa. Se não sabia, como seus “aliados” sugerem, é muito pior. Pois significa que não tinha domínio sobre o que acontecia, às claras, na Petrobrás. A suposta inocência de Graça Foster foi paga, se se pode dizer assim, com a demissão e, sobretudo, com o desgaste do nome para sempre.
Um dos mais brilhantes romances do Nobel de Literatura americano ganha tradução precisa de Celso Paciornik e Julia Romeu
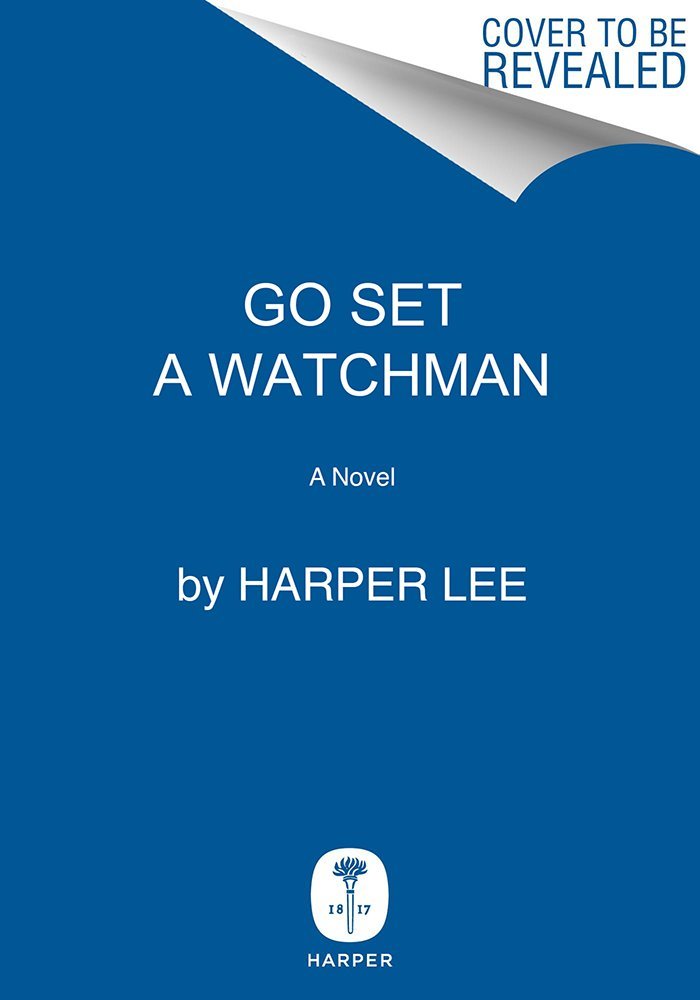 “O Sol É Para Todos” (José Olympio, 364 páginas), da americana Harper Lee, de 89 anos em abril, não é um romance do primeiro time, porém é mais emblemático do que alguns romances do primeiro time. É uma denúncia clamorosa e de grande impacto contra o racismo nos Estados Unidos; um negro é acusado, injustamente, de violar uma mulher branca. Publicado em 1960, tendo ganhado o Pulitzer de 1961, o livro, que vendeu mais de 40 milhões de exemplares, foi levado ao cinema pelo cineasta Robert Mulligan, em 1962. O filme, com Gregory Peck, ganhou o Oscar. Depois do sucesso, Harper Lee parou de escrever ou de publicar. Agora, em 14 de julho deste ano, as editoras Harper Collins e Penguin Random vão lançar seu segundo romance, que estava desaparecido.
“Go Set a Watchman” (304 páginas), o novo romance, na verdade foi escrito em 1950, portanto é anterior a “O Sol É Para Todos”. Mas a história, com os mesmos personagens, Atticus Finch e Scout Finch, ocorre posteriormente. É uma sequência. A obra estava desaparecida.
“O Sol É Para Todos” (José Olympio, 364 páginas), da americana Harper Lee, de 89 anos em abril, não é um romance do primeiro time, porém é mais emblemático do que alguns romances do primeiro time. É uma denúncia clamorosa e de grande impacto contra o racismo nos Estados Unidos; um negro é acusado, injustamente, de violar uma mulher branca. Publicado em 1960, tendo ganhado o Pulitzer de 1961, o livro, que vendeu mais de 40 milhões de exemplares, foi levado ao cinema pelo cineasta Robert Mulligan, em 1962. O filme, com Gregory Peck, ganhou o Oscar. Depois do sucesso, Harper Lee parou de escrever ou de publicar. Agora, em 14 de julho deste ano, as editoras Harper Collins e Penguin Random vão lançar seu segundo romance, que estava desaparecido.
“Go Set a Watchman” (304 páginas), o novo romance, na verdade foi escrito em 1950, portanto é anterior a “O Sol É Para Todos”. Mas a história, com os mesmos personagens, Atticus Finch e Scout Finch, ocorre posteriormente. É uma sequência. A obra estava desaparecida.
Harper Lee (foto acima) acreditava que os originais haviam sido perdidos e não se preocupava mais com o romance. Porém, no ano passado, foi reencontrado. “Não sabia que o romance havia sobrevivido. Fique surpresa e encantada quando minha querida amiga e advogada Tonja Carter o descobriu. Depois de muito pensar e hesitar, mostrei-o para algumas pessoas em quem confio e fiquei contente por elas acharem que era digno de ser publicado”, diz a escritora. A obra, na opinião de Harper Lee, é um trabalho literário “muito decente”.
 O Grupo Jaime Câmara demitiu o jornalista Marcello Rosa (foto acima, de seu Facebook), apresentador da “Jornal Anhanguera”, edição do almoço.
O GJC teria alegado que é incompatível ser apresentador e manter negócios com o governo do Estado.
O Grupo Jaime Câmara demitiu o jornalista Marcello Rosa (foto acima, de seu Facebook), apresentador da “Jornal Anhanguera”, edição do almoço.
O GJC teria alegado que é incompatível ser apresentador e manter negócios com o governo do Estado.
“Eduardo e Mônica”, espécie de música de formação, mostra a juventude e o amadurecimento de um casal, com seus conflitos, ambiguidades e convergências
 Envolvido com Noel Rosa, Ataulfo Alves, Mário Reis, Dolares Duran, o divertido “antropólogo” Adoniran Barbosa, demorei a me aproximar da magnífica música de Renato Russo. Quando comecei a “bebê-lo” não parei mais — tornei-me russólatra. Devo ter ouvido “Faroeste Caboclo”, uma espécie de ópera popular sobre o cangaço urbano, umas duzentas vezes, cada vez apreciando-a mais. Renato Russo é músico e, ao mesmo tempo, é um narrador de primeira, preciso, contido aqui e ali, de repente palavroso, até altissonante. Há quê de Geraldo Vandré misturado com Taiguara — uma espécie de cancioneiro, de menestrel —, mas não é, individualmente, nem um nem outro. Aparentemente, se eu não estiver exagerando, cavou um espaço entre Chico Buarque e Caetano Veloso, e um pouco acima de Cazuza, porque certamente mais refinado e, quem sabe, mais distanciado em relação aos fatos narrados. Sim, Renato Russo, como compositor, músico e cantor, é um narrador — daí suas músicas contarem-cantarem uma história, como se fosse um pouco mais do que um microconto. René Sampaio, de 41 anos, filmou “Faroeste Caboclo” — o filme não é ruim, mas como competir com uma música tão poderosa? — e agora vai filmar outra música do artista, “Eduardo e Mônica”.
“Eduardo e Mônica” é uma bela história — o registro das ambiguidades e vieses na vida de um casal. Há o romance de formação e talvez seja possível sugerir que “Eduardo e Mônica” é uma música de formação, com os personagens exibidos jovens e amadurecendo, com o registro das mudanças de perspectivas e expectativas. É, também, uma narrativa sobre diferenças às vezes convergentes. O ouvinte simpatiza com Mônica, dada sua modernidade, ao fato de ser avançada, mas não antipatiza (com) Eduardo, uma espécie de Leopold Bloom, o “homem comum enfim”, diriam, se pudessem, o irlandês James Joyce e o inglês Anthony Burgess.
Acredito que “Eduardo e Mônica” dará um belo filme, se não cair no sentimentalismo ou no papo cult, perdendo a naturalidade expositiva da música. René Sampaio pretende fazer um “filme de época”, sobre Brasília em 1986, e pretende começar as filmagens em setembro deste ano. O filme está previsto para estrear no fim de 2016. Luiz Bolognesi será o roteirista.
Envolvido com Noel Rosa, Ataulfo Alves, Mário Reis, Dolares Duran, o divertido “antropólogo” Adoniran Barbosa, demorei a me aproximar da magnífica música de Renato Russo. Quando comecei a “bebê-lo” não parei mais — tornei-me russólatra. Devo ter ouvido “Faroeste Caboclo”, uma espécie de ópera popular sobre o cangaço urbano, umas duzentas vezes, cada vez apreciando-a mais. Renato Russo é músico e, ao mesmo tempo, é um narrador de primeira, preciso, contido aqui e ali, de repente palavroso, até altissonante. Há quê de Geraldo Vandré misturado com Taiguara — uma espécie de cancioneiro, de menestrel —, mas não é, individualmente, nem um nem outro. Aparentemente, se eu não estiver exagerando, cavou um espaço entre Chico Buarque e Caetano Veloso, e um pouco acima de Cazuza, porque certamente mais refinado e, quem sabe, mais distanciado em relação aos fatos narrados. Sim, Renato Russo, como compositor, músico e cantor, é um narrador — daí suas músicas contarem-cantarem uma história, como se fosse um pouco mais do que um microconto. René Sampaio, de 41 anos, filmou “Faroeste Caboclo” — o filme não é ruim, mas como competir com uma música tão poderosa? — e agora vai filmar outra música do artista, “Eduardo e Mônica”.
“Eduardo e Mônica” é uma bela história — o registro das ambiguidades e vieses na vida de um casal. Há o romance de formação e talvez seja possível sugerir que “Eduardo e Mônica” é uma música de formação, com os personagens exibidos jovens e amadurecendo, com o registro das mudanças de perspectivas e expectativas. É, também, uma narrativa sobre diferenças às vezes convergentes. O ouvinte simpatiza com Mônica, dada sua modernidade, ao fato de ser avançada, mas não antipatiza (com) Eduardo, uma espécie de Leopold Bloom, o “homem comum enfim”, diriam, se pudessem, o irlandês James Joyce e o inglês Anthony Burgess.
Acredito que “Eduardo e Mônica” dará um belo filme, se não cair no sentimentalismo ou no papo cult, perdendo a naturalidade expositiva da música. René Sampaio pretende fazer um “filme de época”, sobre Brasília em 1986, e pretende começar as filmagens em setembro deste ano. O filme está previsto para estrear no fim de 2016. Luiz Bolognesi será o roteirista.
Se não for em Goiânia, a IndyCar pode retirar a Fórmula Indy do Brasil, pelo menos neste ano. Relação dos americanos com a TV Bandeirantes não é boa
 A imprensa de Goiás estranhamente não se interessou pelo assunto, mas o portal Grande Prêmio publicou reportagem no sábado, 31, a respeito da possibilidade de a Fórmula Indy não ser mais realizada em Brasília, e sim em Goiânia.
Os organizadores da Fórmula Indy, ante o cancelamento da prova no autódromo de Brasília a menos de 40 dias de sua realização, estiveram por conta própria em Goiânia, em contato com a equipe do governador Marconi Perillo. Eles verificam a possibilidade de a corrida ser realizada na capital goiana, por isso inspecionaram o autódromo local. E nem convidaram a Bandeirantes para participar da inspeção.
Segundo o portal Grande Prêmio, “a comitiva continha dois diretores do campeonato com base em Indianápolis e esteve na tarde de sexta-feira, 30, na pista da capital de Goiás, a única no Brasil que tem condições de receber uma etapa do porte da Indy. Recém-reformada, tornou-se centro das atenções e referência do sofredor automobilismo nacional. É lá, por exemplo, que a Stock Car passou a realizar sua Corrida do Milhão. Outro ponto favorável é a distância para Brasília, pouco mais de 200 km, o que minimizaria o problema com toda a logística da operação”.
A IndyCar ainda não decidiu se o Autódromo Internacional de Goiânia é inteiramente viável, se tem estrutura ampla para receber uma prova de tal porte. Não se trata apenas da pista, mas da estrutura em geral. Porque se trata de uma prova internacional, que atrai pessoas de vários países.
A IndyCar e Bandeirantes não estão em bons termos. “Os americanos não confiam mais nos executivos da TV, que pela segunda vez não honram o acordo para fazer a corrida acontecer. No ano passado, a emissora não fez a etapa no Anhembi por problemas financeiros e chegou a ser processada pela categoria na Corte de Indiana no fim de 2013. A Band dobrou os caras lá fora se comprometendo com a prova deste ano no DF”, afirma Grande Prêmio.
Vitor Meira, ex-piloto da Indy, está acompanhando o desenrolar da história, e esteve em Indianópolis “depois que o Ministério Público expôs os erros no contrato da corrida”. Band e Meira acreditam que a corrida ainda pode ser realizada em Brasília. “Mas”, segundo Grande Prêmio, “o governo do Distrito Federal e o Ministério Público vão bater o pé até o fim nem que para isso se utilizem de todas as esferas judiciais. De lá, não sai nenhum centavo, e a investigação quer entender como os acordos da Bandeirantes com a Terracap e o ex-governador Agnelo Queiroz puderam ter sido mal ajambrados, com erros primitivos em assinatura e timbre, cláusulas de contrato inválidas, descrições de serviços duplicados, sobrepreço de quase R$ 35 milhões, além de uma sequência de erros no processo de licitação que mais do que triplicaram o preço das obras”.
O MP, investigada a fraude nos contratos, decidiu entrar “com uma ação civil pública e de improbidade administrativa”. Segundo o portal, “o governo de Agnelo chegou a pagar à Bandeirantes R$ 17,5 milhões pela prova que não vai ocorrer em Brasília”. Segundo Grande Prêmio, a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) também está sendo investigada pelo MP “por suspeita de desvio de dinheiro dos recursos do autódromo”.
A organização da Indy disse ao portal que não vai se manifestar, por enquanto, sobre o assunto. Um dos representantes da IndyCar no Brasil, Carlos Gancia, falou ao portal. “De início, Gancia contestou a informação de que a Band esteja alijada de funcionários da categoria a Goiânia. ‘Eu mandei ontem um representante, Brian Hughes, que é responsável pelas pistas, para que verificasse as condições do autódromo. Foi uma iniciativa em sintonia com a Band’. Questionado se alguém da emissora esteve lá, Gancia respondeu que não.” Sobre o autódromo de Goiânia, Gancia ressaltou que “há muito trabalho a fazer”. “‘Os boxes são muito pequenos e apertados’ para receber os carros da Indy.”
Gancia afirma que “as notícias que têm sido publicadas na imprensa estão longe da realidade. O MP não tem o poder para determinar o cancelamento da prova. Há um contrato que foi assinado e que foi rompido sem prévio aviso”. Ele frisa que o cancelamento da prova cria uma “insegurança jurídica muito grande”. Ele insiste que a prova será realizada no dia 8 de março. “A programação mundial da TV já está feita e não tem espaço no calendário. Além disso, já tem 40 contêineres no mar trazendo os pneus e a gasolina que é misturada no etanol”, assegura Gancia. Os contêineres chegam “entre os dias 6 e 8 de fevereiro”.
O assunto mereceu repercussão nacional, mas não na imprensa de Goiás.
A imprensa de Goiás estranhamente não se interessou pelo assunto, mas o portal Grande Prêmio publicou reportagem no sábado, 31, a respeito da possibilidade de a Fórmula Indy não ser mais realizada em Brasília, e sim em Goiânia.
Os organizadores da Fórmula Indy, ante o cancelamento da prova no autódromo de Brasília a menos de 40 dias de sua realização, estiveram por conta própria em Goiânia, em contato com a equipe do governador Marconi Perillo. Eles verificam a possibilidade de a corrida ser realizada na capital goiana, por isso inspecionaram o autódromo local. E nem convidaram a Bandeirantes para participar da inspeção.
Segundo o portal Grande Prêmio, “a comitiva continha dois diretores do campeonato com base em Indianápolis e esteve na tarde de sexta-feira, 30, na pista da capital de Goiás, a única no Brasil que tem condições de receber uma etapa do porte da Indy. Recém-reformada, tornou-se centro das atenções e referência do sofredor automobilismo nacional. É lá, por exemplo, que a Stock Car passou a realizar sua Corrida do Milhão. Outro ponto favorável é a distância para Brasília, pouco mais de 200 km, o que minimizaria o problema com toda a logística da operação”.
A IndyCar ainda não decidiu se o Autódromo Internacional de Goiânia é inteiramente viável, se tem estrutura ampla para receber uma prova de tal porte. Não se trata apenas da pista, mas da estrutura em geral. Porque se trata de uma prova internacional, que atrai pessoas de vários países.
A IndyCar e Bandeirantes não estão em bons termos. “Os americanos não confiam mais nos executivos da TV, que pela segunda vez não honram o acordo para fazer a corrida acontecer. No ano passado, a emissora não fez a etapa no Anhembi por problemas financeiros e chegou a ser processada pela categoria na Corte de Indiana no fim de 2013. A Band dobrou os caras lá fora se comprometendo com a prova deste ano no DF”, afirma Grande Prêmio.
Vitor Meira, ex-piloto da Indy, está acompanhando o desenrolar da história, e esteve em Indianópolis “depois que o Ministério Público expôs os erros no contrato da corrida”. Band e Meira acreditam que a corrida ainda pode ser realizada em Brasília. “Mas”, segundo Grande Prêmio, “o governo do Distrito Federal e o Ministério Público vão bater o pé até o fim nem que para isso se utilizem de todas as esferas judiciais. De lá, não sai nenhum centavo, e a investigação quer entender como os acordos da Bandeirantes com a Terracap e o ex-governador Agnelo Queiroz puderam ter sido mal ajambrados, com erros primitivos em assinatura e timbre, cláusulas de contrato inválidas, descrições de serviços duplicados, sobrepreço de quase R$ 35 milhões, além de uma sequência de erros no processo de licitação que mais do que triplicaram o preço das obras”.
O MP, investigada a fraude nos contratos, decidiu entrar “com uma ação civil pública e de improbidade administrativa”. Segundo o portal, “o governo de Agnelo chegou a pagar à Bandeirantes R$ 17,5 milhões pela prova que não vai ocorrer em Brasília”. Segundo Grande Prêmio, a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo) também está sendo investigada pelo MP “por suspeita de desvio de dinheiro dos recursos do autódromo”.
A organização da Indy disse ao portal que não vai se manifestar, por enquanto, sobre o assunto. Um dos representantes da IndyCar no Brasil, Carlos Gancia, falou ao portal. “De início, Gancia contestou a informação de que a Band esteja alijada de funcionários da categoria a Goiânia. ‘Eu mandei ontem um representante, Brian Hughes, que é responsável pelas pistas, para que verificasse as condições do autódromo. Foi uma iniciativa em sintonia com a Band’. Questionado se alguém da emissora esteve lá, Gancia respondeu que não.” Sobre o autódromo de Goiânia, Gancia ressaltou que “há muito trabalho a fazer”. “‘Os boxes são muito pequenos e apertados’ para receber os carros da Indy.”
Gancia afirma que “as notícias que têm sido publicadas na imprensa estão longe da realidade. O MP não tem o poder para determinar o cancelamento da prova. Há um contrato que foi assinado e que foi rompido sem prévio aviso”. Ele frisa que o cancelamento da prova cria uma “insegurança jurídica muito grande”. Ele insiste que a prova será realizada no dia 8 de março. “A programação mundial da TV já está feita e não tem espaço no calendário. Além disso, já tem 40 contêineres no mar trazendo os pneus e a gasolina que é misturada no etanol”, assegura Gancia. Os contêineres chegam “entre os dias 6 e 8 de fevereiro”.
O assunto mereceu repercussão nacional, mas não na imprensa de Goiás.
Iúri Rincón Godinho Segue o mantra: a velhice é um tormento. Tem dias bons e muitos ruins. Isso se a pessoa tiver saúde. Quando a perde, a terceira idade — um nome e eufemismo ao mesmo tempo — é um massacre, como resumiu Philip Roth (vide “Homem Comum”). Que o diga o jornalista José Carlos Gomes, biografado por sua filha Luciana, em “A Imagem que o Cigarro lhe Deu”. Antes de morrer de trombose aos 64 anos em 2000 — novo para os padrões do século XXI —, amputou duas pernas, sofria de enfisema pulmonar e depressão. Todos os males foram atribuídos ao hábito de fumar desde os 11 anos. Ganhou o apelido de Zé Fumaça e chegava a mandar para os pulmões 80 cigarros por dia. Tanto que o então ministro da Saúde, José Serra, o convidou para uma campanha anti-tabagismo às vésperas de sua morte. José Carlos viveu em um mundo diferente, onde fumar era sinal de status e masculinidade e quando denominar afrodescendentes de “negão” era normal — Renato Aragão, em Os Trapalhões, chamava Mussum assim. Nas redações dos jornais onde trabalhava, nuvem de fumaça fazia parte da decoração. O jornalista goiano Armando Accioli, que começou a cerreira nos anos 50, tragava duas carteiras por dia. Azar de quem estava perto. O colunista social João Guimarães foi diagnosticado com um aumento nos pulmões graças ao hábito de fumar. Só que ele nunca colocou um cigarro na boca nos seus mais de 80 anos de vida. Entretanto, o livro dá pistas de que não apenas o cigarro, mas também o álcool minaram a saúde de José Carlos. Colunista social do jornal “Correio da Manhã”, viveu um período de glamour, de festas, fumaça e uísque. Combinação que passa longe de beneficiar o corpo. O também jornalista José Guilherme Schwam, do programa Pelos Bares da Vida, sabe bem disso. Com até cinco compromissos por noite, ele só bebe Coca-Cola light e não fuma. Caso contrário, diz, não suportaria a rotina de badalações. Mesmo com uma história de sofrimento, “A Imagem que o Cigarro Lhe Deu” não é um livro de revolta, mas um relato jornalístico bem-escrito e bem-editado, daqueles de se ler em uma sentada. A força da internet reduziu a obra a um libelo contra o fumo e agravantes da saúde como depressão e álcool foram deixados de lado. Tanto que José Carlos hoje virou uma espécie de bicho-papão para os fumantes, com textos até no prestigiado Instituto de Combate ao Câncer, o Inca. Serve de alerta, com certeza, mas a vida é a consequência do tempo e dos hábitos. Não apenas do cigarro. Iúri Rincón Godinho é publisher da Contato Comunicação.


