Por Euler de França Belém
O candidato do PSB a governador de Goiás, Vanderlan Cardoso, tinha mais afinidade com o presidenciável Eduardo Campos, falecido na quarta-feira. Agora, com Marina Silva como candidata a presidente, sua situação não é muito confortável.
Marina Silva não tem simpatia por Vanderlan porque este tentou bancar a candidatura de Ronaldo Caiado para senador, mesmo sabendo que a ex-ministra do Meio Ambiente não aprovava tal articulação. Ela convenceu Eduardo Campos a afastar Caiado da coligação e ficou magoada com Vanderlan. Este vai tentar uma nova aproximação, via Elias Vaz e Aguimar Jesuíno.
Aliados de Vanderlan avaliam que ele pode pegar carona num possível sucesso de Marina Silva.
Vanderlan Cardoso tinha mais afinidades com Eduardo Campos, mas agora já acredita que a candidatura de Marina Silva pode ajudá-lo na disputa pelo governo de Goiás. Ele quer surfar na onda marinheira e pretende falar no dialeto marines.
Sem dinheiro para gastar na campanha, o delegado Waldir Soares migrou para as redes sociais. O tucano conta que tem mais de 300 mil seguidores no Facebook e frisa que, se tiver o voto de 100 mil deles, estará eleito deputado federal.
O delegado Waldir frisa que não tem dinheiro e que percebe que o PSDB está priorizando alguns dos ‘escolhidos” pelo Palácio das Esmeraldas, como Antônio Faleiros e Giuseppe Vecci.
Waldir tem sugerido que é o “candidato do povo” e que isto pode fazer a diferença.

[caption id="attachment_12462" align="alignleft" width="280"] Lucas Vergílio: político atento, o jovem tem surpreendido até seu pai, Armando Vergílio[/caption]
Lucas Vergílio, único candidato do Solidariedade a deputado federal, tem intensificado a agenda de campanha no Entorno do Distrito Federal. Filho do deputado federal Armando Vergílio, candidato a vice-governador na chapa de Iris Rezende (PMDB), ele considera o eleitorado da área estratégico para seu projeto político. O foco no território goiano limítrofe à capital federal é devido ao grande volume de emendas parlamentares aprovadas por Armando e que foram destinadas às obras de saneamento básico, construção e reforma de escolas, hospitais e estrutura asfáltica.
Lucas tem como principais bandeiras a defesa da livre iniciativa, a redução de impostos e facilidades para a liberação de linhas de créditos para o pequeno e médio empreendedor. O empresário do ramo de seguros, de 27 anos, pretende lutar pela aprovação do projeto de implantação de cursos técnicos profissionalizantes em todos os colégios da rede estadual.
Para a área de segurança pública, depois da saúde a que mais tem preocupado o eleitorado, Lucas Vergílio defende mais investimentos em sistemas de vigilância eletrônica em municípios com mais de 50 mil habitantes e o aumento dos efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Lucas Vergílio: político atento, o jovem tem surpreendido até seu pai, Armando Vergílio[/caption]
Lucas Vergílio, único candidato do Solidariedade a deputado federal, tem intensificado a agenda de campanha no Entorno do Distrito Federal. Filho do deputado federal Armando Vergílio, candidato a vice-governador na chapa de Iris Rezende (PMDB), ele considera o eleitorado da área estratégico para seu projeto político. O foco no território goiano limítrofe à capital federal é devido ao grande volume de emendas parlamentares aprovadas por Armando e que foram destinadas às obras de saneamento básico, construção e reforma de escolas, hospitais e estrutura asfáltica.
Lucas tem como principais bandeiras a defesa da livre iniciativa, a redução de impostos e facilidades para a liberação de linhas de créditos para o pequeno e médio empreendedor. O empresário do ramo de seguros, de 27 anos, pretende lutar pela aprovação do projeto de implantação de cursos técnicos profissionalizantes em todos os colégios da rede estadual.
Para a área de segurança pública, depois da saúde a que mais tem preocupado o eleitorado, Lucas Vergílio defende mais investimentos em sistemas de vigilância eletrônica em municípios com mais de 50 mil habitantes e o aumento dos efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Não custa refrescar a memória dos eleitores: foi o PMDB que levou Carlos Cachoeira para o governo de Goiás. Na gestão do governador Maguito Vilela, entre 1995 e 1998. Cachoeira era o chefe da Gerplan. E a demolição da Celg começou com a venda de Cachoeira Dourada, também no governo de Maguito. Maguito diz que foi pressionado pelo governo de Fernando Henrique para vender a Celg. Deve ser verdade, porque o peemedebista não é dado a mentir. Mas vale lembrar que, mesmo pressionado, Itamar Franco, quando governador de Minas Gerais, decidiu não vender sua galinha de ovos de ouro. Vendeu quem quis.
O médico Gustavo Sebba deve ser o puxador de votos do PSDB à Assembleia Legislativa. Filho de Jardel Sebba (PSDB), prefeito de Catalão, ele tem o apoio de 16 prefeitos e 100 vereadores, inclusive do PT e do PMDB, além do apoio da presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Helder Valin (PSDB), que desistiu de disputar a reeleição. Valin disse a um repórter do Jornal Opção, no Empório Saccaria, que o jovem deve obter de 40 mil a 50 mil votos.

[caption id="attachment_12671" align="alignleft" width="620"] Foto: Jornal Opção/Fernando Leite[/caption]
O candidato do PT a governador de Goiás, Antônio Gomide, vai usar os primeiros programas de TV para se apresentar ao eleitorado. No momento, ele está visitando os municípios goianos e conversando com as pessoas. Sua tese: eleitor, ao vê-lo na TV, tenderá a reconhecê-lo. Na primeira fase, antes de partir para a “qualidade”, o projeto de governo, o petista vai apostar na “quantidade”.
Gomide vai mostrar o que fez em Anápolis, uma reestruturação completa da prefeitura, o que contribuiu para recuperar a autoestima da população, e vai dizer que planeja fazer muito mais no Estado. Vai sugerir que os problemas de Goiás hoje são muito parecidos com os que enfrentou no seu primeiro mandato como prefeito, em 2009.
O petista vai se apresentar ao eleitor como “gestor” eficiente e o político que investiu em crescimento e desenvolvimento.
Alexandre Duarte, da Sambatango, é o marqueteiro da campanha do petista; Pedro Novaes, o redator e Érico Rassi, o diretor de vídeo.
Foto: Jornal Opção/Fernando Leite[/caption]
O candidato do PT a governador de Goiás, Antônio Gomide, vai usar os primeiros programas de TV para se apresentar ao eleitorado. No momento, ele está visitando os municípios goianos e conversando com as pessoas. Sua tese: eleitor, ao vê-lo na TV, tenderá a reconhecê-lo. Na primeira fase, antes de partir para a “qualidade”, o projeto de governo, o petista vai apostar na “quantidade”.
Gomide vai mostrar o que fez em Anápolis, uma reestruturação completa da prefeitura, o que contribuiu para recuperar a autoestima da população, e vai dizer que planeja fazer muito mais no Estado. Vai sugerir que os problemas de Goiás hoje são muito parecidos com os que enfrentou no seu primeiro mandato como prefeito, em 2009.
O petista vai se apresentar ao eleitor como “gestor” eficiente e o político que investiu em crescimento e desenvolvimento.
Alexandre Duarte, da Sambatango, é o marqueteiro da campanha do petista; Pedro Novaes, o redator e Érico Rassi, o diretor de vídeo.
Poucos políticos são tão obstinados quando Vanderlan Cardoso. O líder do PSB, de rara firmeza, não desiste nunca. Mas aliados comentam que notam certa desaceleração na campanha. Eles afirmam que, por falta de estrutura financeira e partidária no interior, Vanderlan vai concentrar seus trabalhos nas grandes e médias cidades e, sobretudo, no programa eleitoral da televisão. “Com o programa, ele vai crescer e virar o jogo”, aposta Joaquim Liminha (PSC). Por ser empresário, dos mais conscienciosos, Vanderlan não gosta de trabalhar com dívidas “complicadas” e de lidar com “cobradores”. Por isso, planeja uma campanha ajustada e mais modesta.

[caption id="attachment_12935" align="alignleft" width="620"] Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)[/caption]
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)[/caption]
A Justiça afastou José Roberto Arruda da campanha para governador do Distrito Federal. O líder do PR recorreu e decisão deve sair até setembro, o que vai dificultar sua campanha.
Com a queda de Arruda, o segundo colocado, Agnelo Queiroz, é cotado para subir para o primeiro posto. Mas em Brasília até os monumentos “sabem” que, quando a campanha pegar fogo, e se Arruda estiver mesmo fora do páreo, o candidato que deve “pegar” será o senador Rodrigo Rollemberg. Por três motivos.
Primeiro, numa cidade em que a corrupção se transformou em patrimônio coletivo, Rollemberg conseguiu se manter limpo.
Segundo, e talvez até mais importante: Rollemberg é o candidato da presidenciável Marina Silva.
Terceiro, o líder do PSB conta com o apoio de José Antônio Reguffe, o darling da classe média e também apontado como político ético. Reguffe é candidato a senador pelo PDT.
Em Brasília, portanto, o próximo governador deverá ser Rollemberg. Agnulo? Bem, o governador, sem mandato, certamente vai responder a processos na Justiça comum.

[caption id="attachment_12926" align="alignleft" width="620"] Herbert Moraes, correspondente da Record, dentro de um túnel entre a Faixa de Gaza e Israel. Há túneis que têm dois quilômetros de extensão l Foto: Reprodução/TV Record[/caption]
Entre jornalistas e amigos, Herbert Moraes às vezes é chamado, em tom de brincadeira, de “Senhor Oriente Médio”. Há nove anos baseado em Tel Aviv, Israel, o correspondente da TV Record e colunista do Jornal Opção sabe quase tudo sobre a região — não sabe tudo porque, como diz, os povos de lá são sempre surpreendentes (não há aquele grau de previsibilidade dos povos europeus). O repórter cobriu batalhas em Israel, Líbano, Iraque, Egito, Líbia. Em quase uma década, não há um conflito entre israelenses e palestinos que não tenha sido coberto, de maneira detalhada, pelo jornalista. Agora, acompanha com atenção o acordo que está sendo articulado entre os contendores israelenses e palestinos. Na sexta-feira, 15, ele apresentou, no “Jornal da Record”, a última reportagem da série “Terror em Gaza”. Ele mostrou como vai ser o futuro da região e como vão ficar as relações entre os povos que brigam há anos.
Com o cessar fogo definitivo — e o repórter perspicaz pontua: “definitivo” entre aspas — entre Israel e as forças palestinas do Hamas, a Faixa de Gaza, um dos lugares mais populosos do mundo (1,8 milhão de habitantes num espaço pequeno), poderá ser reconstruída. “A infraestrutura da região foi destruída. A reconstrução vai demandar ao menos 18 bilhões de dólares. O Hamas perdeu quase todo seu poder militar. Os negociadores querem fortalecer Mahmoud Abbas na organização de um governo de união, com prioridade para a reconstrução, não para uma nova guerra. Israel e Egito ‘levantariam’ o bloqueio, com supervisão de institutos internacionais. Israel quer desmilitarizar Gaza, com apoio internacional.”
Herbert Moraes diz que o Hamas sustenta que duas mil pessoas foram mortas pelos ataques das forças armadas de Israel. “Israel contesta os números, alegando que o Hamas, que controla o Ministério da Saúde, falsifica as estatísticas. O Hamas garante que todos os mortos são civis e, portanto, vítimas inocentes. Mas quem estava combatendo os israelenses?, pergunta o governo de Israel. Os israelenses admitem que de 40 a 50% dos mortos palestinos são mesmos civis, mas acrescentam que a maioria é usada como escudos pelos militantes do Hamas. Vale registrar que o Hamas lançou mais de 3 mil foguetes contra alvos civis de Israel. Mas o sistema antimíssil, conhecido como ‘domo de ferro’, interceptou pelo menos 90% deles. Não fosse isto, as baixas em Israel teriam sido maiores. Como organização terrorista, o Hamas não importa se as vítimas são civis ou militares. Na sua opinião, todos são ‘judeus’.”
Um especialista em terrorismo relatou a Herbert Moraes que o Hamas estava “falido” e “isolado”, pois havia perdido o apoio de Irã, Síria e Egito. Porém, devido ao rigoroso bloqueio de Israel, os palestinos, os civis, pressionaram o Hamas, que reagiu atacando Israel. Observando de longe — dada a quantidade de mortos palestinos e israelenses (três civis e 64 militares) —, fica-se com a impressão de que o Hamas foi derrotado de maneira inquestionável. Militarmente, não há o que discutir. “As forças são desproporcionais. Mas, mesmo na derrota, há uma pequena vitória: o possível fim do bloqueio de Israel contra Gaza.”
Pergunto a Herbert Moraes — primeiro repórter da América Latina a entrar nos túneis de Gaza — sobre o que mais o impressionou no conflito? “A morte das crianças é chocante. As imagens são impressionantes. É lamentável.” Israel assegura que destruiu 32 túneis e afiança que o Hamas pretendia lançar um atentado terrorista para matar israelenses nos kibutzes. Os túneis são cimentados, têm energia elétrica e cabem até veículos e foguetes. Têm até trilhos. Há túneis que têm mais de dois quilômetros de extensão e são usados com o objetivo de fazer ataques e sequestros, e esconder armamentos. “Cada túnel custou aproximadamente 3 milhões de dólares. O dinheiro poderia ter sido usado para construir escolas e hospitais, mas é deslocado para a guerra.”
Os israelenses ficam “estressados”, afirma Herbert Moraes. “Mas estão acostumados com as guerras e sabem que o poder de fogo de Israel é infinitamente superior. Desta vez, 92% dos israelenses apoiaram os ataques. Esquerda, centro e direita se uniram. Houve apoio até de árabes. Porque o Hamas lançou mísseis em áreas onde vivem árabes. Metade da população de Jerusalém é árabe.”
Herbert Moraes, correspondente da Record, dentro de um túnel entre a Faixa de Gaza e Israel. Há túneis que têm dois quilômetros de extensão l Foto: Reprodução/TV Record[/caption]
Entre jornalistas e amigos, Herbert Moraes às vezes é chamado, em tom de brincadeira, de “Senhor Oriente Médio”. Há nove anos baseado em Tel Aviv, Israel, o correspondente da TV Record e colunista do Jornal Opção sabe quase tudo sobre a região — não sabe tudo porque, como diz, os povos de lá são sempre surpreendentes (não há aquele grau de previsibilidade dos povos europeus). O repórter cobriu batalhas em Israel, Líbano, Iraque, Egito, Líbia. Em quase uma década, não há um conflito entre israelenses e palestinos que não tenha sido coberto, de maneira detalhada, pelo jornalista. Agora, acompanha com atenção o acordo que está sendo articulado entre os contendores israelenses e palestinos. Na sexta-feira, 15, ele apresentou, no “Jornal da Record”, a última reportagem da série “Terror em Gaza”. Ele mostrou como vai ser o futuro da região e como vão ficar as relações entre os povos que brigam há anos.
Com o cessar fogo definitivo — e o repórter perspicaz pontua: “definitivo” entre aspas — entre Israel e as forças palestinas do Hamas, a Faixa de Gaza, um dos lugares mais populosos do mundo (1,8 milhão de habitantes num espaço pequeno), poderá ser reconstruída. “A infraestrutura da região foi destruída. A reconstrução vai demandar ao menos 18 bilhões de dólares. O Hamas perdeu quase todo seu poder militar. Os negociadores querem fortalecer Mahmoud Abbas na organização de um governo de união, com prioridade para a reconstrução, não para uma nova guerra. Israel e Egito ‘levantariam’ o bloqueio, com supervisão de institutos internacionais. Israel quer desmilitarizar Gaza, com apoio internacional.”
Herbert Moraes diz que o Hamas sustenta que duas mil pessoas foram mortas pelos ataques das forças armadas de Israel. “Israel contesta os números, alegando que o Hamas, que controla o Ministério da Saúde, falsifica as estatísticas. O Hamas garante que todos os mortos são civis e, portanto, vítimas inocentes. Mas quem estava combatendo os israelenses?, pergunta o governo de Israel. Os israelenses admitem que de 40 a 50% dos mortos palestinos são mesmos civis, mas acrescentam que a maioria é usada como escudos pelos militantes do Hamas. Vale registrar que o Hamas lançou mais de 3 mil foguetes contra alvos civis de Israel. Mas o sistema antimíssil, conhecido como ‘domo de ferro’, interceptou pelo menos 90% deles. Não fosse isto, as baixas em Israel teriam sido maiores. Como organização terrorista, o Hamas não importa se as vítimas são civis ou militares. Na sua opinião, todos são ‘judeus’.”
Um especialista em terrorismo relatou a Herbert Moraes que o Hamas estava “falido” e “isolado”, pois havia perdido o apoio de Irã, Síria e Egito. Porém, devido ao rigoroso bloqueio de Israel, os palestinos, os civis, pressionaram o Hamas, que reagiu atacando Israel. Observando de longe — dada a quantidade de mortos palestinos e israelenses (três civis e 64 militares) —, fica-se com a impressão de que o Hamas foi derrotado de maneira inquestionável. Militarmente, não há o que discutir. “As forças são desproporcionais. Mas, mesmo na derrota, há uma pequena vitória: o possível fim do bloqueio de Israel contra Gaza.”
Pergunto a Herbert Moraes — primeiro repórter da América Latina a entrar nos túneis de Gaza — sobre o que mais o impressionou no conflito? “A morte das crianças é chocante. As imagens são impressionantes. É lamentável.” Israel assegura que destruiu 32 túneis e afiança que o Hamas pretendia lançar um atentado terrorista para matar israelenses nos kibutzes. Os túneis são cimentados, têm energia elétrica e cabem até veículos e foguetes. Têm até trilhos. Há túneis que têm mais de dois quilômetros de extensão e são usados com o objetivo de fazer ataques e sequestros, e esconder armamentos. “Cada túnel custou aproximadamente 3 milhões de dólares. O dinheiro poderia ter sido usado para construir escolas e hospitais, mas é deslocado para a guerra.”
Os israelenses ficam “estressados”, afirma Herbert Moraes. “Mas estão acostumados com as guerras e sabem que o poder de fogo de Israel é infinitamente superior. Desta vez, 92% dos israelenses apoiaram os ataques. Esquerda, centro e direita se uniram. Houve apoio até de árabes. Porque o Hamas lançou mísseis em áreas onde vivem árabes. Metade da população de Jerusalém é árabe.”

[caption id="attachment_12919" align="alignleft" width="620"] Carlos Augusto Leal Filho (1) , Alexandre Severo (2), Pedro Almeida Valadares Neto (3), Marcelo Lyra (4), Marcos Martins (5) e Geraldo Cunha (6). Os quatro primeiros trabalhavam na campanha de Eduardo Campos, os outros dois pilotavam a aeronave[/caption]
Comparadas as capas dos jornais, lidas as reportagens, é possível concluir que no acidente de avião ocorrido em Santos, na quarta-feira, 13, morreu “apenas” o presidenciável do PSB, Eduardo Campos. Nos rodapés, para manter a objetividade, os jornais esclareceram que morreram, além do ex-governador de Pernambuco, mais seis pessoas, menos nobres, por certo, e por isso merecedoras de menos espaço e apreço.
Os repórteres deveriam ter mostrado, de maneira menos insossa — fizeram questão de ressalvar que, num desabafo, um piloto disse, numa rede social, que estava cansado (qual trabalhador não faz o mesmo, diariamente?) —, um pouco mais sobre esses indivíduos. Cada um tem sua história e suas famílias sofrem como a família do líder pernambucano. Pedro Almeida Valadares Neto, ex-deputado federal, Carlos Augusto Leal Flho, assessor de imprensa de Eduardo Campos, Alexandre Severo, fotógrafo da campanha, Marcelo Lyra, cinegrafista, Marcos Martins e Geraldo Cunha, pilotos, merecem ter suas histórias narradas. Afinal, são seres humanos como Eduardo Campos e têm parentes que também estão abalados.
A imprensa brasileira, aparentemente de mentalidade aristocrática, parece que quer transformar Eduardo Campos numa espécie de Evita Perón de calça.
Carlos Augusto Leal Filho (1) , Alexandre Severo (2), Pedro Almeida Valadares Neto (3), Marcelo Lyra (4), Marcos Martins (5) e Geraldo Cunha (6). Os quatro primeiros trabalhavam na campanha de Eduardo Campos, os outros dois pilotavam a aeronave[/caption]
Comparadas as capas dos jornais, lidas as reportagens, é possível concluir que no acidente de avião ocorrido em Santos, na quarta-feira, 13, morreu “apenas” o presidenciável do PSB, Eduardo Campos. Nos rodapés, para manter a objetividade, os jornais esclareceram que morreram, além do ex-governador de Pernambuco, mais seis pessoas, menos nobres, por certo, e por isso merecedoras de menos espaço e apreço.
Os repórteres deveriam ter mostrado, de maneira menos insossa — fizeram questão de ressalvar que, num desabafo, um piloto disse, numa rede social, que estava cansado (qual trabalhador não faz o mesmo, diariamente?) —, um pouco mais sobre esses indivíduos. Cada um tem sua história e suas famílias sofrem como a família do líder pernambucano. Pedro Almeida Valadares Neto, ex-deputado federal, Carlos Augusto Leal Flho, assessor de imprensa de Eduardo Campos, Alexandre Severo, fotógrafo da campanha, Marcelo Lyra, cinegrafista, Marcos Martins e Geraldo Cunha, pilotos, merecem ter suas histórias narradas. Afinal, são seres humanos como Eduardo Campos e têm parentes que também estão abalados.
A imprensa brasileira, aparentemente de mentalidade aristocrática, parece que quer transformar Eduardo Campos numa espécie de Evita Perón de calça.
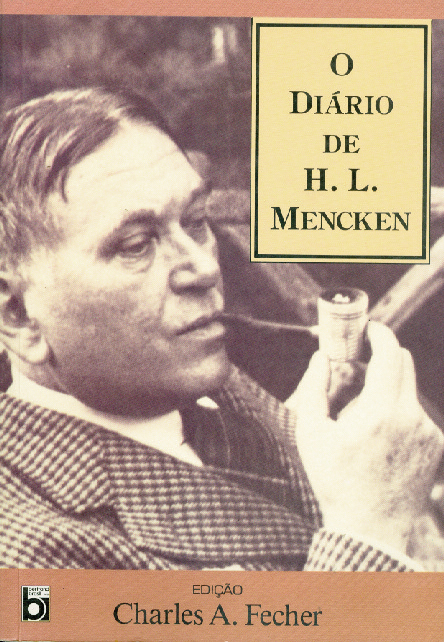
[caption id="attachment_12915" align="alignleft" width="300"] Diário de Henry Louis Mencken critica, sem contemplação, escritores consagrados[/caption]
H. L. Mencken (1880-1956) deixou um “Diário” (Bertrand Brasil, 575 páginas, tradução de Bentto de Lima) de qualidade desigual, com comentários às vezes puramente idiossincráticos, mas quase sempre divertidos, polêmicos. Há variações de humor e mudanças de opinião, por exemplo sobre Theodore Dreiser, mais conhecido, no Brasil, por um belo filme de George Stevens, “Um Lugar ao Sol”, com Elizabeth Taylor e Montgomery Clift. Ele desce o porrete em quase todo mundo, até em ícones americanos como Herman Melville, F. Scott Fitzgerald e William Faulkner.
O cacete no lombo de Melville é federal. Numa anotação de fevereiro de 1941, Mencken tira as luvas de pelica e põe as luvas de boxe ou de MMA: “Na semana passada, li, pela primeira vez, o romance ‘Moby Dick’. Fiquei realmente surpreso com a má qualidade. Nos últimos anos, foi enaltecido com tanta eloquência por muitos homens que deveriam conhecer melhor o assunto e, assim, criei grande expectativa. Achei um escrito extremamente dispersivo e flatulento. No final, o melodrama simplesmente malogra, e a vingança como motivação, várias vezes, beira perigosa à comicidade.
“Uma das coisas que todos os colegas parecem ter ignorado é a grande dívida de Melville para com Carlyle. Seu estilo, sempre que realmente solta a mão, se torna puro carlyliano e da pior qualidade. Walt Whitman sofreu a mesma influência. Seus primeiros escritos jornalísticos eram num inglês direto, pobre e indiferenciado que caracterizava o jornalista de sua época, mas, depois que entrou em contato com Carlyle, forjou um estilo carlyliano próprio que pode ser encontrado em toda sua prosa posterior.
“No conjunto, parece-me que este carlyliano era melhor do que o ‘jornalês’ da primeira fase de Whitman. Entretanto, sempre guarda certa afetação e deixa a descoberto a frequente falta de honestidade.
“O mesmo é verdadeiro para a redação de Melville. Mesmo quando imita Carlyle com sucesso máximo, continua sempre uma imitação.”
Mencken fazia julgamentos peremptórios, nem sempre preocupando-se, talvez estivesse apenas escrevendo um diário, em demonstrar e fundamentar, com rigor, sua crítica, ou, quem sabe, insights. Se imitou Carlyle, como quer o crítico americano, Melville acabou por superá-lo.
No “Diário”, Mencken escreve frases secas e ásperas: “O homem que conhece muitas línguas raramente escreve bem em algumas delas”. Ele aponta como exceção Joseph Conrad. Mas o que dizer de grandes prosadores como James Joyce e Guimarães Rosa?
Faulkner, coitado, é apresentado como bêbado e mal educado. Sua obra é solenemente ignorada.
Uma coletânea das “maldades” de Mencken pode ser conferida em “O Livro dos Insultos” (Companhia das Letras, 264 páginas, tradução de Ruy Castro). O porrete come solto, quase sempre de maneira divertida. Para Mencken, não havia autor intocável.
Diário de Henry Louis Mencken critica, sem contemplação, escritores consagrados[/caption]
H. L. Mencken (1880-1956) deixou um “Diário” (Bertrand Brasil, 575 páginas, tradução de Bentto de Lima) de qualidade desigual, com comentários às vezes puramente idiossincráticos, mas quase sempre divertidos, polêmicos. Há variações de humor e mudanças de opinião, por exemplo sobre Theodore Dreiser, mais conhecido, no Brasil, por um belo filme de George Stevens, “Um Lugar ao Sol”, com Elizabeth Taylor e Montgomery Clift. Ele desce o porrete em quase todo mundo, até em ícones americanos como Herman Melville, F. Scott Fitzgerald e William Faulkner.
O cacete no lombo de Melville é federal. Numa anotação de fevereiro de 1941, Mencken tira as luvas de pelica e põe as luvas de boxe ou de MMA: “Na semana passada, li, pela primeira vez, o romance ‘Moby Dick’. Fiquei realmente surpreso com a má qualidade. Nos últimos anos, foi enaltecido com tanta eloquência por muitos homens que deveriam conhecer melhor o assunto e, assim, criei grande expectativa. Achei um escrito extremamente dispersivo e flatulento. No final, o melodrama simplesmente malogra, e a vingança como motivação, várias vezes, beira perigosa à comicidade.
“Uma das coisas que todos os colegas parecem ter ignorado é a grande dívida de Melville para com Carlyle. Seu estilo, sempre que realmente solta a mão, se torna puro carlyliano e da pior qualidade. Walt Whitman sofreu a mesma influência. Seus primeiros escritos jornalísticos eram num inglês direto, pobre e indiferenciado que caracterizava o jornalista de sua época, mas, depois que entrou em contato com Carlyle, forjou um estilo carlyliano próprio que pode ser encontrado em toda sua prosa posterior.
“No conjunto, parece-me que este carlyliano era melhor do que o ‘jornalês’ da primeira fase de Whitman. Entretanto, sempre guarda certa afetação e deixa a descoberto a frequente falta de honestidade.
“O mesmo é verdadeiro para a redação de Melville. Mesmo quando imita Carlyle com sucesso máximo, continua sempre uma imitação.”
Mencken fazia julgamentos peremptórios, nem sempre preocupando-se, talvez estivesse apenas escrevendo um diário, em demonstrar e fundamentar, com rigor, sua crítica, ou, quem sabe, insights. Se imitou Carlyle, como quer o crítico americano, Melville acabou por superá-lo.
No “Diário”, Mencken escreve frases secas e ásperas: “O homem que conhece muitas línguas raramente escreve bem em algumas delas”. Ele aponta como exceção Joseph Conrad. Mas o que dizer de grandes prosadores como James Joyce e Guimarães Rosa?
Faulkner, coitado, é apresentado como bêbado e mal educado. Sua obra é solenemente ignorada.
Uma coletânea das “maldades” de Mencken pode ser conferida em “O Livro dos Insultos” (Companhia das Letras, 264 páginas, tradução de Ruy Castro). O porrete come solto, quase sempre de maneira divertida. Para Mencken, não havia autor intocável.

Como estava fora do país, li tardiamente os obituários de Ariano Suassuna. Quando terminei, concluí: estão falando de Machado de Assis, James Joyce, Graciliano Ramos, William Faulkner, Thomas Mann e Guimarães Rosa — menos de Ariano Suassuna. O escritor paraibano, quase pernambucano, parece ter escrito “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “Ulysses”, “O Som e a Fúria”, “A Montanha Mágica”, “Vidas Secas” e “Grande Sertão: Veredas”. Quando ficou conhecido, na verdade, não pelo livro, e sim pelo filme “O Auto da Compadecida”, uma ode ao caipirismo. Ariano Suassuna não é um par de nenhum dos escritores citados acima. Porém, como a morte transforma qualquer um em gênio da raça, ao menos nos tristes trópicos, de repente ele se tornou quase um Gilberto Freyre da prosa. A imprensa tende (ou tendia) a apresentar Ariano Suassuna como um resistente ao capitalismo. Ele era um resistente, dos mais retardatários, à modernização. Como os socialistas, o romancista, poeta e dramaturgo — e mais uma dezenas de coisas, como conselheiro de políticos de Pernambuco —, não dizia respeito ao presente. Esteve sempre voltado para o passado, tratado de maneira idílica, nostálgica. Para Ariano Suassuna, o brasileiro urbano, moderno e em contato com as coisas do mundo, não existe, é ficção. O brasileiro é visto, na prosa de Suassuna, como o eterno caipira. É isto que chamo de estetização do caipira. Ao estetizar o caipira, ao apresentá-lo como esperto, entre bonzinho e maledicente, o escritor o cristaliza como o homem (herói) ideal, quiçá o “homem cordial”. Um Macunaíma manqué. Parte da obra de Ariano Suassuna é um ataque frontal ao moderno e mesmo ao que há de mais avançado no passado, mesmo o remoto. O homem ideal, enfim, é o caipira esperto — Chicó e João Grilo. O homem institucional, às vezes apresentado como “civilizado”, não existe para o caipora paraibano. Se existe (como padres, policiais), é para ser enganado por Chicós e Grilos.
Ao dizer na manchete de capa “Morre uma esperança”, sobre o pernambucano Eduardo Campos, o “Pop” ensaia uma espécie de adesão ao messianismo. Muitos políticos, às vezes até bem intencionados, não dão certo porque se exige deles que sejam não organizadores do Estado e um instrumento de crescimento e desenvolvimento do país, e sim um Messias, um salvador da pátria, um indivíduo que, com um golpe certeiro, reconstrói e refaz, praticamente do nada, toda a história dopaís. Lula da Silva é um pouco produto desta visão messiânico-salvacionista. Às vezes, o gestor mais eficiente e que estabiliza o país é o que sabe fazer o feijão com arroz e não inventa muito. Os “inventores”, como Fernando Collor de Mello, em geral são presidentes de segunda categoria. Curiosamente, o “Pop”, em nenhum momento, quando Eduardo Campos era vivo, o tratava como esperança. Pelo contrário, dava-lhe pouco espaço.

Canto fúnebre sem música
 Não me conformo em ver baixarem à terra dura os corações amorosos,
É assim, assim há de ser, pois assim tem sido desde tempos imemoriais:
Partem para a treva os sábios e os encantadores. Coroados
De louros e de lírios, partem; porém não me conformo com isso.
Amantes, pensadores, misturados com a terra!
Unificados com a triste, indistinta poeira.
Um fragmento do que sentíeis, do que sabíeis,
Uma fórmula, uma frase resta — porém o melhor se perdeu.
As réplicas vivas, rápidas, o olhar sincero, o riso, o amor
foram-se embora. Foram-se para alimento das rosas. Elegante, ondulosa
é a flor. Perfumada é a flor. Eu sei. Porém não estou de acordo.
Mais preciosa era a luz em vossos olhos do que todas as rosas do mundo.
Vão baixando, baixando, baixando à escuridão do túmulo
Suavemente, os belos, os carinhosos, os bons.
Tranquilamente baixam os espirituosos, os engraçados, os valorosos.
Eu sei. Porém não estou de acordo. E não me conformo.
[Tradução de Carlos Drummond de Andrade,
“Poesia Traduzida”, Editora Cosacnaify]
Não me conformo em ver baixarem à terra dura os corações amorosos,
É assim, assim há de ser, pois assim tem sido desde tempos imemoriais:
Partem para a treva os sábios e os encantadores. Coroados
De louros e de lírios, partem; porém não me conformo com isso.
Amantes, pensadores, misturados com a terra!
Unificados com a triste, indistinta poeira.
Um fragmento do que sentíeis, do que sabíeis,
Uma fórmula, uma frase resta — porém o melhor se perdeu.
As réplicas vivas, rápidas, o olhar sincero, o riso, o amor
foram-se embora. Foram-se para alimento das rosas. Elegante, ondulosa
é a flor. Perfumada é a flor. Eu sei. Porém não estou de acordo.
Mais preciosa era a luz em vossos olhos do que todas as rosas do mundo.
Vão baixando, baixando, baixando à escuridão do túmulo
Suavemente, os belos, os carinhosos, os bons.
Tranquilamente baixam os espirituosos, os engraçados, os valorosos.
Eu sei. Porém não estou de acordo. E não me conformo.
[Tradução de Carlos Drummond de Andrade,
“Poesia Traduzida”, Editora Cosacnaify]
Comentário do meio publicitário: Paulo Lacerda foi afastado da gerência comercial do “Pop” por três motivos. Primeiro, o jornal está faturando menos, especialmente na iniciativa privada. Segundo, teria perdido editais para o concorrente “Hoje”, que tem uma estrutura bem menor, mas estaria mais agressivo comercialmente. Terceiro, sua relação com as agências seria conflituosa. Paulo Lacerda, portanto, não teria sido tão-somente “promovido” a coordenador de eventos. Na versão de publicitários, ele teria, isto sim, “caído para o alto”. A retirada de seu nome do expediente provaria isto. “A tendência é, a médio prazo, se tornar rainha da Inglaterra e se aposentar”, afirma um publicitário. Não há consenso sobre o “afastamento” de Paulo Lacerda. Um publicitário experimentado garante que ele “não caiu para o alto” e que estaria satisfeito, “até muito satisfeito”, com o cargo de coordenador de eventos.


