Por Cláudio Ribeiro

O sucesso absoluto de "Tristam Shandy" pode ser explicado pela nossa necessidade inerente de ver o mundo às avessas, de liberar, para usar uma expressão do professor Luiz Costa Lima, o imaginário de suas amarras morais e temporais
[caption id="attachment_94736" align="aligncenter" width="620"] Edição de "Tristam Shandy", em nove tomos[/caption]
“O mais maleável dos autores, ele também transmite ao seu leitor um tanto dessa maleabilidade. Sim, ele troca inadvertidamente os papéis, e logo é tanto leitor como autor; seu livro semelha um espetáculo dentro do espetáculo, um público teatral ante um outro público teatral. Há que se render incondicionalmente ao capricho de Sterne – podendo-se esperar que ele será clemente, bastante clemente. ”
— Nietzsche, “Humano, demasiado humano”
Alex Sugamosto
Especial para o Jornal Opção
Em 1759, um clérigo irlandês chamado Laurence Sterne lançava o primeiro volume daquele que seria considerado por muitos intelectuais e artistas como um dos mais brilhantes e inovadores romances já publicados: “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”. Admirado por Nietzsche — que não era lá um sujeito de elogiar muita gente — e Stendhal, Laurence Sterne é conhecido no Brasil por ter sido mencionado no célebre prólogo da quarta edição de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. Segundo Machado de Assis, Sterne influenciou o seu Brás Cubas no uso da forma livre e na temática das viagens. Certamente, Machado se referia ao livro “Uma viagem sentimental” em que o autor irlandês narra viagens — reais e imaginárias — pela França e pela Itália. Livro divertidíssimo e desafiador, “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy” foi traduzido no Brasil por José Paulo Paes e lançado pela Companhia das Letras (o volume, no entanto, está esgotado há muito tempo e o exemplar usado é vendido a preços altíssimos por livreiros).
[caption id="attachment_94735" align="alignleft" width="286"]
Edição de "Tristam Shandy", em nove tomos[/caption]
“O mais maleável dos autores, ele também transmite ao seu leitor um tanto dessa maleabilidade. Sim, ele troca inadvertidamente os papéis, e logo é tanto leitor como autor; seu livro semelha um espetáculo dentro do espetáculo, um público teatral ante um outro público teatral. Há que se render incondicionalmente ao capricho de Sterne – podendo-se esperar que ele será clemente, bastante clemente. ”
— Nietzsche, “Humano, demasiado humano”
Alex Sugamosto
Especial para o Jornal Opção
Em 1759, um clérigo irlandês chamado Laurence Sterne lançava o primeiro volume daquele que seria considerado por muitos intelectuais e artistas como um dos mais brilhantes e inovadores romances já publicados: “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”. Admirado por Nietzsche — que não era lá um sujeito de elogiar muita gente — e Stendhal, Laurence Sterne é conhecido no Brasil por ter sido mencionado no célebre prólogo da quarta edição de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. Segundo Machado de Assis, Sterne influenciou o seu Brás Cubas no uso da forma livre e na temática das viagens. Certamente, Machado se referia ao livro “Uma viagem sentimental” em que o autor irlandês narra viagens — reais e imaginárias — pela França e pela Itália. Livro divertidíssimo e desafiador, “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy” foi traduzido no Brasil por José Paulo Paes e lançado pela Companhia das Letras (o volume, no entanto, está esgotado há muito tempo e o exemplar usado é vendido a preços altíssimos por livreiros).
[caption id="attachment_94735" align="alignleft" width="286"] Laurence Sterne, por Joshua Reynolds[/caption]
Mas, afinal, qual é a grande inovação de Laurence Sterne e do que se trata esse romance praticamente desconhecido no Brasil? O enredo elementar do livro é bastante simples: um homem chamado Tristram Shandy narra suas memórias e a origem dos modos e dos haveres, intelectuais e materiais, que adquiriu ao longo da vida. No entanto, essa intenção narrativa é desmontada logo nas primeiras páginas do "Shandy": o narrador inicia sua prosa com uma série de peripécias que vão desmontando a estrutura linear do romance, a organização lógica das memórias e a própria tessitura do sujeito que as enuncia. Não por menos, Laurence Sterne parece ter influenciado, direta ou indiretamente, os experimentos de Joyce e Beckett-- autores que, coincidentemente, também são irlandeses.
As artimanhas de Sterne, entretanto, não se restringem apenas aos usos da estrutura do romance. Durante o livro, deparamos como páginas em branco, trechos aleatórios, parágrafos riscados... segundo o próprio Laurence Sterne, um dos capítulos foi suprimido por ser bom demais, o que acabaria prejudicando o equilíbrio geral da obra.
No cerne do “Tristam Shandy”, parece habitar aquela centelha que levou Rabelais a parodiar todos os elementos respeitáveis da alta cultura de seu tempo. O próprio título da obra, “A Vida e as Opiniões”, é, na verdade, uma troça com uma certa categoria de livros mui grandiloquentes que eram publicados à época com intuito de disseminar determinadas filosofias morais entre a população letrada. O sucesso absoluto do livro de Sterne pode ser explicado pela nossa necessidade inerente de ver o mundo às avessas, de liberar, para usar uma expressão do professor Luiz Costa Lima, o imaginário de suas amarras morais e temporais. Deixemos que o próprio autor explique seus ensejos:
Laurence Sterne, por Joshua Reynolds[/caption]
Mas, afinal, qual é a grande inovação de Laurence Sterne e do que se trata esse romance praticamente desconhecido no Brasil? O enredo elementar do livro é bastante simples: um homem chamado Tristram Shandy narra suas memórias e a origem dos modos e dos haveres, intelectuais e materiais, que adquiriu ao longo da vida. No entanto, essa intenção narrativa é desmontada logo nas primeiras páginas do "Shandy": o narrador inicia sua prosa com uma série de peripécias que vão desmontando a estrutura linear do romance, a organização lógica das memórias e a própria tessitura do sujeito que as enuncia. Não por menos, Laurence Sterne parece ter influenciado, direta ou indiretamente, os experimentos de Joyce e Beckett-- autores que, coincidentemente, também são irlandeses.
As artimanhas de Sterne, entretanto, não se restringem apenas aos usos da estrutura do romance. Durante o livro, deparamos como páginas em branco, trechos aleatórios, parágrafos riscados... segundo o próprio Laurence Sterne, um dos capítulos foi suprimido por ser bom demais, o que acabaria prejudicando o equilíbrio geral da obra.
No cerne do “Tristam Shandy”, parece habitar aquela centelha que levou Rabelais a parodiar todos os elementos respeitáveis da alta cultura de seu tempo. O próprio título da obra, “A Vida e as Opiniões”, é, na verdade, uma troça com uma certa categoria de livros mui grandiloquentes que eram publicados à época com intuito de disseminar determinadas filosofias morais entre a população letrada. O sucesso absoluto do livro de Sterne pode ser explicado pela nossa necessidade inerente de ver o mundo às avessas, de liberar, para usar uma expressão do professor Luiz Costa Lima, o imaginário de suas amarras morais e temporais. Deixemos que o próprio autor explique seus ensejos:
“(...) portanto, meu caro amigo e companheiro, se me julgardes algo parcimonioso na narrativa dos meus primórdios, tende paciência comigo, e deixa-me prosseguir e contar a história à minha maneira: ou, se eu parecer aqui e ali vadiar pelo caminho, ou, por vezes, enfiar na cabeça um chapéu de doido com sinos e tudo, durante um ou dois momentos de nossa jornada, não fujais, mas cortesmente dai-me o crédito de um pouco mais de sabedoria do que a aparentada pelo meu aspecto exterior; e à medida que formos adiante, aos solavancos, ride comigo ou de mim, em suma, fazei o que quiserdes, mas não percais as estribeiras.Alex Sugamosto é professor de Literatura e consultor na empresa El-Kouba

Tiração de sarro com a poesia parnasiana, o livro do poeta curitibano se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia
[caption id="attachment_94625" align="aligncenter" width="620"] Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:
Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]
Emmanuel Santiago
Especial para o Jornal Opção
Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:
 Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...
Sai a passeio, mal o dia nasce,
Bela, nas simples roupas vaporosas;
E mostra às rosas do jardim as rosas
Frescas e puras que possui na face.
Passa. E todo o jardim, por que ela passe,
Atavia-se. Há falas misteriosas
Pelas moitas, saudando-a respeitosas...
É como se uma sílfide passasse!
E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro
Curvam-se as flores trêmulas... O bando
Das aves todas vem saudá-la em coro...
E ela vai, dando ao sol o rosto brando,
Às aves dando o olhar, ao vento o louro
Cabelo, e às flores os sorrisos dando...
... transforma-se em:
Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...
Sai a passeio, mal o dia nasce,
Bela, nas simples roupas vaporosas;
E mostra às rosas do jardim as rosas
Frescas e puras que possui na face.
Passa. E todo o jardim, por que ela passe,
Atavia-se. Há falas misteriosas
Pelas moitas, saudando-a respeitosas...
É como se uma sílfide passasse!
E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro
Curvam-se as flores trêmulas... O bando
Das aves todas vem saudá-la em coro...
E ela vai, dando ao sol o rosto brando,
Às aves dando o olhar, ao vento o louro
Cabelo, e às flores os sorrisos dando...
... transforma-se em:
 O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.
Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:
hoje o livro o passado talvez so-
-nhasse aos raios em que céus em que
sombria lembrança as estrelas trêmulas
infinita escada moita flor noite
luares? partindo e olhava degrau vives
trêmulo olhar estas aquelas um
anjo a harpa súplicas, feria das
estrelas sombra corta umas vós
também ilusões tua virgindade
de pudor a armadura neve das
capelas um bando de sombras meu
amor guardando montanhas coral
vi olhar celeste erguendo a alvura
neve cobre os flancos desnudo seio
Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.
Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.
Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.
É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.
Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.
[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"]
O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.
Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:
hoje o livro o passado talvez so-
-nhasse aos raios em que céus em que
sombria lembrança as estrelas trêmulas
infinita escada moita flor noite
luares? partindo e olhava degrau vives
trêmulo olhar estas aquelas um
anjo a harpa súplicas, feria das
estrelas sombra corta umas vós
também ilusões tua virgindade
de pudor a armadura neve das
capelas um bando de sombras meu
amor guardando montanhas coral
vi olhar celeste erguendo a alvura
neve cobre os flancos desnudo seio
Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.
Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.
Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.
É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.
Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.
[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"] Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]
Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.
A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.
Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.
[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"]
Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]
Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.
A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.
Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.
[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"] Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]
PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.
Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
______________________________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.
SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.
Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]
PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.
Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.
Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.
______________________________________
Referências bibliográficas
BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.
SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.

“A consoada” foi publicado na segunda parte do livro Natal de Herodes, do poeta baiano Wladimir Saldanha, lançado pela editora Mondrongo, de Itabuna (BA), em 31 de março deste ano. É dedicado à estudiosa de literatura russa, poetisa e mãe Lorena Miranda Cutlak (autora do livro de poesias O Corpo Nulo, lançado em 2015 pela mesma Mondrongo).
Apreciem!

A consoada
Para Lorena Miranda Cutlak O menino põe tudo na boca: põe na boca o fio de feno, põe na boca o grão de incenso, ouro e mirra põe na boca, Mal nasceu, deixa a mãe louca! Não pode ser já venha dente coçando na gengiva, crente da Palavra que dirá tal boca... Será engraçado contar-lhe num dia sagrado, dia de jejum, como a criança era esfomeada: como quase comeu, bicho, o feno; humano, o ouro; místico, o incenso e a mirra; e quão total, a consoada.
Provar que investigados em casos de crimes complexos, tais como corrupção e lavagem de dinheiro, são, de fato, culpados é uma árdua tarefa. Este tipo de crime exige um adequado manejo das chamadas “provas indiretas”

Curso de capacitação oferecido pela metodologia Empretec, da Organização das Nações Unidas, forma, por ano, 10 mil pessoas no Brasil

Caberia até dizer que Wagner Schadeck chegou a conseguir alguns efeitos especiais na tradução das "Odes" de Jonh Keats, talvez melhores que os do original
[caption id="attachment_93967" align="aligncenter" width="620"] John Keats[/caption]
Matheus de Souza Almeida
Especial para o Jornal Opção
Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.
Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?
Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."
[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"]
John Keats[/caption]
Matheus de Souza Almeida
Especial para o Jornal Opção
Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.
Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?
Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."
[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"] "Odes", de John Keats (Anticítera, 2017. Tradução de Wagner Schadeck)[/caption]
Não vou aborrecer o leitor explicando o que cada uma dessas palavras feias quer dizer ("consonância", "iâmbico"). A parte do prefácio que fala da tradução de poesia como "a transcrição de uma partitura original, escrita para determinado instrumento, com arranjo para outro", é mais clara: a tradução deve preservar, "a depender do musicista e da qualidade do instrumento transposto, a harmônica e consoantemente bela." Sejamos, porém, ainda mais didáticos e digamos que você lê o original, desmonta todas as suas pecinhas e coloca-as na lâmina de ensaio. A partir daí observe, dr., a maneira como "unravish'd" (inviolada) serve de adjetivo a "bride" (noiva), bem como a maneira com que "bride" abre o leque num estalo e exibe: "of quietness" (da quietude). Que tipo de ganho a nível molecular existe em usar especificamente o adjetivo "inviolada" e não, simplesmente, "virgem"? Há algum motivo para ela ser uma noiva? Para ser uma noiva da quietude? -- E a moral da história é que todo o minucioso relato que resultar de tal operação de análise buscou ser reproduzido na tradução, o que implica, na prática, que você, investindo seu dinheirinho na simpática brochura publicada pela Anticítera, terá feito a coisa certa.
Não é a primeira vez que Keats recebe um tratamento de luxo. Convém lembrar que as "Odes" já foram apresentadas para o leitor brasileiro, nem sempre na íntegra, a partir de traduções competentes de uma galera do calibre de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Augusto de Campos ou a dupla John Milton e Alberto Marsicano, além de tradutores esparsos como Ivo Barroso, Décio Pignatari ou Leonardo Antunes. Wagner se comunica bem com todos eles, por exemplo ao tomar emprestado a palavra "adufes" da tradução do Ivo para a "Ode sobre uma urna grega" ou então ao traduzir "Tasting" por "Sabendo", mesma opção que Augusto de Campos usara na "Ode a um rouxinol" (é um sentido meio arcaico do verbo, mas, de resto, "saber" e "sabor" possuem a mesma origem em latim: "supere").
São muitos os resultados felizes. A nível individual poderíamos citar um verso como "Que lenda à franja flórea em tua orla traça", tradução de "What leaf-fringed legend haunts about thy shape", quinto verso da primeira estrofe de "Ode sobre uma urna grega". É um verso difícil de ser traduzido, especialmente por conter em seu bojo palavras que, sem o devido cuidado, poderiam abrir as asinhas e duplicar o tamanho de um verso que precisa, de acordo com os parâmetros estipulados, ter um comprimento determinado. Mas não só: a maneira com que a consoante L suavemente deixa sua marca ao longo do verso, mesclada à rima interna entre "flórea" e "orla", ao som anasalado de "lENda à frANja" e, por fim, ao F duplo em "Franja Flórea" -- toda essa coreografia, em suma, é algo agradável (você lê e quase suspira) e consegue corresponder tintim por tintim ao que encontramos no próprio original: veja o L de "Leaf-fringed Legend", o F em "leaF-Fringed" e o jogo em "abOUt thY shApe" ("abÁU dÁI xÊIp": trate de abrir a boca se quiser pronunciar isso).
Noutros podemos elogiar a simplicidade tocante, por exemplo em "Mergulhe fundo ao fundo desse olhar", onde a repetição de "fundo", indicando ênfase e um mergulho efetivo, traduz o que está lá, no lado esquerdo do livro aberto: "And feed deep, deep upon her peerles eyes." Noto também que a ênfase na vogal U durante quase todo o verso, avançando até que feche com o A aberto de "olhar", como se de fato abríssemos os olhos após a leitura, é um modo de traduzir o E do original, que marca terreno num reino capitaneado pela consoante P até passar o bastão para o fonema aberto de "eyes".
Creio que caberia até dizermos, com uma ousadia justificável, que Wagner chegou a conseguir alguns efeitos especiais se brincar melhores que os do original, à guisa de "Ressonando num sulco arado ao meio", que possui não só a sonoridade da consoante S agilizando a leitura (é como se mais do que ler, deslizássemos), mas também a vogal U muitíssimo bem marcada de "sulco" (que recebe, claro, uma forcinha de "num") inclusa entre dois A tônicos: "ressonAndo" e "arAdo". Alie-se ao fato (e desde já me desculpem pelo jargão) de que "sulco" ocupa a posição de cesura no decassílabo heroico que temos, assim sendo, uma frase que mimetiza o sulco, precisamente, arando o verso ao meio. Ora: não consigo ver nada disso no original, que estampa: "Drows'd with the fume of poppies, while thy hook / Spares the next swath and all its twined flowers" (tive de citar os dois versos pois Wagner muda um pouquinho a ordem dos termos).
Claro: não só de sonoridades é feita a tradução. O tradutor das "Odes" se vê diante do fato de que o poeta usa uns termos um tanto quanto específicos na construção do poema. É o que os franceses chamam de "le mot juste", isto é, a palavra certa, o termo exato. Veja-se o caso de "thatch-eves" na primeira estrofe de "Para o outono". Jogue no site de buscas que você vai encontrar imagens do que são "thatch-eves". Eu explico: pense numa cabaninha de palha. Ali perto do telhado, o que é aquilo? Parece um beiral, não parece? Pois bem. Foco nesse beiral. É isso aí. Ele é o "thatch-eve".
O ápice das minúcias a que a tradução se propõe, todavia, está nos termos botânicos. Veja-se parte da quinta estrofe de "Ode para um rouxinol":
A relva, a moita, o pomarejo gaio,
Roseira-brava, branco pinheirinho,
A fugaz violeta entre a folhagem,
O rebento de maio,
A rosa almíscar a orvalhar de vinho
E o murmúrio de moscas na estiagem.
Tradução de:
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast-fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies in summer eves.
Que coisa mais linda, não acha? Você não tem uma planta sequer que foi esquecida na tradução. O objetivo foi esse mesmo: trazer a turma toda, mas sem rachar o acrílico das belas imagens que são apresentadas. Note, por exemplo, a maneira hábil com que "full of dewy wine" (cheia de vinho orvalhado) se transforma em "a orvalhar de vinho". É uma imagem interessante, em especial por tomar um elemento puramente natural, o orvalho, e adicionar um elemento, por assim dizer, dionisíaco: o vinho. É como se a natureza toda se transformasse numa fanfarra. O poeta começa a estrofe dizendo: "Não posso ver as flores a meus pés, / Nem a ramagem que o olor remoça." Ele apenas supõe ("guess") as flores que ali estão, tudo na base dos sentidos. E no entanto, note o grau de riqueza, de detalhes, a maneira com que ele deixa que tudo aquilo invada seu íntimo e se transforme numa bela paisagem. Perder a mão na hora de traduzir com rigor o correspondente exato para cada uma dessas plantas e flores seria uma maneira de baratear o apurado sentimento que o eu lírico demonstra nesta passagem. Fechar os olhos e genericamente imaginar flores a seus pés qualquer um imaginaria; pensar na roseira-brava e no branco pinheirinho, só Keats.
A tradução só me fez torcer o nariz quando, em algumas passagens, ela me pareceu de leitura truncada e confusa. Wagner, de um modo geral, dispensou os sinais de pontuação que Keats dispôs em seu texto, em específico o ponto e vírgula. Veja-se o final da sexta estrofe da mesma ode sobre o rouxinol:
Agora me parece bom morrer,
Cessando à meia-noite sem pesares,
Enquanto o teu espírito depões
Com êxtase do ser,
Hei de te ouvir, inda que em vão cantares,
Enxertando-lhe o réquiem em torrões.
Existe uma guinada no interior da frase brusca demais para que uma simples vírgula dê conta. Isto a partir, em específico, de "Com êxtase do ser" e "Hei de te ouvir". Ainda, a flexão do verbo "cantar" em "cantares" parece desconexa, malgrado o fato de a certo custo ligarmo-la ao rouxinol graças à segunda pessoa do singular usada ao longo da estrofe (veja o "Hei de TE ouvir"). Faltou uma vírgula, quem sabe: "inda que em vão, cantares". Todavia, de onde veio esse "lhe"? De "do ser"? Eu sinceramente não sei. Diz o original:
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.
A tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos consegue dar conta do recado com clareza:
enquanto em tôrno a ti vais derramando tua alma
com todo êsse arrebatamento!
Cantarias ainda; mas de nada valeriam meus ouvidos,
para teu alto réquiem transformados em relvosa terra.
Não sei como este problema poderia ser resolvido no caso citado, mas poderíamos ficar também com:
E afoito amante, nunca, nunca beijes,
Embora a meta à frente, não te agraves,
Não se esvai ela, mesmo que a desejes,
Sempre a amarás, sendo ela sempre linda!
O original:
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever will thou love, and she be fair!
Até que está tranquilo de entender, embora esse "Não se esvai ela" tenha me parecido cacofônico demais e sem necessidade (bastaria a ordem direta: "Ela não se esvai"). O ponto que faço é que poderíamos contar com sinais de pontuação além das vírgulas indicando melhor a maneira com que as frases do original se descabelam. Era a praxe de poetas românticos.
Morrer -- é ver extinto dentre as névoas
O fanal, que nos guia na tormenta:
Condenado -- escutar dobres de sino,
-- Voz da morte, que a morte lhe lamenta --
Ai! morrer -- é trocar astros por círios,
Leito macio por esquife imundo,
Trocar os beijos da mulher -- no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.
Isso é Castro Alves em "Mocidade e Morte". Os dois pontos e os travessões existem para realçar as gradações do sentimento, não apenas a maneira como se atropelam e sobrepõem os "dobres de sino" à "Voz da morte", mas também quando agravam a situação retratada e avançam dos "beijos da mulher" direto para o "visco / Da larva errante". Às vezes parecem até pontadas de sofrimento: "Ai! morrer". Em dois versos e se valendo de alguns travessões o poeta faz um verdadeiro trabalho de dobradura com a morte, indicando que ela existe nos dobres de sino sob a forma de uma voz que, fúnebre, lamenta a morte do condenado. Só que, graças à interjeição do poeta, é como se ele próprio se comparasse ao condenado, permitindo, assim, que se dê prosseguimento a seu périplo de guinadas violentas. Num poema que contrapõe camadas de sentido de maneira energética, claramente visto no título e em versos como "Leito macio por esquife imundo", é impensável transformar tudo num manancial de vírgulas. Faça você mesmo o teste. Não vai dar conta.
Matheus de Souza Almeida é crítico e tradutor.
"Odes", de John Keats (Anticítera, 2017. Tradução de Wagner Schadeck)[/caption]
Não vou aborrecer o leitor explicando o que cada uma dessas palavras feias quer dizer ("consonância", "iâmbico"). A parte do prefácio que fala da tradução de poesia como "a transcrição de uma partitura original, escrita para determinado instrumento, com arranjo para outro", é mais clara: a tradução deve preservar, "a depender do musicista e da qualidade do instrumento transposto, a harmônica e consoantemente bela." Sejamos, porém, ainda mais didáticos e digamos que você lê o original, desmonta todas as suas pecinhas e coloca-as na lâmina de ensaio. A partir daí observe, dr., a maneira como "unravish'd" (inviolada) serve de adjetivo a "bride" (noiva), bem como a maneira com que "bride" abre o leque num estalo e exibe: "of quietness" (da quietude). Que tipo de ganho a nível molecular existe em usar especificamente o adjetivo "inviolada" e não, simplesmente, "virgem"? Há algum motivo para ela ser uma noiva? Para ser uma noiva da quietude? -- E a moral da história é que todo o minucioso relato que resultar de tal operação de análise buscou ser reproduzido na tradução, o que implica, na prática, que você, investindo seu dinheirinho na simpática brochura publicada pela Anticítera, terá feito a coisa certa.
Não é a primeira vez que Keats recebe um tratamento de luxo. Convém lembrar que as "Odes" já foram apresentadas para o leitor brasileiro, nem sempre na íntegra, a partir de traduções competentes de uma galera do calibre de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Augusto de Campos ou a dupla John Milton e Alberto Marsicano, além de tradutores esparsos como Ivo Barroso, Décio Pignatari ou Leonardo Antunes. Wagner se comunica bem com todos eles, por exemplo ao tomar emprestado a palavra "adufes" da tradução do Ivo para a "Ode sobre uma urna grega" ou então ao traduzir "Tasting" por "Sabendo", mesma opção que Augusto de Campos usara na "Ode a um rouxinol" (é um sentido meio arcaico do verbo, mas, de resto, "saber" e "sabor" possuem a mesma origem em latim: "supere").
São muitos os resultados felizes. A nível individual poderíamos citar um verso como "Que lenda à franja flórea em tua orla traça", tradução de "What leaf-fringed legend haunts about thy shape", quinto verso da primeira estrofe de "Ode sobre uma urna grega". É um verso difícil de ser traduzido, especialmente por conter em seu bojo palavras que, sem o devido cuidado, poderiam abrir as asinhas e duplicar o tamanho de um verso que precisa, de acordo com os parâmetros estipulados, ter um comprimento determinado. Mas não só: a maneira com que a consoante L suavemente deixa sua marca ao longo do verso, mesclada à rima interna entre "flórea" e "orla", ao som anasalado de "lENda à frANja" e, por fim, ao F duplo em "Franja Flórea" -- toda essa coreografia, em suma, é algo agradável (você lê e quase suspira) e consegue corresponder tintim por tintim ao que encontramos no próprio original: veja o L de "Leaf-fringed Legend", o F em "leaF-Fringed" e o jogo em "abOUt thY shApe" ("abÁU dÁI xÊIp": trate de abrir a boca se quiser pronunciar isso).
Noutros podemos elogiar a simplicidade tocante, por exemplo em "Mergulhe fundo ao fundo desse olhar", onde a repetição de "fundo", indicando ênfase e um mergulho efetivo, traduz o que está lá, no lado esquerdo do livro aberto: "And feed deep, deep upon her peerles eyes." Noto também que a ênfase na vogal U durante quase todo o verso, avançando até que feche com o A aberto de "olhar", como se de fato abríssemos os olhos após a leitura, é um modo de traduzir o E do original, que marca terreno num reino capitaneado pela consoante P até passar o bastão para o fonema aberto de "eyes".
Creio que caberia até dizermos, com uma ousadia justificável, que Wagner chegou a conseguir alguns efeitos especiais se brincar melhores que os do original, à guisa de "Ressonando num sulco arado ao meio", que possui não só a sonoridade da consoante S agilizando a leitura (é como se mais do que ler, deslizássemos), mas também a vogal U muitíssimo bem marcada de "sulco" (que recebe, claro, uma forcinha de "num") inclusa entre dois A tônicos: "ressonAndo" e "arAdo". Alie-se ao fato (e desde já me desculpem pelo jargão) de que "sulco" ocupa a posição de cesura no decassílabo heroico que temos, assim sendo, uma frase que mimetiza o sulco, precisamente, arando o verso ao meio. Ora: não consigo ver nada disso no original, que estampa: "Drows'd with the fume of poppies, while thy hook / Spares the next swath and all its twined flowers" (tive de citar os dois versos pois Wagner muda um pouquinho a ordem dos termos).
Claro: não só de sonoridades é feita a tradução. O tradutor das "Odes" se vê diante do fato de que o poeta usa uns termos um tanto quanto específicos na construção do poema. É o que os franceses chamam de "le mot juste", isto é, a palavra certa, o termo exato. Veja-se o caso de "thatch-eves" na primeira estrofe de "Para o outono". Jogue no site de buscas que você vai encontrar imagens do que são "thatch-eves". Eu explico: pense numa cabaninha de palha. Ali perto do telhado, o que é aquilo? Parece um beiral, não parece? Pois bem. Foco nesse beiral. É isso aí. Ele é o "thatch-eve".
O ápice das minúcias a que a tradução se propõe, todavia, está nos termos botânicos. Veja-se parte da quinta estrofe de "Ode para um rouxinol":
A relva, a moita, o pomarejo gaio,
Roseira-brava, branco pinheirinho,
A fugaz violeta entre a folhagem,
O rebento de maio,
A rosa almíscar a orvalhar de vinho
E o murmúrio de moscas na estiagem.
Tradução de:
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast-fading violets cover'd up in leaves;
And mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies in summer eves.
Que coisa mais linda, não acha? Você não tem uma planta sequer que foi esquecida na tradução. O objetivo foi esse mesmo: trazer a turma toda, mas sem rachar o acrílico das belas imagens que são apresentadas. Note, por exemplo, a maneira hábil com que "full of dewy wine" (cheia de vinho orvalhado) se transforma em "a orvalhar de vinho". É uma imagem interessante, em especial por tomar um elemento puramente natural, o orvalho, e adicionar um elemento, por assim dizer, dionisíaco: o vinho. É como se a natureza toda se transformasse numa fanfarra. O poeta começa a estrofe dizendo: "Não posso ver as flores a meus pés, / Nem a ramagem que o olor remoça." Ele apenas supõe ("guess") as flores que ali estão, tudo na base dos sentidos. E no entanto, note o grau de riqueza, de detalhes, a maneira com que ele deixa que tudo aquilo invada seu íntimo e se transforme numa bela paisagem. Perder a mão na hora de traduzir com rigor o correspondente exato para cada uma dessas plantas e flores seria uma maneira de baratear o apurado sentimento que o eu lírico demonstra nesta passagem. Fechar os olhos e genericamente imaginar flores a seus pés qualquer um imaginaria; pensar na roseira-brava e no branco pinheirinho, só Keats.
A tradução só me fez torcer o nariz quando, em algumas passagens, ela me pareceu de leitura truncada e confusa. Wagner, de um modo geral, dispensou os sinais de pontuação que Keats dispôs em seu texto, em específico o ponto e vírgula. Veja-se o final da sexta estrofe da mesma ode sobre o rouxinol:
Agora me parece bom morrer,
Cessando à meia-noite sem pesares,
Enquanto o teu espírito depões
Com êxtase do ser,
Hei de te ouvir, inda que em vão cantares,
Enxertando-lhe o réquiem em torrões.
Existe uma guinada no interior da frase brusca demais para que uma simples vírgula dê conta. Isto a partir, em específico, de "Com êxtase do ser" e "Hei de te ouvir". Ainda, a flexão do verbo "cantar" em "cantares" parece desconexa, malgrado o fato de a certo custo ligarmo-la ao rouxinol graças à segunda pessoa do singular usada ao longo da estrofe (veja o "Hei de TE ouvir"). Faltou uma vírgula, quem sabe: "inda que em vão, cantares". Todavia, de onde veio esse "lhe"? De "do ser"? Eu sinceramente não sei. Diz o original:
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain
To thy high requiem become a sod.
A tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos consegue dar conta do recado com clareza:
enquanto em tôrno a ti vais derramando tua alma
com todo êsse arrebatamento!
Cantarias ainda; mas de nada valeriam meus ouvidos,
para teu alto réquiem transformados em relvosa terra.
Não sei como este problema poderia ser resolvido no caso citado, mas poderíamos ficar também com:
E afoito amante, nunca, nunca beijes,
Embora a meta à frente, não te agraves,
Não se esvai ela, mesmo que a desejes,
Sempre a amarás, sendo ela sempre linda!
O original:
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever will thou love, and she be fair!
Até que está tranquilo de entender, embora esse "Não se esvai ela" tenha me parecido cacofônico demais e sem necessidade (bastaria a ordem direta: "Ela não se esvai"). O ponto que faço é que poderíamos contar com sinais de pontuação além das vírgulas indicando melhor a maneira com que as frases do original se descabelam. Era a praxe de poetas românticos.
Morrer -- é ver extinto dentre as névoas
O fanal, que nos guia na tormenta:
Condenado -- escutar dobres de sino,
-- Voz da morte, que a morte lhe lamenta --
Ai! morrer -- é trocar astros por círios,
Leito macio por esquife imundo,
Trocar os beijos da mulher -- no visco
Da larva errante no sepulcro fundo.
Isso é Castro Alves em "Mocidade e Morte". Os dois pontos e os travessões existem para realçar as gradações do sentimento, não apenas a maneira como se atropelam e sobrepõem os "dobres de sino" à "Voz da morte", mas também quando agravam a situação retratada e avançam dos "beijos da mulher" direto para o "visco / Da larva errante". Às vezes parecem até pontadas de sofrimento: "Ai! morrer". Em dois versos e se valendo de alguns travessões o poeta faz um verdadeiro trabalho de dobradura com a morte, indicando que ela existe nos dobres de sino sob a forma de uma voz que, fúnebre, lamenta a morte do condenado. Só que, graças à interjeição do poeta, é como se ele próprio se comparasse ao condenado, permitindo, assim, que se dê prosseguimento a seu périplo de guinadas violentas. Num poema que contrapõe camadas de sentido de maneira energética, claramente visto no título e em versos como "Leito macio por esquife imundo", é impensável transformar tudo num manancial de vírgulas. Faça você mesmo o teste. Não vai dar conta.
Matheus de Souza Almeida é crítico e tradutor.
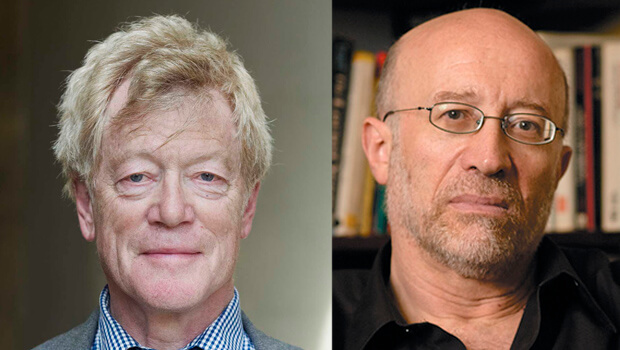
Para que a Europa continue a ser, apesar dos problemas recorrentes, um modelo de “mundo civilizado”, é necessário que tenha em vista a preservação da “ordem da cidade”
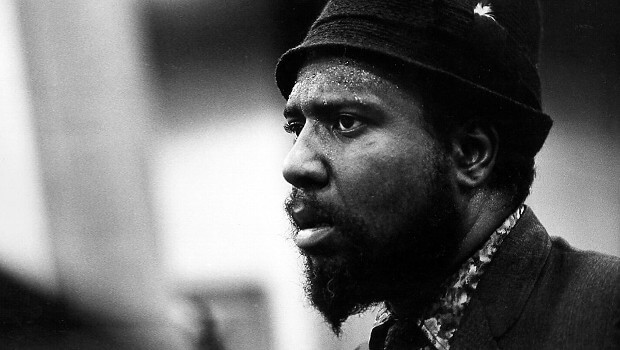
Mais um Playlist Opção para a sua noite de sexta-feira! Aperte o play e se divirta. https://www.youtube.com/watch?v=_40V2lcxM7k https://www.youtube.com/watch?v=KDz5wVc-4QI https://www.youtube.com/watch?v=s1Kkl6jd9-Y&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=S_7jacG2KsY https://www.youtube.com/watch?v=D7krrRoJpT0 https://www.youtube.com/watch?v=StYsZqLkuPI https://www.youtube.com/watch?v=AI6nIJ-anYQ

Renato Mendonça Lucas dá tratamento dramático a texto de Pe. Vieira em que é relatado seu debate com outro padre jesuíta, Jerônimo Cattaneo, ocorrido em 1674, a respeito do pensamento dos filósofos gentios Demócrito e Heráclito
[caption id="attachment_93453" align="alignleft" width="620"] Cartaz de divulgação do espetáculo "Antinomia"[/caption]
Nos próximos dias 5, 6, às 21h, e no dia 7, às 20h, ocorrem, no Teatro Goiânia, apresentações do espetáculo “Antinomia”, produzido pelo Gradiva Centro Cultural, pela Associação dos Amigos do Art Film Festival, de Asolo-Itália (AFA) e pelo Núcleo Freudiano de Psicanálise em Goiânia. A direção está a cargo do psicanalista Renato Mendonça Lucas, que também atuará, junto com Celso Rabelo.
O espetáculo tem como base o texto O Pranto e o Riso, ou as lágrimas de Heráclito defendidas em Roma pelo padre Antônio Vieira contra o riso de Demócrito, de autoria do próprio Pe. Vieira, escrito em decorrência do debate travado no palácio da rainha Cristina da Suécia, em Roma, com o padre Jerônimo Cattaneo, em 1674.
[caption id="attachment_93450" align="alignleft" width="300"]
Cartaz de divulgação do espetáculo "Antinomia"[/caption]
Nos próximos dias 5, 6, às 21h, e no dia 7, às 20h, ocorrem, no Teatro Goiânia, apresentações do espetáculo “Antinomia”, produzido pelo Gradiva Centro Cultural, pela Associação dos Amigos do Art Film Festival, de Asolo-Itália (AFA) e pelo Núcleo Freudiano de Psicanálise em Goiânia. A direção está a cargo do psicanalista Renato Mendonça Lucas, que também atuará, junto com Celso Rabelo.
O espetáculo tem como base o texto O Pranto e o Riso, ou as lágrimas de Heráclito defendidas em Roma pelo padre Antônio Vieira contra o riso de Demócrito, de autoria do próprio Pe. Vieira, escrito em decorrência do debate travado no palácio da rainha Cristina da Suécia, em Roma, com o padre Jerônimo Cattaneo, em 1674.
[caption id="attachment_93450" align="alignleft" width="300"] Padre Antônio Vieira[/caption]
Este debate entre dois padres pertencentes à Societas Jesu, Companhia de Jesus, na corte da rainha Cristina Alexandra, foi incitado pela própria rainha. O mote lançado por Cristina aos dois jesuítas na seguinte pergunta: “Qual dos dois gentios andara mais prudente? Demócrito, que ria sempre, ou Heráclito, que sempre chorava?”
A questão lançada versava, evidentemente, sobre o modo como cada um dos filósofos gregos pré-socráticos compreendiam a condição humana, sempre temperada pelo finito e o eterno, o contingente e o imutável.
Curiosamente, a rainha Cristina solicitou este debate num momento em que havia abdicado do trono de sua nação e abandonado a religião luterana, tendo-se convertido ao catolicismo.
A proposta de Renato Mendonça Lucas e do Gradiva Centro Cultural com “Antinomia” é semelhante àquelas que já foram levadas a cabo com rara maestria em espetáculos como “Laio”, “Entre 4 paredes” e “Entre 5 poetas”, qual seja: apresentar o texto clássico com dramaticidade peneirada pela psicanálise freudiana.
A própria escolha da palavra antinomia, de certa forma, revela esta preocupação, já que significa contradição entre visões doutrinárias ou prescritivas sobre determinado assunto – fenômeno que sempre esteve presente no seio da humanidade, desde os tempos mais remotos.
É de se esperar, portanto, um clima inquietante, no qual serão apresentadas reflexões profundas sobre nossa condição. Reflexões estas que serão debatidas com o público, após o espetáculo.
Abaixo, disponho um trecho do texto do Pe. Vieira. Em seguida, segue a parte do filme Palavra e Utopia (2000), do cineasta português Manoel de Oliveira, que retrata o referido debate, com o ator Luís Miguel Cintra interpretando Vieira.
Trecho do texto de Pe. Vieira
Padre Antônio Vieira[/caption]
Este debate entre dois padres pertencentes à Societas Jesu, Companhia de Jesus, na corte da rainha Cristina Alexandra, foi incitado pela própria rainha. O mote lançado por Cristina aos dois jesuítas na seguinte pergunta: “Qual dos dois gentios andara mais prudente? Demócrito, que ria sempre, ou Heráclito, que sempre chorava?”
A questão lançada versava, evidentemente, sobre o modo como cada um dos filósofos gregos pré-socráticos compreendiam a condição humana, sempre temperada pelo finito e o eterno, o contingente e o imutável.
Curiosamente, a rainha Cristina solicitou este debate num momento em que havia abdicado do trono de sua nação e abandonado a religião luterana, tendo-se convertido ao catolicismo.
A proposta de Renato Mendonça Lucas e do Gradiva Centro Cultural com “Antinomia” é semelhante àquelas que já foram levadas a cabo com rara maestria em espetáculos como “Laio”, “Entre 4 paredes” e “Entre 5 poetas”, qual seja: apresentar o texto clássico com dramaticidade peneirada pela psicanálise freudiana.
A própria escolha da palavra antinomia, de certa forma, revela esta preocupação, já que significa contradição entre visões doutrinárias ou prescritivas sobre determinado assunto – fenômeno que sempre esteve presente no seio da humanidade, desde os tempos mais remotos.
É de se esperar, portanto, um clima inquietante, no qual serão apresentadas reflexões profundas sobre nossa condição. Reflexões estas que serão debatidas com o público, após o espetáculo.
Abaixo, disponho um trecho do texto do Pe. Vieira. Em seguida, segue a parte do filme Palavra e Utopia (2000), do cineasta português Manoel de Oliveira, que retrata o referido debate, com o ator Luís Miguel Cintra interpretando Vieira.
Trecho do texto de Pe. Vieira
Há chorar com lágrimas, chorar sem lágrimas e chorar com riso: chorar com lágrimas é sinal de dor moderada, chorar sem lágrimas é sinal de maior dor; e chorar com riso é sinal de dor suma e excessiva... a dor moderada solta as lágrimas, a grande as enxuga, as congela, e as seca... A mesma causa, quando é moderada, e quando é excessiva, produz efeitos contrários: a luz moderada faz ver, a excessiva faz cegar; a dor, que não é excessiva, rompe em vozes, a excessiva, emudece. De sorte a tristeza, se é moderada, faz chorar, se é excessiva, pode fazer rir; no seu contrário temos o exemplo: a alegria excessiva faz chorar e não só destila as lágrimas dos corações dedicados e brandos, mas ainda dos fortes e duros. (...) Pois se a excessiva alegria é causa do pranto, a excessiva tristeza por que não será causa do riso e a ironia tem contrária significação do que soa; o riso de Demócrito, era ironia do pranto; ria, mas ironicamente, porque o seu riso era nascido de tristeza, e também a significava; eram lágrimas transformadas em risos metamorfoseados da dor; era riso, mas com lágrimas;(...).”Trecho do filme “Palavra e Utopia”, de Manoel de Oliveira https://www.youtube.com/watch?v=Ipi-OwksfTU Serviço Antinomia Dias: 5, 6 e 7 de maio Horários: 21h (dias 5 e 6) e 20h (dia 7) Direção: Renato Mendonça Lucas Local: Teatro Goiânia Obs: Vendas antecipadas na LIVRARIA NOBEL/shopping Bougainville (somente em dinheiro) e no ESPAÇO VIP, rua 18 nº 127, setor oeste - em frente a antiga sede da TV Record - ( em dinheiro e débito automático).

[caption id="attachment_93257" align="alignleft" width="159"] Rainer Maria Rilke[/caption]
A Terça Poética de hoje traz ao público três traduções, feitas por tradutores já consagrados pela crítica, no Brasil, do célebre poema Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke (1875-1926), um dos maiores poetas de língua alemã. Os tradutores em questão são: José Paulo Paes, Augusto de Campos e Geir Campos.
Quem se arrisca (aqueles que entendem do riscado) a dizer qual delas é a mais fiel ao original, qual a mais fluida?
Enfim, apreciem!
Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
Rainer Maria Rilke[/caption]
A Terça Poética de hoje traz ao público três traduções, feitas por tradutores já consagrados pela crítica, no Brasil, do célebre poema Spanische Tänzerin, de Rainer Maria Rilke (1875-1926), um dos maiores poetas de língua alemã. Os tradutores em questão são: José Paulo Paes, Augusto de Campos e Geir Campos.
Quem se arrisca (aqueles que entendem do riscado) a dizer qual delas é a mais fiel ao original, qual a mais fluida?
Enfim, apreciem!
Spanische Tänzerin
Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
zuckende Zungen streckt -: beginnt im Kreis
naher Beschauer hastig, hell und heiß
ihr runder Tanz sich zuckend auszubreiten.
Und plötzlich ist er Flamme, ganz und gar.
 Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen Füßen.
Rainer Maria Rilke, Jun. 1906, Paris
TRADUÇÕES
Bailarina Espanhola
Como um palito de fósforo na mão, alvar
antes de, aceso, estender suas línguas ardentes
para todos os lados – a dança circular
de junto do espectador começa a alargar
seus círculos, clara, célere e cálida sempre.
E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.
Com o olhar, a bailarina inflama a cabeleira
e, com a arte ousada, de um só golpe distende o
seu vestido todo num rodopiar de incêndio
do qual, serpentes, em desnudez e susto vão
surgir os braços despertos, num bater de mãos.
Depois, como se fosse pouco, ela junta o fogo
e o atira para longe, num gesto de arrogo,
repentino, imperioso, e contempla, enlevada,
ele estorcer-se no chão, sempre, sem perder nada
da sua fúria, numa recusa de apagar-se.
Triunfante e segura, com um sorriso amável,
ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce
o esmaga com seus pezinhos implacáveis.
(Tradução: José Paulo Paes)
Dançarina Espanhola
Como um fósforo a arder antes que cresça
a flama, distendendo em raios brancos
suas línguas de luz, assim começa
e se alastra ao redor, ágil e ardente,
a dança em arco aos trêmulos arrancos.
E logo ela é só flama, inteiramente.
Com um olhar põe fogo nos cabelos
e com a arte sutil dos tornozelos
incendeia também os seus vestidos
de onde, serpentes doidas, a rompê-los,
saltam os braços nus com estalidos.
Então, como se fosse um feixe aceso,
colhe o fogo num gesto de desprezo,
atira-o bruscamente no tablado
e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,
a sustentar ainda a chama viva.
Mas ela, do alto, num leve sorriso
de saudação, erguendo a fronte altiva,
pisa-o com seu pequeno pé preciso.
(Tradução: Augusto de Campos)
Dançarina Espanhola
Tal como um fósforo na mão descansa
antes de bruscamente arrebentar
na chama que em redor mil línguas lança –
dentro do anel de olhos começa a dança
ardente, num crescendo circular.
E de repente é tudo apenas chama.
No olhar aceso ela o cabelo inflama,
e faz girar com arte a roupa inteira
ao calor dessa esplêndida fogueira
de onde seus braços, chacoalhando anéis,
saltam nus como doidas cascavéis.
Quando escasseia o fogo em torno, então
ela o agarra inteiro e o joga ao chão
num violento gesto de desdém,
e altiva o fita: furioso e sem
render-se embora, sempre flamejando.
E ela, com doce riso triunfal,
ergue a fronte num cumprimento: e é quando
o esmaga entre os pés ágeis, afinal.
(Tradução: Geir Campos)
Mit einem Blick entzündet sie ihr Haar
und dreht auf einmal mit gewagter Kunst
ihr ganzes Kleid in diese Feuersbrunst,
aus welcher sich, wie Schlangen die erschrecken,
die nackten Arme wach und klappernd strecken.
Und dann: als würde ihr das Feuer knapp,
nimmt sie es ganz zusamm und wirft es ab
sehr herrisch, mit hochmütiger Gebärde
und schaut: da liegt es rasend auf der Erde
und flammt noch immer und ergiebt sich nicht -.
Doch sieghaft, sicher und mit einem süßen
grüßenden Lächeln hebt sie ihr Gesicht
und stampft es aus mit kleinen Füßen.
Rainer Maria Rilke, Jun. 1906, Paris
TRADUÇÕES
Bailarina Espanhola
Como um palito de fósforo na mão, alvar
antes de, aceso, estender suas línguas ardentes
para todos os lados – a dança circular
de junto do espectador começa a alargar
seus círculos, clara, célere e cálida sempre.
E eis que de súbito se faz chama a dança inteira.
Com o olhar, a bailarina inflama a cabeleira
e, com a arte ousada, de um só golpe distende o
seu vestido todo num rodopiar de incêndio
do qual, serpentes, em desnudez e susto vão
surgir os braços despertos, num bater de mãos.
Depois, como se fosse pouco, ela junta o fogo
e o atira para longe, num gesto de arrogo,
repentino, imperioso, e contempla, enlevada,
ele estorcer-se no chão, sempre, sem perder nada
da sua fúria, numa recusa de apagar-se.
Triunfante e segura, com um sorriso amável,
ela saúda então, ergue o rosto e sem disfarce
o esmaga com seus pezinhos implacáveis.
(Tradução: José Paulo Paes)
Dançarina Espanhola
Como um fósforo a arder antes que cresça
a flama, distendendo em raios brancos
suas línguas de luz, assim começa
e se alastra ao redor, ágil e ardente,
a dança em arco aos trêmulos arrancos.
E logo ela é só flama, inteiramente.
Com um olhar põe fogo nos cabelos
e com a arte sutil dos tornozelos
incendeia também os seus vestidos
de onde, serpentes doidas, a rompê-los,
saltam os braços nus com estalidos.
Então, como se fosse um feixe aceso,
colhe o fogo num gesto de desprezo,
atira-o bruscamente no tablado
e o contempla. Ei-lo ao rés do chão, irado,
a sustentar ainda a chama viva.
Mas ela, do alto, num leve sorriso
de saudação, erguendo a fronte altiva,
pisa-o com seu pequeno pé preciso.
(Tradução: Augusto de Campos)
Dançarina Espanhola
Tal como um fósforo na mão descansa
antes de bruscamente arrebentar
na chama que em redor mil línguas lança –
dentro do anel de olhos começa a dança
ardente, num crescendo circular.
E de repente é tudo apenas chama.
No olhar aceso ela o cabelo inflama,
e faz girar com arte a roupa inteira
ao calor dessa esplêndida fogueira
de onde seus braços, chacoalhando anéis,
saltam nus como doidas cascavéis.
Quando escasseia o fogo em torno, então
ela o agarra inteiro e o joga ao chão
num violento gesto de desdém,
e altiva o fita: furioso e sem
render-se embora, sempre flamejando.
E ela, com doce riso triunfal,
ergue a fronte num cumprimento: e é quando
o esmaga entre os pés ágeis, afinal.
(Tradução: Geir Campos)
De 8 a 13 de maio, o Sebrae-GO realiza uma série de oficinas, seminários e palestras destinados às pessoas que já são microeemprendedoras ou procuram formalizar seu próprio negócio se registrando como MEI

A ironia e a inteligência afiada foram os traços definidores da personalidade de Roberto Campos, um dos mais destacados intelectuais brasileiros. Em “A Técnica e o Riso”, livro de 1966, a verve irônica fica patente

Sem perder o tom esquizofrênico, segue mais uma Playlist Opção para sua noite de sexta-feira! Aperte o Play! https://www.youtube.com/watch?v=pzVgIop0f0Y https://www.youtube.com/watch?v=f28vdAn5TBU https://www.youtube.com/watch?v=CnQ8N1KacJc https://www.youtube.com/watch?v=va47vNPm6YA https://www.youtube.com/watch?v=ClqaR1RKdNI https://www.youtube.com/watch?v=5AVOpNR2PIs https://www.youtube.com/watch?v=JU5fG4iQ7I0 https://www.youtube.com/watch?v=YHB3tSwl2mA

Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida
[caption id="attachment_92673" align="alignleft" width="303"] Retrato de Heinrich Heine (1797-1856), por Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) [/caption]
Fabrício Tavares de Moraes
Especial para o Jornal Opção
Se considerarmos que Paul Valéry estava correto ao afirmar que “um poema ruim é aquele que se desfaz em sentido”, talvez possamos ser tentados a unirmo-nos ao coro do lugar-comum que sentencia o poeta como o nefelibata par excellence. Todavia, mediante uma perspectiva mais profunda sobre a filosofia da composição subjacente à frase do poeta e crítico francês, vemo-nos compelidos a corroborar, consigo, que “o trabalho de um poeta consiste menos em buscar palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras e ritmos predominantes”.
E talvez com essa afirmação, tomando como moto a famosa frase de Mallarmé a seu amigo Degas – hoje constante em todos almanaques rasteiros de literatura – de que poesia não se faz com ideias mas com palavras, possamos nos lançar mais uma vez ao círculo vicioso, para não dizer espiral do silêncio, da antiga e falsa dicotomia entre a poesia engajada e a poesia nefelibata.
Em Atta Troll, o poeta alemão Heinrich Heine, mais do que um primoroso poema com ursos dançarinos e revolucionários, espíritos amaldiçoados de todas as épocas numa caçada noturna, e bruxas com seus filhos cadáveres, constrói uma defesa da autonomia da poesia, defesa esta que jamais, caindo em autocontradição, se expressa como simples ardor apologético.
Logo no princípio do poema, Heine nos apresenta o urso Atta Troll, que, juntamente com sua consorte Mumma, dança e realiza suas performances para o público humano, num contraste de sua posição aristocrática natural (tomada aqui em toda a amplitude do termo) e o trabalho servil e cômico ao qual é agora coagido:
Perante a população ei-lo que dança!
Ele, ele que outrora tão soberbo
Como rei das florestas habitava
Tão livremente o píncaro dos montes!
E é para ganhar alguns escudos
Que ele tanto se esforça e se afadiga!
Ele, ele que há pouco, em meio às selvas,
Na majestade de um robusto ânimo
Se julgava senhor do mundo inteiro!
Todavia, revoltado contra esse tratamento ignominioso que lhe é dispensado, Atta Troll certo dia rompe as cadeias e foge para as florestas, onde, com fervor político, discursa, perante seus filhos, contra a injustiça do mundo dos homens:
Morte e condenação! Ah! Esses homens,
Esses malditos arqui-aristocratas,
Contemplam com desdém os outros entes
Com a insolência de um senhor despótico!
(…)
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem vo-los outorgou? A natureza?
Oh! Tão desnaturada não é ela!
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem esses privilégios concedeu-vos?
A razão? Ela ainda é razoável!
Dum ponto de vista panorâmico, o poema de Heine aborda a tensão entre duas perspectivas então vigentes e antitéticas sobre a natureza. De um lado, os ideais da Revolução Francesa, que tomavam a natureza inculta, o direito natural, como sua fonte e ponte de partida. Daí Atta Troll, com seu discurso igualitário, exigindo a abolição imediata do domínio humano sobre os demais entes do reino natural. Grande parte da ironia do poema repousa nas consequências e eventuais absurdidades desse hipotético colapso das hierarquias naturais.
[caption id="attachment_92674" align="alignleft" width="269"]
Retrato de Heinrich Heine (1797-1856), por Moritz Daniel Oppenheim (1800-1882) [/caption]
Fabrício Tavares de Moraes
Especial para o Jornal Opção
Se considerarmos que Paul Valéry estava correto ao afirmar que “um poema ruim é aquele que se desfaz em sentido”, talvez possamos ser tentados a unirmo-nos ao coro do lugar-comum que sentencia o poeta como o nefelibata par excellence. Todavia, mediante uma perspectiva mais profunda sobre a filosofia da composição subjacente à frase do poeta e crítico francês, vemo-nos compelidos a corroborar, consigo, que “o trabalho de um poeta consiste menos em buscar palavras para suas ideias do que em buscar ideias para suas palavras e ritmos predominantes”.
E talvez com essa afirmação, tomando como moto a famosa frase de Mallarmé a seu amigo Degas – hoje constante em todos almanaques rasteiros de literatura – de que poesia não se faz com ideias mas com palavras, possamos nos lançar mais uma vez ao círculo vicioso, para não dizer espiral do silêncio, da antiga e falsa dicotomia entre a poesia engajada e a poesia nefelibata.
Em Atta Troll, o poeta alemão Heinrich Heine, mais do que um primoroso poema com ursos dançarinos e revolucionários, espíritos amaldiçoados de todas as épocas numa caçada noturna, e bruxas com seus filhos cadáveres, constrói uma defesa da autonomia da poesia, defesa esta que jamais, caindo em autocontradição, se expressa como simples ardor apologético.
Logo no princípio do poema, Heine nos apresenta o urso Atta Troll, que, juntamente com sua consorte Mumma, dança e realiza suas performances para o público humano, num contraste de sua posição aristocrática natural (tomada aqui em toda a amplitude do termo) e o trabalho servil e cômico ao qual é agora coagido:
Perante a população ei-lo que dança!
Ele, ele que outrora tão soberbo
Como rei das florestas habitava
Tão livremente o píncaro dos montes!
E é para ganhar alguns escudos
Que ele tanto se esforça e se afadiga!
Ele, ele que há pouco, em meio às selvas,
Na majestade de um robusto ânimo
Se julgava senhor do mundo inteiro!
Todavia, revoltado contra esse tratamento ignominioso que lhe é dispensado, Atta Troll certo dia rompe as cadeias e foge para as florestas, onde, com fervor político, discursa, perante seus filhos, contra a injustiça do mundo dos homens:
Morte e condenação! Ah! Esses homens,
Esses malditos arqui-aristocratas,
Contemplam com desdém os outros entes
Com a insolência de um senhor despótico!
(…)
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem vo-los outorgou? A natureza?
Oh! Tão desnaturada não é ela!
Os direitos do homem! Quem, dizei-me,
Quem esses privilégios concedeu-vos?
A razão? Ela ainda é razoável!
Dum ponto de vista panorâmico, o poema de Heine aborda a tensão entre duas perspectivas então vigentes e antitéticas sobre a natureza. De um lado, os ideais da Revolução Francesa, que tomavam a natureza inculta, o direito natural, como sua fonte e ponte de partida. Daí Atta Troll, com seu discurso igualitário, exigindo a abolição imediata do domínio humano sobre os demais entes do reino natural. Grande parte da ironia do poema repousa nas consequências e eventuais absurdidades desse hipotético colapso das hierarquias naturais.
[caption id="attachment_92674" align="alignleft" width="269"] “Atta Troll e outras canções”, de Heinrich Heine (Anticítera, 2017, 217 páginas, tradução de Pedro Antônio Gomes Júnior)[/caption]
De outro lado, porém, Heine, refletindo as visões, ou mais exatamente as reações, de Goethe [1] para com essa natureza virgem, descreve um esplendoroso quadro (uma das passagens mais belas do poema) de uma caçada noturna na qual espíritos malditos, hereges e párias, incluindo o próprio Goethe, percorrem os bosques sombrios como forma de castigo eterno. E isto ainda mais estranhamente se dá quando o caçador se encontra na casa de Uraka, a bruxa e mãe de Láscaro, seu companheiro de caçada e cadáver redivivo por meio das poções e unguentos mágicos preparados e administrados por sua genitora. De certo modo herdeira da goetheana Noite de Valpurgis, essa atmosfera será retomada em seu “poema-dança” (Tanzpoem) “Doutor Fausto”, publicado em 1846, alguns anos após a primeira edição de Atta Troll.
Uma dessas figuras condenadas é justamente Herodíades, tão bela ao ponto de o caçador – o eu-lírico na passagem em questão – ponderar a danação de sua alma em troca da companhia eterna da dançarina. Curiosamente, além de fundir Herodíades e Salomé [2] numa única figura sedutora, Heine, talvez sinalizando tacitamente para suas origens judaicas, descreve que as tradições afirmavam, ao contrário ou complementarmente às Escrituras, que João Batista era objeto não da aversão, mas do amor da esposa de Herodes:
Ama-me, e vem a mim, bela Herodíades!
Ama-me e vem a mim! Ao longe atira
O prato ensanguentado e a cabeça
Do santo que não soube apreciar-te.
Eu sou o cavalheiro que procuras!
Para mim é de certo indiferente
Que estejas morta e mesmo condenada;
Sobre isso não tenho preconceitos;
Eu, cuja salvação é problemática;
Eu, que mesmo duvido por momentos
De minha própria vida.
Junto de ti cavalgarei à noite
Entre a chusma infernal dos caçadores;
E nós riremos!
Outro ponto digno de nota é a referência, que acaba se tornando refrão ao longo da obra, ao poema “O Rei Negro” (“Der Mohrenfürst” – a tradução literal do título em alemão seria algo como o Príncipe ou Rei Mouro.), de Ferdinand Freiligrath, citado na epígrafe do prefácio de Heine, no qual um guerreiro mouro, que tocava tambores adornados com caveiras humanas, cercado de realeza e poder, é levado cativo por conquistadores e posteriormente, vivendo entre saltimbancos, é obrigado a encantar plateias com seus dons musicais como forma de subsistência.
Valendo-se desse mote, Heine satiriza não o poema ou seu autor, a quem, na verdade, admirava, mas sim a submissão da poesia à égide ética ou política, em especial o nacionalismo e militarismo que então grassavam em sua Alemanha. Assim, Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida.
Talvez com isto Heine esteja advogando que a poesia, caso cativa de uma ideologia ou partido, torna-se sempre, num falhanço irredimível, objeto de troça de seus oponentes. Ou dito de outro, o patético (tomado aqui no sentido de pathos), ainda que imbuído dos fins mais morais e louváveis, distorce o propósito e natureza do poema. É o que o poeta afirma, de modo memorável, em seu prefácio:
Há espelhos, cujo vidro está cortado em facetas tão oblíquas que o próprio Apolo neles representado não seria mais do que uma caricatura: rimo-nos então da caricatura, e não do deus.
Atta Troll é o testemunho de um poeta que, embora ligado a movimentos ideológicos de seu tempo [3] (não esqueçamos sua amizade para com Engels e Marx e seus poemas influenciados pela ideia de ambos, como “Os Tecelões de Silésia”), jamais sacrificou a poesia ao altar dos partidos, conforme seu próprio testemunho e compromisso, preferindo, como no caso do poema em questão, antes a sátira do que a deformação moralista.
Por fim, pode-se dizer que Heine foge, resoluto, ao dilema inicialmente apresentado neste ensaio mediante a simples retomada da verdade contida nos clássicos versos de Catulo. Pois, afinal, “a um poeta pio convém ser casto/ele mesmo, aos seus versos, porém, não há lei”.
Obs.: Artigo publicado originalmente na Revista Amálgama.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.
______
NOTAS:
[1] Goethe notoriamente se opunha à visão um tanto dessacralizada da natureza inculta propugnada pelos revolucionários. Com o decorrer da Revolução, tornar-se-á claro o endeusamento literal da Razão (com efeito, instaurou-se o culto à Razão na Catedral de Notre-Damme por um período) e uma visão tecnicista e quantitativa sobre a natureza, algo que repugnava ao espírito de homens como Goethe e Lessing. A influência da personalidade e ideias do autor de Fausto é visível na vida de Heinrich Heine, que, anos antes, enviara seu primeiro livro de poemas a Goethe, na expectativa de sua aprovação.
[2] De acordo com alguns críticos, essa passagem do poema que celebra a volúpia de Herodíades-Salomé exerceu crucial influência sobre os mais diversos escritores europeus, que, de um modo ou outro, retomaram o tema: Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Flaubert e Mallarmé.
[3] Conforme consta em todos manuais didáticos de literatura, Heine exerceu influência até mesmo sobre a poesia condoreira de Castro Alves, com seu poema Das Sklavenschiff [O navio de escravos].
“Atta Troll e outras canções”, de Heinrich Heine (Anticítera, 2017, 217 páginas, tradução de Pedro Antônio Gomes Júnior)[/caption]
De outro lado, porém, Heine, refletindo as visões, ou mais exatamente as reações, de Goethe [1] para com essa natureza virgem, descreve um esplendoroso quadro (uma das passagens mais belas do poema) de uma caçada noturna na qual espíritos malditos, hereges e párias, incluindo o próprio Goethe, percorrem os bosques sombrios como forma de castigo eterno. E isto ainda mais estranhamente se dá quando o caçador se encontra na casa de Uraka, a bruxa e mãe de Láscaro, seu companheiro de caçada e cadáver redivivo por meio das poções e unguentos mágicos preparados e administrados por sua genitora. De certo modo herdeira da goetheana Noite de Valpurgis, essa atmosfera será retomada em seu “poema-dança” (Tanzpoem) “Doutor Fausto”, publicado em 1846, alguns anos após a primeira edição de Atta Troll.
Uma dessas figuras condenadas é justamente Herodíades, tão bela ao ponto de o caçador – o eu-lírico na passagem em questão – ponderar a danação de sua alma em troca da companhia eterna da dançarina. Curiosamente, além de fundir Herodíades e Salomé [2] numa única figura sedutora, Heine, talvez sinalizando tacitamente para suas origens judaicas, descreve que as tradições afirmavam, ao contrário ou complementarmente às Escrituras, que João Batista era objeto não da aversão, mas do amor da esposa de Herodes:
Ama-me, e vem a mim, bela Herodíades!
Ama-me e vem a mim! Ao longe atira
O prato ensanguentado e a cabeça
Do santo que não soube apreciar-te.
Eu sou o cavalheiro que procuras!
Para mim é de certo indiferente
Que estejas morta e mesmo condenada;
Sobre isso não tenho preconceitos;
Eu, cuja salvação é problemática;
Eu, que mesmo duvido por momentos
De minha própria vida.
Junto de ti cavalgarei à noite
Entre a chusma infernal dos caçadores;
E nós riremos!
Outro ponto digno de nota é a referência, que acaba se tornando refrão ao longo da obra, ao poema “O Rei Negro” (“Der Mohrenfürst” – a tradução literal do título em alemão seria algo como o Príncipe ou Rei Mouro.), de Ferdinand Freiligrath, citado na epígrafe do prefácio de Heine, no qual um guerreiro mouro, que tocava tambores adornados com caveiras humanas, cercado de realeza e poder, é levado cativo por conquistadores e posteriormente, vivendo entre saltimbancos, é obrigado a encantar plateias com seus dons musicais como forma de subsistência.
Valendo-se desse mote, Heine satiriza não o poema ou seu autor, a quem, na verdade, admirava, mas sim a submissão da poesia à égide ética ou política, em especial o nacionalismo e militarismo que então grassavam em sua Alemanha. Assim, Atta Troll é o paralelo e a caricatura de um nobre banido, subjugado às performances do mais grosseiro entretenimento como forma de vida.
Talvez com isto Heine esteja advogando que a poesia, caso cativa de uma ideologia ou partido, torna-se sempre, num falhanço irredimível, objeto de troça de seus oponentes. Ou dito de outro, o patético (tomado aqui no sentido de pathos), ainda que imbuído dos fins mais morais e louváveis, distorce o propósito e natureza do poema. É o que o poeta afirma, de modo memorável, em seu prefácio:
Há espelhos, cujo vidro está cortado em facetas tão oblíquas que o próprio Apolo neles representado não seria mais do que uma caricatura: rimo-nos então da caricatura, e não do deus.
Atta Troll é o testemunho de um poeta que, embora ligado a movimentos ideológicos de seu tempo [3] (não esqueçamos sua amizade para com Engels e Marx e seus poemas influenciados pela ideia de ambos, como “Os Tecelões de Silésia”), jamais sacrificou a poesia ao altar dos partidos, conforme seu próprio testemunho e compromisso, preferindo, como no caso do poema em questão, antes a sátira do que a deformação moralista.
Por fim, pode-se dizer que Heine foge, resoluto, ao dilema inicialmente apresentado neste ensaio mediante a simples retomada da verdade contida nos clássicos versos de Catulo. Pois, afinal, “a um poeta pio convém ser casto/ele mesmo, aos seus versos, porém, não há lei”.
Obs.: Artigo publicado originalmente na Revista Amálgama.
Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.
______
NOTAS:
[1] Goethe notoriamente se opunha à visão um tanto dessacralizada da natureza inculta propugnada pelos revolucionários. Com o decorrer da Revolução, tornar-se-á claro o endeusamento literal da Razão (com efeito, instaurou-se o culto à Razão na Catedral de Notre-Damme por um período) e uma visão tecnicista e quantitativa sobre a natureza, algo que repugnava ao espírito de homens como Goethe e Lessing. A influência da personalidade e ideias do autor de Fausto é visível na vida de Heinrich Heine, que, anos antes, enviara seu primeiro livro de poemas a Goethe, na expectativa de sua aprovação.
[2] De acordo com alguns críticos, essa passagem do poema que celebra a volúpia de Herodíades-Salomé exerceu crucial influência sobre os mais diversos escritores europeus, que, de um modo ou outro, retomaram o tema: Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Flaubert e Mallarmé.
[3] Conforme consta em todos manuais didáticos de literatura, Heine exerceu influência até mesmo sobre a poesia condoreira de Castro Alves, com seu poema Das Sklavenschiff [O navio de escravos].

“Vitória” tem início com o drama de uma gravidez indesejada e, aos poucos, compõe o retrato de uma geração
[caption id="attachment_92624" align="alignleft" width="261"] Giovanni Arceno | Foto: Divulgação[/caption]
Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
Danilo é um sujeito de 21 anos, com uma vida medíocre. Saiu da casa dos pais, no interior, para se acomodar num emprego desinteressante, cujo rendimento é o suficiente para comprar comida e pagar o aluguel de um apartamento tão pequeno que mal cabem ele e os móveis.
Xeretando o Facebook alheio, conhece Vitória. De uma mensagem aqui e outra ali, rola uma afinidade e eles combinam um encontro. Ela mora numa cidade distante, de modo que o relacionamento se concentra nos finais de semana, contudo são momentos de total intimidade. “Ficávamos à vontade na presença do outro de uma maneira surpreendente e até mesmo ridícula, pois não existiam filtros e o que vinha à tona era aquele tipo de conversa que geralmente censuramos em público”, observa.
Ocorre que, por um motivo a princípio insondável, a coisa esfria e o caso chega ao fim. Durou apenas três meses, e não mais se falaram. Até o instante em que se inicia o romance de estreia do catarinense Giovanni Arceno. Logo na primeira frase, Vitória, que empresta nome ao livro, telefona para Danilo e dispara: estou grávida.
Essa é a chave do enredo, mas não o que dá substância à trama. Estruturada a partir de dois arcos distintos que se confluem nas últimas páginas, a história ganha corpo através do olhar vacilante e ao mesmo tempo acuado de Danilo em relação ao mundo e a todos que o cercam, em relação ao fim do seu namoro.
Vitória não quer a gravidez, está decidida em abortar. “Eu não me importo que coisas inesperadas aconteçam na minha vida, mas existe uma fronteira que algo novo não deve ultrapassar, porque a vida precisa de um mínimo de planejamento. Nem toda mudança é boa. Às vezes é uma tragédia”, considera. Danilo contra-argumenta, porém ao ser questionado se está pronto para ter um filho, responde: “Não sei ainda. Não sei de nada”.
Não é difícil sacar qual escolha prevalece. As consequências, no entanto, perduram-se na vida de somente um deles.
[caption id="attachment_92626" align="alignleft" width="248"]
Giovanni Arceno | Foto: Divulgação[/caption]
Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
Danilo é um sujeito de 21 anos, com uma vida medíocre. Saiu da casa dos pais, no interior, para se acomodar num emprego desinteressante, cujo rendimento é o suficiente para comprar comida e pagar o aluguel de um apartamento tão pequeno que mal cabem ele e os móveis.
Xeretando o Facebook alheio, conhece Vitória. De uma mensagem aqui e outra ali, rola uma afinidade e eles combinam um encontro. Ela mora numa cidade distante, de modo que o relacionamento se concentra nos finais de semana, contudo são momentos de total intimidade. “Ficávamos à vontade na presença do outro de uma maneira surpreendente e até mesmo ridícula, pois não existiam filtros e o que vinha à tona era aquele tipo de conversa que geralmente censuramos em público”, observa.
Ocorre que, por um motivo a princípio insondável, a coisa esfria e o caso chega ao fim. Durou apenas três meses, e não mais se falaram. Até o instante em que se inicia o romance de estreia do catarinense Giovanni Arceno. Logo na primeira frase, Vitória, que empresta nome ao livro, telefona para Danilo e dispara: estou grávida.
Essa é a chave do enredo, mas não o que dá substância à trama. Estruturada a partir de dois arcos distintos que se confluem nas últimas páginas, a história ganha corpo através do olhar vacilante e ao mesmo tempo acuado de Danilo em relação ao mundo e a todos que o cercam, em relação ao fim do seu namoro.
Vitória não quer a gravidez, está decidida em abortar. “Eu não me importo que coisas inesperadas aconteçam na minha vida, mas existe uma fronteira que algo novo não deve ultrapassar, porque a vida precisa de um mínimo de planejamento. Nem toda mudança é boa. Às vezes é uma tragédia”, considera. Danilo contra-argumenta, porém ao ser questionado se está pronto para ter um filho, responde: “Não sei ainda. Não sei de nada”.
Não é difícil sacar qual escolha prevalece. As consequências, no entanto, perduram-se na vida de somente um deles.
[caption id="attachment_92626" align="alignleft" width="248"] Livro: "Vitória" | Editora: Oito e Meio | páginas: 98 | Preço: R$ 38[/caption]
O tempo avança e, agora, Danilo namora Marcela, uma jovem abastada, negligenciada pelos pais, que sofre de uma doença que a impede de se expor ao sol. Por isso, apesar de viver numa casa em frente à praia, só frequenta o litoral à noite. Danilo não se chateia, sujeita-se ao que for. “(Marcela) insistia que eu fosse sozinho, aproveitasse pra tomar um banho e pegar um bronzeado, mas eu sinceramente não me importava”, declara.
Sem amigos (“apesar de ter trabalhado tanto tempo no mesmo lugar, não fiz um amigo sequer”), flana entre os dias, tocado apenas pela solução do aborto e pelo que aconteceu com Vitória, feito a ideia de um fantasma insepulto que o torna também um.
Fantasia como seria o filho com um ano de idade, rememora sua infância numa tentativa de criar um laço com essa não-existência. Uma atitude mais consistente, todavia, não faz parte de sua natureza. Então uma oportunidade inesperada, envolvendo uma criança, o faz tomar uma decisão das mais bizarras.
Arceno constrói um romance de formação de maneira improvável. Um exame de personagens que, à medida que amadurecem, tornam-se incompletos, menos comprometidos com a intenção de um futuro. Vitória nunca esteve de fato com Danilo, pois seu amor juvenil foi um ex-namorado que morreu num acidente de carro, e a maternidade a deslocaria dessa condição. Danilo imagina que ser pai o manteria num estado em que viveria ao lado de Vitória, num tipo ilógico de reparação por tê-la engravidado. Ainda que de forma inconsciente, querem ser eternamente filhos, aqueles sobre os quais não cabem deveres, resoluções, o mundo de frente.
“Vitória” é um retrato de uma geração que teme derrotas e portanto não tenta, assumindo assim uma posição de defesa contra o próprio destino. Um livro dotado de uma linguagem despretensiosa, intuitiva, que se enquadra perfeitamente em seu tempo.
Trecho do livro
"Entardecia e as pessoas começaram a ir embora. Essa era a hora que normalmente eu e Marcela cogitávamos ir à praia. Naquele dia talvez não fosse assim, já tava me convencendo que teria que dormir no sofá e aguentar Marcela arisca pelos próximos dias – ou, não me surpreenderia, até o fim das férias.
O guarda-vidas tinha ido embora, então resolvi subir na sua cabine pelas escadas. Entrei na salinha e me deparei com uma vista privilegiada, inspiradora o suficiente pra despertar no maior filho da puta de todos a vontade de salvar alguém. A profissão com o nome mais bonito do mundo: guarda-vidas".
Sérgio Tavares é jornalista e escritor.
Livro: "Vitória" | Editora: Oito e Meio | páginas: 98 | Preço: R$ 38[/caption]
O tempo avança e, agora, Danilo namora Marcela, uma jovem abastada, negligenciada pelos pais, que sofre de uma doença que a impede de se expor ao sol. Por isso, apesar de viver numa casa em frente à praia, só frequenta o litoral à noite. Danilo não se chateia, sujeita-se ao que for. “(Marcela) insistia que eu fosse sozinho, aproveitasse pra tomar um banho e pegar um bronzeado, mas eu sinceramente não me importava”, declara.
Sem amigos (“apesar de ter trabalhado tanto tempo no mesmo lugar, não fiz um amigo sequer”), flana entre os dias, tocado apenas pela solução do aborto e pelo que aconteceu com Vitória, feito a ideia de um fantasma insepulto que o torna também um.
Fantasia como seria o filho com um ano de idade, rememora sua infância numa tentativa de criar um laço com essa não-existência. Uma atitude mais consistente, todavia, não faz parte de sua natureza. Então uma oportunidade inesperada, envolvendo uma criança, o faz tomar uma decisão das mais bizarras.
Arceno constrói um romance de formação de maneira improvável. Um exame de personagens que, à medida que amadurecem, tornam-se incompletos, menos comprometidos com a intenção de um futuro. Vitória nunca esteve de fato com Danilo, pois seu amor juvenil foi um ex-namorado que morreu num acidente de carro, e a maternidade a deslocaria dessa condição. Danilo imagina que ser pai o manteria num estado em que viveria ao lado de Vitória, num tipo ilógico de reparação por tê-la engravidado. Ainda que de forma inconsciente, querem ser eternamente filhos, aqueles sobre os quais não cabem deveres, resoluções, o mundo de frente.
“Vitória” é um retrato de uma geração que teme derrotas e portanto não tenta, assumindo assim uma posição de defesa contra o próprio destino. Um livro dotado de uma linguagem despretensiosa, intuitiva, que se enquadra perfeitamente em seu tempo.
Trecho do livro
"Entardecia e as pessoas começaram a ir embora. Essa era a hora que normalmente eu e Marcela cogitávamos ir à praia. Naquele dia talvez não fosse assim, já tava me convencendo que teria que dormir no sofá e aguentar Marcela arisca pelos próximos dias – ou, não me surpreenderia, até o fim das férias.
O guarda-vidas tinha ido embora, então resolvi subir na sua cabine pelas escadas. Entrei na salinha e me deparei com uma vista privilegiada, inspiradora o suficiente pra despertar no maior filho da puta de todos a vontade de salvar alguém. A profissão com o nome mais bonito do mundo: guarda-vidas".
Sérgio Tavares é jornalista e escritor.


