Resultados do marcador: Terça Poética

Duas traduções de um soneto "erótico-pornográfico” do “Século de Ouro” espanhol
[caption id="attachment_89379" align="aligncenter" width="620"] Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]
A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.
A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**
Texto original
-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.
-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.
-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.
-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.
-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,
y tú hayas bien, que sabes declararte!
y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,
y con la pija arrecha acometerte.
-Tú sí que gozarás mi paraíso.
-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,
para meterle dentro mi carajo.
-¡Qué rodado lo dices y qué liso!
-Calla, mi vida, calla, que me muero
por culear tiniéndote debajo.
***
Tradução de José Paulo Paes
— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.
— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.
— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.
— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.
— Bem hajas que consigo compreender-te
e mal haja quem peça de tal arte.
Depois, o que farás? — Arregaçar-te
e com a pica alçada acometer-te.
— Tu sim hás de gozar meu paraíso.
— Que paraíso? Eu quero é minha porra
metida bem no fundo do teu racho.
— Com que rodeio o dizes, tão precioso!
— Caluda, amor, que de prazer já morra,
fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.
***
Tradução de Silvério Duque
– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.
– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.
– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.
– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.
– De certo, muito fiz por receber-te,
e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!
– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,
e, com minha pica em riste, vou comer-te.
Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...
– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo
e nele enfiar inteiro o meu caralho.
– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!
– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,
tilintando em teu cu com o meu vergalho.
* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).
** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).
Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]
A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.
A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**
Texto original
-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.
-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.
-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.
-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.
-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,
y tú hayas bien, que sabes declararte!
y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,
y con la pija arrecha acometerte.
-Tú sí que gozarás mi paraíso.
-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,
para meterle dentro mi carajo.
-¡Qué rodado lo dices y qué liso!
-Calla, mi vida, calla, que me muero
por culear tiniéndote debajo.
***
Tradução de José Paulo Paes
— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.
— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.
— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.
— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.
— Bem hajas que consigo compreender-te
e mal haja quem peça de tal arte.
Depois, o que farás? — Arregaçar-te
e com a pica alçada acometer-te.
— Tu sim hás de gozar meu paraíso.
— Que paraíso? Eu quero é minha porra
metida bem no fundo do teu racho.
— Com que rodeio o dizes, tão precioso!
— Caluda, amor, que de prazer já morra,
fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.
***
Tradução de Silvério Duque
– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.
– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.
– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.
– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.
– De certo, muito fiz por receber-te,
e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!
– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,
e, com minha pica em riste, vou comer-te.
Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...
– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo
e nele enfiar inteiro o meu caralho.
– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!
– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,
tilintando em teu cu com o meu vergalho.
* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).
** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).

Não é tão simples traduzir um soneto de treze versos! Sobretudo se escrito por alguém como H. P. Lovecraft e dedicado a ninguém menos que Edgar Allan Poe
[caption id="attachment_88381" align="aligncenter" width="620"] H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief!
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne
Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:
Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,
O Poeta suscita com o gládio erguido
Seu século espantado por não ter sabido
Que nessa estranha voz a morte se insurgia!
Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia
Um sentido mais puro às palavras da tribo,
Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-
Ído à onda sem honra de uma negra orgia.
Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -
A idéia sob - não esculpir baixo-relevo
Que ao túmulo de Poe luminescente indique,
Calmo bloco caído de um desastre obscuro,
Que este granito ao menos seja eterno dique
Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.
[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]
H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:
Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la mort triomphait dans cette voix étrange !
Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
Du sol et de la nue hostiles, ô grief!
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne
Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:
Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,
O Poeta suscita com o gládio erguido
Seu século espantado por não ter sabido
Que nessa estranha voz a morte se insurgia!
Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia
Um sentido mais puro às palavras da tribo,
Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-
Ído à onda sem honra de uma negra orgia.
Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -
A idéia sob - não esculpir baixo-relevo
Que ao túmulo de Poe luminescente indique,
Calmo bloco caído de um desastre obscuro,
Que este granito ao menos seja eterno dique
Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.
[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]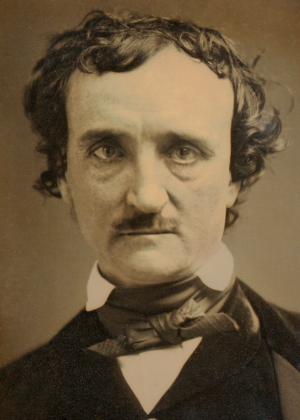 Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]
Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...
Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.
Sem mais delongas...
***
IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D
Eternal brood the shadows on this ground,
Dreaming of centuries that have gone before;
Great elms rise solemnly by slab and mound,
Arch’d high above a hidden world of yore.
Round all the scene a light of memory plays,
And dead leaves whisper of departed days,
Longing for sights and sounds that are no more.
Lonely and sad, a spectre glides along
Aisles where of old his living footsteps fell;
No common glance discerns him, tho’ his song
Peals down thro’ time with a mysterious spell:
Only the few who sorcery’s secret know
Espy amidst these tombs the shade of Poe.
EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA
Eterno é o cismar das sombras no terreiro,
Devaneando o outrora em séculos atrás;
Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,
Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.
Rodeando a cena, atua o lume da memória,
As folhas secas, num cicio, contam a história
Levadas por visões e sons de nunca mais.
Lastimoso e só, um espectro adeja sobre
Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;
Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre
P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:
Os poucos a quem tal feitiço se mostrou
Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.
(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )
Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)
Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]
Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...
Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.
Sem mais delongas...
***
IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D
Eternal brood the shadows on this ground,
Dreaming of centuries that have gone before;
Great elms rise solemnly by slab and mound,
Arch’d high above a hidden world of yore.
Round all the scene a light of memory plays,
And dead leaves whisper of departed days,
Longing for sights and sounds that are no more.
Lonely and sad, a spectre glides along
Aisles where of old his living footsteps fell;
No common glance discerns him, tho’ his song
Peals down thro’ time with a mysterious spell:
Only the few who sorcery’s secret know
Espy amidst these tombs the shade of Poe.
EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA
Eterno é o cismar das sombras no terreiro,
Devaneando o outrora em séculos atrás;
Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,
Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.
Rodeando a cena, atua o lume da memória,
As folhas secas, num cicio, contam a história
Levadas por visões e sons de nunca mais.
Lastimoso e só, um espectro adeja sobre
Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;
Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre
P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:
Os poucos a quem tal feitiço se mostrou
Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.
(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )
Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

“O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas”
[caption id="attachment_88360" align="aligncenter" width="620"]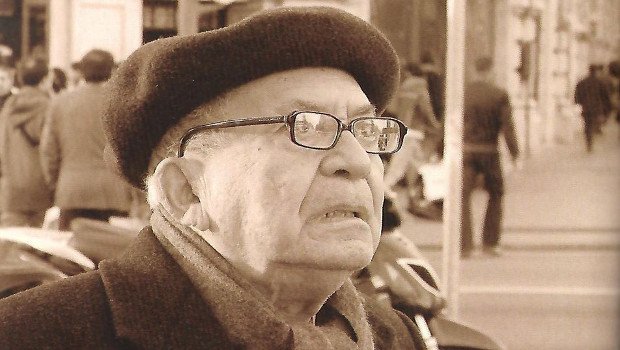 Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:
O DESAFIO
Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce
e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.
Foi onde o sol clareia estações desterradas
e um seio nu afronta a vontade da treva.
Onde a sombra ensombrece os dias sepultados
e no verão persiste um cheiro de jasmim
e uma abelha dourada pousa na corola
da majestosa flor que reina no jardim.
Foi onde fervilhava o rumor das charnecas
e as águas de um riacho fulgiam nas pedras
e a manhã respirava a promessa da vida.
Levantou-se da terra uma roxa alvorada
num claro desafio ao sol esbraseado
e à nuvem emudecida que no céu passava.
Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).
[relacionadas artigos=" 87814 "]
Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).
Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.
[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"]
Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:
O DESAFIO
Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce
e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.
Foi onde o sol clareia estações desterradas
e um seio nu afronta a vontade da treva.
Onde a sombra ensombrece os dias sepultados
e no verão persiste um cheiro de jasmim
e uma abelha dourada pousa na corola
da majestosa flor que reina no jardim.
Foi onde fervilhava o rumor das charnecas
e as águas de um riacho fulgiam nas pedras
e a manhã respirava a promessa da vida.
Levantou-se da terra uma roxa alvorada
num claro desafio ao sol esbraseado
e à nuvem emudecida que no céu passava.
Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).
[relacionadas artigos=" 87814 "]
Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).
Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.
[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Mormaço"[/caption]
Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:
A FALA FINAL
Já falei ao dia, hoje falo à noite.
Falei ao dia e ninguém me escutou.
Os homens passavam apressados
cada um com o seu tédio
seus embrulhos e suspiros.
Falei ao amor e era uma concha
que ressoava longe do mar.
Os anos de minha vida passaram tão rápidos
que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.
Agora só falo à noite e às estrelas.
Só falo ao silêncio e à escuridão.
A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.
Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:
O ESTALIDO
São passos furtivos na escada.
Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra
que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro
ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar
como um sopro da brisa marinha.
Sempre esperei o visitante que não veio.
Deixei inutilmente a porta aberta.
Perguntei e não obtive resposta.
Agora, para mim, tudo é irrelevante.
Para que perguntar? Para que responder?
Após o estalido do fim da escada virá o silêncio
que dispensa a pergunta e a resposta.
O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.
[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Mormaço"[/caption]
Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:
A FALA FINAL
Já falei ao dia, hoje falo à noite.
Falei ao dia e ninguém me escutou.
Os homens passavam apressados
cada um com o seu tédio
seus embrulhos e suspiros.
Falei ao amor e era uma concha
que ressoava longe do mar.
Os anos de minha vida passaram tão rápidos
que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.
Agora só falo à noite e às estrelas.
Só falo ao silêncio e à escuridão.
A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.
Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:
O ESTALIDO
São passos furtivos na escada.
Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra
que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro
ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar
como um sopro da brisa marinha.
Sempre esperei o visitante que não veio.
Deixei inutilmente a porta aberta.
Perguntei e não obtive resposta.
Agora, para mim, tudo é irrelevante.
Para que perguntar? Para que responder?
Após o estalido do fim da escada virá o silêncio
que dispensa a pergunta e a resposta.
O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.
[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Aurora"[/caption]
“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).
Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?
Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:
OS DOIS LADOS
No outro lado da noite alguém gritava.
No outro lado do muro eles se amavam
e espalhavam murmúrios e gemidos.
Todas as portas estavam fechadas.
A vida era um segredo, era um suspiro.
E o amor lavrava doido e revirado.
Amar de um lado só já não bastava?
Era cara e coroa, era em dois lados,
moeda que a si mesma se pagava.
Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.
Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:
(...)
Venho dos pântanos.
No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro
a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.
Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.
Só mereço perdão e tolerância.
Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas
e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.
(...)
O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.
[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Aurora"[/caption]
“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).
Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?
Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:
OS DOIS LADOS
No outro lado da noite alguém gritava.
No outro lado do muro eles se amavam
e espalhavam murmúrios e gemidos.
Todas as portas estavam fechadas.
A vida era um segredo, era um suspiro.
E o amor lavrava doido e revirado.
Amar de um lado só já não bastava?
Era cara e coroa, era em dois lados,
moeda que a si mesma se pagava.
Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.
Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:
(...)
Venho dos pântanos.
No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro
a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.
Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.
Só mereço perdão e tolerância.
Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas
e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.
(...)
O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.
[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Réquiem"[/caption]
O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.
[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"]
Capa do livro "Réquiem"[/caption]
O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.
[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"] Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]
Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –
OS OLHOS ABERTOS
Nas minhas mãos abertas cabe a aurora
como um fruto que amadurece na limpidez do verão.
Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos
se acercam e se afastam como proas de navios.
Os meus lábios fechados aboliram a morte
para que pudesses voltar quando o dia renasce
e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens
e escorre das estrelas
e sustenta as luzes do arco-íris.
As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso
a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente
a tua sombra que dança entre as marés
a tua voz usurpada pela noite
e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder
de meus olhos abertos para sempre.
Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.
Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.
Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]
Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –
OS OLHOS ABERTOS
Nas minhas mãos abertas cabe a aurora
como um fruto que amadurece na limpidez do verão.
Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos
se acercam e se afastam como proas de navios.
Os meus lábios fechados aboliram a morte
para que pudesses voltar quando o dia renasce
e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens
e escorre das estrelas
e sustenta as luzes do arco-íris.
As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso
a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente
a tua sombra que dança entre as marés
a tua voz usurpada pela noite
e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder
de meus olhos abertos para sempre.
Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.
Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.
Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.
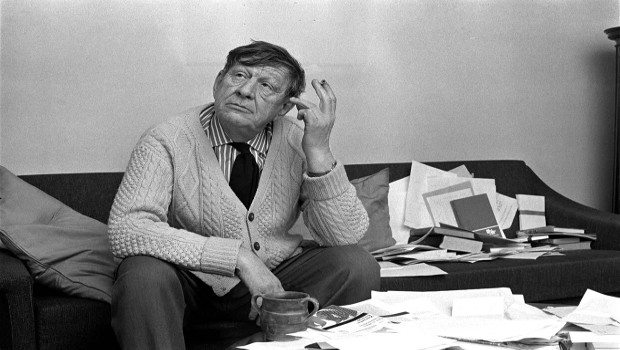
Wystan Hugh Auden, mais conhecido como W. H. Auden, nasceu em York, Inglaterra, em 21 de fevereiro do 1907. Auden é um dos maiores poetas modernos e o Opção Cultural não poderia deixar de homenageá-lo. Portanto, posto abaixo o poema This lunar beauty, seguido da tradução de José Paulo Paes (Poemas. São Paulo: Cia das Letras, 2013. Org. João Moura Jr). This lunar beauty This lunar beauty Has no history, Is complete and early; If beauty later Bear any feature It had a lover And is another. This like a dream Keeps other time, And daytime is The loss of this; For time is inches And the heart’s changes Where ghosts has haunted, Lost and wanted. But this was never A ghost’s endeavour Nor, finished this, Was ghost at ease; And till it pass Love shall not near The sweetness here Nor sorrow take His endless look. April 1930 Lunar, esta beleza Lunar, esta beleza É primeva, inteira, Não tem nenhuma história. Se a beleza mais tarde Exibe algum traço, Foi porque teve amante, Já não é como antes. Nisto, qual em sonho, Vige um outro tempo, Perdido se o dia De tudo se apropria. O tempo são centímetros E mudanças de alma Que espectro assombrou, Perdeu e desejou. Mas isto, por certo, Não foi coisa de espectro, Nem espectro, ela finda, Sentiu-se a gosto, ainda, E enquanto persista, Nem se chega amor A tal doçura e a dor Tampouco lhe vem dar Seu infinito olhar

A Aurora do poeta alagoano há de ser póstuma. É do outro lado do Atlântico que nos chega sua voz solar, da Espanha, onde faleceu. Mas, em vida, por que não lhe foi dado o merecido lugar ao Sol, em sua terra natal?
[caption id="attachment_87820" align="alignleft" width="620"] Lêdo Ivo | Foto: acervo ABL[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Lêdo Ivo (1924-2012) terá sido, talvez, um neossimbolista, em meio à reação ao Modernismo – lida “em bloco” como neoparnasiana – que foi a Geração de 45. O equívoco parte de José Guilherme Merquior, em ensaio fundador no qual excetua João Cabral de Melo Neto e, mais pontualmente, José Paulo Moreira da Fonseca; contudo, o próprio Merquior admitiria depois a necessidade de rever o julgamento do “malsinado parnaso”, em texto reunido no seu livro O Elixir do Apocalipse, no qual cita nominamente o caso de Lêdo Ivo: “Hoje teria que discriminar muito mais”.
Entre o primeiro e o segundo tempo, o crítico participou da organização de uma antologia de poetas brasileiros em que pôs em prática a própria lição – deixou de fora a maior parte dos poetas de 45 – o que rendeu uma resposta, agora sim, em bloco, dos dois grupos da Geração – o de São Paulo, reunido em torno da Revista Brasileria de Poesia, tendo à frente Péricles Eugênio da Silva Ramos e Domingos Carvalho da Silva – e o do Rio de Janeiro, que publicara com intermitência a Revista Orfeu, da qual participou Lêdo Ivo. Na antologia-resposta,
[caption id="attachment_87815" align="alignleft" width="288"]
Lêdo Ivo | Foto: acervo ABL[/caption]
Wladimir Saldanha
Especial para o Jornal Opção
Lêdo Ivo (1924-2012) terá sido, talvez, um neossimbolista, em meio à reação ao Modernismo – lida “em bloco” como neoparnasiana – que foi a Geração de 45. O equívoco parte de José Guilherme Merquior, em ensaio fundador no qual excetua João Cabral de Melo Neto e, mais pontualmente, José Paulo Moreira da Fonseca; contudo, o próprio Merquior admitiria depois a necessidade de rever o julgamento do “malsinado parnaso”, em texto reunido no seu livro O Elixir do Apocalipse, no qual cita nominamente o caso de Lêdo Ivo: “Hoje teria que discriminar muito mais”.
Entre o primeiro e o segundo tempo, o crítico participou da organização de uma antologia de poetas brasileiros em que pôs em prática a própria lição – deixou de fora a maior parte dos poetas de 45 – o que rendeu uma resposta, agora sim, em bloco, dos dois grupos da Geração – o de São Paulo, reunido em torno da Revista Brasileria de Poesia, tendo à frente Péricles Eugênio da Silva Ramos e Domingos Carvalho da Silva – e o do Rio de Janeiro, que publicara com intermitência a Revista Orfeu, da qual participou Lêdo Ivo. Na antologia-resposta,
[caption id="attachment_87815" align="alignleft" width="288"] José Guilherme Merquior faleceu antes de fazer uma prometida revisão de sua crítica aos poetas da "Geração de 1945"[/caption]
organizada por Fernando Ferreira de Loanda, dita da Moderna Poesia Brasileira, Silva Ramos ironiza Merquior no prefácio, enquanto Lêdo Ivo assina um dos ensaios que lhe valeriam a proscrição: um Epitáfio do Modernismo no qual sistematiza críticas aos que viam, na Geração de 45, uma “continuadora” de 1922 – tese que, se hoje parece absurda, era então defendida por parte dos críticos e poetas, no sentido de ser uma geração de “extensão de conquistas”, como deixou dito o insuspeito João Cabral de Melo Neto.
Ao tempo da Moderna Poesia Brasileira, estamos falando da década de 1960, e já então se conhecia o Itinerário de Pasárgada, publicado por Manuel Bandeira em 1954, com o capítulo da revisão de seu papel em 1922, quando esclarece que o poema Os sapos se dirigia a parnasianos menores como Goulart de Andrade. Ali repudia o poema-piada, dizendo-o apenas um episódio da reação modernista, sem maior importância na poética dos que lhe praticaram, à exceção de Oswald (por ser algo da própria natureza desse autor). O leitor que tiver a curiosidade de conhecer o Epitáfio do Modernismo, de Lêdo Ivo, verá que o poema-piada é um dos pontos contra os quais investe o ensaísta, somando-se a isso, entre outras coisas, o projeto paulistano de “inaugurar” uma modernidade como se esta não já viesse por influxos diversos, e por diversos portos, como os do Simbolismo, não sendo acontecimento situável numa data – a Semana de 1922 – e num lugar – São Paulo.
Acalmados os ânimos da juventude, infelizmente Merquior morreria em 1991, sem fazer a revisão anunciada anos antes, em 1983. Àquela altura, a semente redutora já tinha germinado fácil na terra onde, em se plantando, tudo que é erva daninha sempre dá: grandes nomes da teoria e da crítica, ao tratar em ensaios ou obras monográficas da poesia de João Cabral, reforçaram a tese da “incômoda convergência cronológica”: de Benedito Nunes a João Alexandre Barbosa, de Luiz Costa Lima a Haroldo de Campos. Lêdo Ivo, um daqueles a “discriminar muito mais”, prosseguiria na sua obra múltivoca, de poesia, romance, ensaio, crônica, conto – cada vez mais se distanciando do palco reativo de 45, no reagenciamento dos signos informativos de sua poética. Pelo menos desde o final da década de 1940, com a segunda seção de Linguagem, a geografia da terra natal alagona é reapropriada em clave aberta, pela qual mangues, lagoas e penínsulas, longe de uma referencialidade, falam de sua cosmovisão dual.
O estigma da Geração, porém, iria grudar-se a seu nome como sinal de nascença. Seria lembrado, muito mais, como o poeta que “quis atirar uma pedra na vidraça de Drummond”, imagem recortada de um texto de algumas páginas, publicado na revista gaúcha A província de São Pedro e tido como ataque insofismável ao grande mineiro, via paródia com o poema da pedra no meio do caminho. Não é bem isso que lá está, na velha brochura esquecida, onde um Lêdo Ivo de vinte anos vê a geração precedente – não só Drummond, mas Murilo Mendes, Jorge de Lima etc. – como um muro contra o qual teriam forçosamente que investir.
Não se perca de vista: a Geração de 45 é a que se segue à de Drummond, chamada inicialmente de “Poetas de 1930”; de quinze em quinze anos, como diz Ortega y Gasset, as coisas “cambiam” significativamente. Ora, quem estude com o mínimo de honestidade a questão das gerações literárias, a própria forma textual da paródia (vide Yuri Tynianov) e o
[caption id="attachment_87817" align="alignleft" width="150"]
José Guilherme Merquior faleceu antes de fazer uma prometida revisão de sua crítica aos poetas da "Geração de 1945"[/caption]
organizada por Fernando Ferreira de Loanda, dita da Moderna Poesia Brasileira, Silva Ramos ironiza Merquior no prefácio, enquanto Lêdo Ivo assina um dos ensaios que lhe valeriam a proscrição: um Epitáfio do Modernismo no qual sistematiza críticas aos que viam, na Geração de 45, uma “continuadora” de 1922 – tese que, se hoje parece absurda, era então defendida por parte dos críticos e poetas, no sentido de ser uma geração de “extensão de conquistas”, como deixou dito o insuspeito João Cabral de Melo Neto.
Ao tempo da Moderna Poesia Brasileira, estamos falando da década de 1960, e já então se conhecia o Itinerário de Pasárgada, publicado por Manuel Bandeira em 1954, com o capítulo da revisão de seu papel em 1922, quando esclarece que o poema Os sapos se dirigia a parnasianos menores como Goulart de Andrade. Ali repudia o poema-piada, dizendo-o apenas um episódio da reação modernista, sem maior importância na poética dos que lhe praticaram, à exceção de Oswald (por ser algo da própria natureza desse autor). O leitor que tiver a curiosidade de conhecer o Epitáfio do Modernismo, de Lêdo Ivo, verá que o poema-piada é um dos pontos contra os quais investe o ensaísta, somando-se a isso, entre outras coisas, o projeto paulistano de “inaugurar” uma modernidade como se esta não já viesse por influxos diversos, e por diversos portos, como os do Simbolismo, não sendo acontecimento situável numa data – a Semana de 1922 – e num lugar – São Paulo.
Acalmados os ânimos da juventude, infelizmente Merquior morreria em 1991, sem fazer a revisão anunciada anos antes, em 1983. Àquela altura, a semente redutora já tinha germinado fácil na terra onde, em se plantando, tudo que é erva daninha sempre dá: grandes nomes da teoria e da crítica, ao tratar em ensaios ou obras monográficas da poesia de João Cabral, reforçaram a tese da “incômoda convergência cronológica”: de Benedito Nunes a João Alexandre Barbosa, de Luiz Costa Lima a Haroldo de Campos. Lêdo Ivo, um daqueles a “discriminar muito mais”, prosseguiria na sua obra múltivoca, de poesia, romance, ensaio, crônica, conto – cada vez mais se distanciando do palco reativo de 45, no reagenciamento dos signos informativos de sua poética. Pelo menos desde o final da década de 1940, com a segunda seção de Linguagem, a geografia da terra natal alagona é reapropriada em clave aberta, pela qual mangues, lagoas e penínsulas, longe de uma referencialidade, falam de sua cosmovisão dual.
O estigma da Geração, porém, iria grudar-se a seu nome como sinal de nascença. Seria lembrado, muito mais, como o poeta que “quis atirar uma pedra na vidraça de Drummond”, imagem recortada de um texto de algumas páginas, publicado na revista gaúcha A província de São Pedro e tido como ataque insofismável ao grande mineiro, via paródia com o poema da pedra no meio do caminho. Não é bem isso que lá está, na velha brochura esquecida, onde um Lêdo Ivo de vinte anos vê a geração precedente – não só Drummond, mas Murilo Mendes, Jorge de Lima etc. – como um muro contra o qual teriam forçosamente que investir.
Não se perca de vista: a Geração de 45 é a que se segue à de Drummond, chamada inicialmente de “Poetas de 1930”; de quinze em quinze anos, como diz Ortega y Gasset, as coisas “cambiam” significativamente. Ora, quem estude com o mínimo de honestidade a questão das gerações literárias, a própria forma textual da paródia (vide Yuri Tynianov) e o
[caption id="attachment_87817" align="alignleft" width="150"] João Cabral foi eleito "borgeanamente" pelos poetas concretos, como o seu precursor[/caption]
particular da relação de influência em poesia (vide Harold Bloom), não deveria dar muito seguimento a isso, ou pelo menos deveria descer às fontes primárias, antes de repercutir a citação da citação. Mais acadêmico foi o próprio Drummond, que nunca levou a sério tal pedra na vidraça, tanto assim não lhe ter recolhido entre as paródias e pastiches da Biografia de um poema, livro sobre a recepção da “pedra no meio do caminho”, no qual só uma reedição mais recente faz lembrar, em prefácio acrescido, da pelota de Lêdo Ivo.
Outro equívoco será o do papel do poeta alagoano na própria Geração de 45: embora tenha sido um dos editores do primeiro grupo da Orfeu, não foi o autor paradigmático que se alardeia, tendo sido, inclusive, criticado por Domingos Carvalho da Silva nas páginas da Revista Brasileira de Poesia, quando da publicação do Acontecimento do Soneto. Note-se que seria o mesmo Carvalho da Silva quem, tendo objetado a Lêdo Ivo o uso de sibilações e rimas toantes, faria ressalvas a João Cabral de Melo Neto por usar palavras “apoéticas”, tais como “cachorro” (em vez de “cão”) ou “fruta” (em vez de “fruto”). Em bom tempo tudo isso foi repelido por um crítico do porte de Sérgio Buarque de Holanda – que a Lêdo Ivo, muito mais que a Cabral, chamava de “ponto de fuga” da Geração de 45, por não vê-lo pactuar com duas pedras-de-toque dos grupos, ao contrário do pernambucano: a contenção da linguagem (com repúdio ao verso longo) e o chamado rigor, a clareza e a racionalidade na criação literária. Era a Geração do culto a Ungaretti, a Valéry, e o “malsinado parnaso”, para usar a expressão de Merquior, nada tinha a ver, nesse particular, com a produção já muito divergente de Lêdo Ivo, onde abundava o que chamou de verso “respiratório”, de matriz whitmaniana, e um sentido intuitivo ou irracional da criação, mais próximo dos surrealistas (indo mais longe: dos simbolistas e românticos).
Se a Lêdo Ivo, como aos colegas de Geração, o poema-piada e a busca de uma “gramática brasileira” repugnavam, as analogias param por aí. Domingos Carvalho da Silva, que de um lado atacava o Acontecimento do Soneto e, do outro, O cão sem plumas, seria o autor da polêmica tese Há uma nova poesia no Brasil, esta de matriz claramente neoparnasiana, que rendeu intensos debates em 1948, no I Congresso de Poesia de São Paulo (!), quando Oswald de Andrade acusava, junto à companheira Pagu, ter sido a “revolução traída”, entenda-se: a revolução modernista, a despeito do vocabulário marxista da invectiva (ou por isso mesmo).
A roda girou mais uma vez contra Lêdo Ivo, e seria ele, não Carvalho da Silva – de resto esquecido e também carecedor de revisão –, o antípoda de Oswald, no imaginário crítico-acadêmico brasileiro, o que em parte se deve ao Epitáfio do Modernismo e à inimizade dos
[caption id="attachment_87816" align="alignleft" width="150"]
João Cabral foi eleito "borgeanamente" pelos poetas concretos, como o seu precursor[/caption]
particular da relação de influência em poesia (vide Harold Bloom), não deveria dar muito seguimento a isso, ou pelo menos deveria descer às fontes primárias, antes de repercutir a citação da citação. Mais acadêmico foi o próprio Drummond, que nunca levou a sério tal pedra na vidraça, tanto assim não lhe ter recolhido entre as paródias e pastiches da Biografia de um poema, livro sobre a recepção da “pedra no meio do caminho”, no qual só uma reedição mais recente faz lembrar, em prefácio acrescido, da pelota de Lêdo Ivo.
Outro equívoco será o do papel do poeta alagoano na própria Geração de 45: embora tenha sido um dos editores do primeiro grupo da Orfeu, não foi o autor paradigmático que se alardeia, tendo sido, inclusive, criticado por Domingos Carvalho da Silva nas páginas da Revista Brasileira de Poesia, quando da publicação do Acontecimento do Soneto. Note-se que seria o mesmo Carvalho da Silva quem, tendo objetado a Lêdo Ivo o uso de sibilações e rimas toantes, faria ressalvas a João Cabral de Melo Neto por usar palavras “apoéticas”, tais como “cachorro” (em vez de “cão”) ou “fruta” (em vez de “fruto”). Em bom tempo tudo isso foi repelido por um crítico do porte de Sérgio Buarque de Holanda – que a Lêdo Ivo, muito mais que a Cabral, chamava de “ponto de fuga” da Geração de 45, por não vê-lo pactuar com duas pedras-de-toque dos grupos, ao contrário do pernambucano: a contenção da linguagem (com repúdio ao verso longo) e o chamado rigor, a clareza e a racionalidade na criação literária. Era a Geração do culto a Ungaretti, a Valéry, e o “malsinado parnaso”, para usar a expressão de Merquior, nada tinha a ver, nesse particular, com a produção já muito divergente de Lêdo Ivo, onde abundava o que chamou de verso “respiratório”, de matriz whitmaniana, e um sentido intuitivo ou irracional da criação, mais próximo dos surrealistas (indo mais longe: dos simbolistas e românticos).
Se a Lêdo Ivo, como aos colegas de Geração, o poema-piada e a busca de uma “gramática brasileira” repugnavam, as analogias param por aí. Domingos Carvalho da Silva, que de um lado atacava o Acontecimento do Soneto e, do outro, O cão sem plumas, seria o autor da polêmica tese Há uma nova poesia no Brasil, esta de matriz claramente neoparnasiana, que rendeu intensos debates em 1948, no I Congresso de Poesia de São Paulo (!), quando Oswald de Andrade acusava, junto à companheira Pagu, ter sido a “revolução traída”, entenda-se: a revolução modernista, a despeito do vocabulário marxista da invectiva (ou por isso mesmo).
A roda girou mais uma vez contra Lêdo Ivo, e seria ele, não Carvalho da Silva – de resto esquecido e também carecedor de revisão –, o antípoda de Oswald, no imaginário crítico-acadêmico brasileiro, o que em parte se deve ao Epitáfio do Modernismo e à inimizade dos
[caption id="attachment_87816" align="alignleft" width="150"] Lêdo Ivo demonstrou diversas vezes a sua aversão por Oswald de Andrade[/caption]
dois escritores, que data da juventude de Lêdo. Conta no livro memorialístico Confissões de um poeta a sua versão para o desentendimento, segundo a qual Oswald lhe teria pedido a cabeça no emprego que arrumara na redação de um jornal, pelo fato de que ele, Lêdo Ivo, dissera aos colegas que o velho modernista apressara um lauto almoço no Copacabana Palace para terminar um “romance proletário”.
Verdade ou meia-verdade, fato é que Lêdo Ivo detestava Oswald de Andrade e sua poesia, e o disse muitas vezes, a última em entrevista a uma rede nacional televisão. No país do silêncio murmurante, na Pindorama do tapinha nas costas, isso é imperdoável – e mais em se tratando de um corifeu do “novo”, do “moderno” e da “ruptura”.
O prosseguimento do discurso crítico de exceção, cristalizado na “incômoda convergência cronológica” de João Cabral, teria uma sobrevida muito robusta, sobretudo quando os poetas concretos o elegeram borgeanamente como precursor. Se a crítica anterior, ocupando nas universidades o espaço dos rodapés no meio literário depois da cruzada de Afrânio Coutinho, procurava o poeta ideal para substituir o “impressionismo” pelo “método”, no momento mesmo da criação dos institutos de Letras no Brasil, uma vanguarda da década de 1950 – coisa aliás unicamente brasileira – e nascida nas páginas da mesma Revista Brasileira de Poesia do grupo de Péricles Eugênio da Silva Ramos, ao tomar a cena da poesia e da tradução reinvidicava para si o “pai” João Cabral, geômetra engajado, como o chamaria Haroldo de Campos. Quanto a Cabral, é fato que participou da Geração de 45, tendo inclusive colaborado com traduções de quinze poetas catalães para aquela mesma revista, quando recomendava, em nota, que a “...posição materialista diante da criação poética” daqueles autores talvez devesse “ser considerada por parte de outros idiomas não-ameaçados”, como o português.
[caption id="attachment_87818" align="alignleft" width="150"]
Lêdo Ivo demonstrou diversas vezes a sua aversão por Oswald de Andrade[/caption]
dois escritores, que data da juventude de Lêdo. Conta no livro memorialístico Confissões de um poeta a sua versão para o desentendimento, segundo a qual Oswald lhe teria pedido a cabeça no emprego que arrumara na redação de um jornal, pelo fato de que ele, Lêdo Ivo, dissera aos colegas que o velho modernista apressara um lauto almoço no Copacabana Palace para terminar um “romance proletário”.
Verdade ou meia-verdade, fato é que Lêdo Ivo detestava Oswald de Andrade e sua poesia, e o disse muitas vezes, a última em entrevista a uma rede nacional televisão. No país do silêncio murmurante, na Pindorama do tapinha nas costas, isso é imperdoável – e mais em se tratando de um corifeu do “novo”, do “moderno” e da “ruptura”.
O prosseguimento do discurso crítico de exceção, cristalizado na “incômoda convergência cronológica” de João Cabral, teria uma sobrevida muito robusta, sobretudo quando os poetas concretos o elegeram borgeanamente como precursor. Se a crítica anterior, ocupando nas universidades o espaço dos rodapés no meio literário depois da cruzada de Afrânio Coutinho, procurava o poeta ideal para substituir o “impressionismo” pelo “método”, no momento mesmo da criação dos institutos de Letras no Brasil, uma vanguarda da década de 1950 – coisa aliás unicamente brasileira – e nascida nas páginas da mesma Revista Brasileira de Poesia do grupo de Péricles Eugênio da Silva Ramos, ao tomar a cena da poesia e da tradução reinvidicava para si o “pai” João Cabral, geômetra engajado, como o chamaria Haroldo de Campos. Quanto a Cabral, é fato que participou da Geração de 45, tendo inclusive colaborado com traduções de quinze poetas catalães para aquela mesma revista, quando recomendava, em nota, que a “...posição materialista diante da criação poética” daqueles autores talvez devesse “ser considerada por parte de outros idiomas não-ameaçados”, como o português.
[caption id="attachment_87818" align="alignleft" width="150"] Gilberto Mendonça Teles é autor de um dos poucos estudos de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo [/caption]
Sustenta Gilberto Mendonça Teles, em um dos poucos ensaios de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo, que seria ele o distoante e Cabral o paradigmático em relação a 45; a tese parece ecoar um pouco o artigo de Sérgio Buarque de Holanda, mas vai mais longe. Não pensamos que Cabral seja paradigmático da Geração; contudo, sem dúvida o é de alguns aspectos dela – precisamente aqueles que, com alguns pontos de contato com o Parnaso, a que não era alheia a objetividade (o banimento do “eu” romântico), passavam longe da convenção literária de “palavras poéticas” e assimilavam a assim chamada antilira – precisamente aquilo que repudiava Domingos Carvalho da Silva. E é este viés objetal e antiliríco, até materialista, que, bebendo em fontes estrangeiras, como Valéry ou Marianne Moore, e servindo-se dos metros tradicionais ibéricos, iria engendrar a obra cabralina. A visualidade da imagem, radicalizada pelos concretos, pode ser lida em tal linhagem, porém se articula com uma dimensão, não propriamente parnasiana, mas simbolista da pesquisa poética – um Simbolismo de experimentos, entendido na sua mais ampla acepção europeia, como aqui só houve episodicamente, em autores que os próprios concretos também cuidaram de revificar, como é o caso de Pedro Kilkerry.
Hábeis na construção de seu cânone, traduzindo em ritmo acelarado e publicando autores até então lidos apenas no original ou mesmo desconhecidos, os filhos bastardos da Geração de 45 logo apagariam essa naturalidade de seus registros de nascimento, fariam sua própria revista e se voltariam contra a mesma Geração que lhes deu à estampa pela primeira vez.
Aí estão alinhavadas, tanto quanto o permite este espaço, as razões pelas quais se pode entender o silenciamento em que caíram nomes como Péricles Eugênio da Silva Ramos, Darcy Damasceno, Fernando Ferreira de Loanda, José Paulo Moreira da Fonseca (este, apesar do aplauso inicial de Merquior), Afonso Félix de Sousa ou o próprio Lêdo Ivo. Quanto ao último, foi sem dúvida o mais resistente de todos, aquele que ultrapassou, pela única força de sua palavra literária, todas as barreiras criadas pelo não-dito, pelos apodos jocosos – “lêdo ivo engano” etc. –, pelas citações propositamente mal recortadas, pela valorização de eventos da vida literária em detrimento da literatura. Publicou, ganhou prêmios importantes, foi traduzido e, para um poeta, nos padrões do Brasil, não se pode dizer que tenha caído em ostracismo.
Contudo, em quase setenta anos de atividade literária, assusta pensar que a universidade brasileira produziu pouquíssimo conhecimento em relação à sua obra. Assusta pensar que seja nome quase impronunciável em programas de pós-graduação, e que o único perfil jornalístico feito dele, quando do seu falecimento, tenha preferido ressaltar o anedotário da Academia Brasileira de Letras à sua volumosa poesia: quase mil e cem páginas em uma edição de 2004, a que faltam alguns livros posteriores.
Gilberto Mendonça Teles é autor de um dos poucos estudos de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo [/caption]
Sustenta Gilberto Mendonça Teles, em um dos poucos ensaios de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo, que seria ele o distoante e Cabral o paradigmático em relação a 45; a tese parece ecoar um pouco o artigo de Sérgio Buarque de Holanda, mas vai mais longe. Não pensamos que Cabral seja paradigmático da Geração; contudo, sem dúvida o é de alguns aspectos dela – precisamente aqueles que, com alguns pontos de contato com o Parnaso, a que não era alheia a objetividade (o banimento do “eu” romântico), passavam longe da convenção literária de “palavras poéticas” e assimilavam a assim chamada antilira – precisamente aquilo que repudiava Domingos Carvalho da Silva. E é este viés objetal e antiliríco, até materialista, que, bebendo em fontes estrangeiras, como Valéry ou Marianne Moore, e servindo-se dos metros tradicionais ibéricos, iria engendrar a obra cabralina. A visualidade da imagem, radicalizada pelos concretos, pode ser lida em tal linhagem, porém se articula com uma dimensão, não propriamente parnasiana, mas simbolista da pesquisa poética – um Simbolismo de experimentos, entendido na sua mais ampla acepção europeia, como aqui só houve episodicamente, em autores que os próprios concretos também cuidaram de revificar, como é o caso de Pedro Kilkerry.
Hábeis na construção de seu cânone, traduzindo em ritmo acelarado e publicando autores até então lidos apenas no original ou mesmo desconhecidos, os filhos bastardos da Geração de 45 logo apagariam essa naturalidade de seus registros de nascimento, fariam sua própria revista e se voltariam contra a mesma Geração que lhes deu à estampa pela primeira vez.
Aí estão alinhavadas, tanto quanto o permite este espaço, as razões pelas quais se pode entender o silenciamento em que caíram nomes como Péricles Eugênio da Silva Ramos, Darcy Damasceno, Fernando Ferreira de Loanda, José Paulo Moreira da Fonseca (este, apesar do aplauso inicial de Merquior), Afonso Félix de Sousa ou o próprio Lêdo Ivo. Quanto ao último, foi sem dúvida o mais resistente de todos, aquele que ultrapassou, pela única força de sua palavra literária, todas as barreiras criadas pelo não-dito, pelos apodos jocosos – “lêdo ivo engano” etc. –, pelas citações propositamente mal recortadas, pela valorização de eventos da vida literária em detrimento da literatura. Publicou, ganhou prêmios importantes, foi traduzido e, para um poeta, nos padrões do Brasil, não se pode dizer que tenha caído em ostracismo.
Contudo, em quase setenta anos de atividade literária, assusta pensar que a universidade brasileira produziu pouquíssimo conhecimento em relação à sua obra. Assusta pensar que seja nome quase impronunciável em programas de pós-graduação, e que o único perfil jornalístico feito dele, quando do seu falecimento, tenha preferido ressaltar o anedotário da Academia Brasileira de Letras à sua volumosa poesia: quase mil e cem páginas em uma edição de 2004, a que faltam alguns livros posteriores.

O dândi vê-se acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas
[caption id="attachment_87215" align="alignnone" width="620"] "I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
(“L’Albatros”, Charles Baudelaire )
Quando falamos da poética de Charles Baudelaire, logo nos vem à mente um apanhado de características marcantes: o requinte formal com ares de ruína, o simbolismo carregado de liturgia e revolta, o olhar de camarote à miséria humana e a coexistência do mármore e da carniça. Pode-se dizer que esse conjunto de elementos contraditórios compõe seu principal motivo: a expressão da modernidade, contraditória por excelência.
Mas o que se entende por modernidade e moderno no contexto de Baudelaire? Decerto todas as mudanças que as unidades social, econômica e política enfrentavam, com a decadência da monarquia e ascensão da burguesia e da classe operária, com o progresso industrial, que transformava as pequenas vilas em núcleos de calor e burburinho, e com um nova compreensão de sociedade: um coletivo de homens de morais díspares, guiados por propósitos individuais. Aos olhos daqueles que primavam pelo Belo e pelo Sublime, a modernidade era uma ameaça à pureza moral do homem e de suas ideias. Dessa aversão ao progresso, hastearam-se as bandeiras de escolas literárias como o Romantismo, que buscara a fuga sobretudo no exótico e no onírico, e o Parnasianismo, que propunha uma regressão ao passado e à harmonia grega. Baudelaire hasteara sua bandeira justamente contra esses ideais.
[caption id="attachment_87218" align="alignleft" width="300"]
"I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
(“L’Albatros”, Charles Baudelaire )
Quando falamos da poética de Charles Baudelaire, logo nos vem à mente um apanhado de características marcantes: o requinte formal com ares de ruína, o simbolismo carregado de liturgia e revolta, o olhar de camarote à miséria humana e a coexistência do mármore e da carniça. Pode-se dizer que esse conjunto de elementos contraditórios compõe seu principal motivo: a expressão da modernidade, contraditória por excelência.
Mas o que se entende por modernidade e moderno no contexto de Baudelaire? Decerto todas as mudanças que as unidades social, econômica e política enfrentavam, com a decadência da monarquia e ascensão da burguesia e da classe operária, com o progresso industrial, que transformava as pequenas vilas em núcleos de calor e burburinho, e com um nova compreensão de sociedade: um coletivo de homens de morais díspares, guiados por propósitos individuais. Aos olhos daqueles que primavam pelo Belo e pelo Sublime, a modernidade era uma ameaça à pureza moral do homem e de suas ideias. Dessa aversão ao progresso, hastearam-se as bandeiras de escolas literárias como o Romantismo, que buscara a fuga sobretudo no exótico e no onírico, e o Parnasianismo, que propunha uma regressão ao passado e à harmonia grega. Baudelaire hasteara sua bandeira justamente contra esses ideais.
[caption id="attachment_87218" align="alignleft" width="300"] Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Les Fleurs du Mal, seu maior legado, representa um marco na literatura, na poesia e na compreensão do homem moderno; não à toa, Otto Maria Carpeaux chama o poeta de “fundador da poesia lírica moderna”. “L’Albatros”, dentre os inaugurais do livro, é um poema emblemático tanto para a obra do francês quanto para toda uma geração decadentista que se levantava no ocidente contra a mesmice e a monotonia que se tornaram o Romantismo e o Parnasianismo (excetuando-se, claro, os grandes autores dessas escolas, que, a despeito das divergências ideológicas, permaneceriam exemplares ao gosto moderno). Escrito em alexandrinos franceses, seus quatro quartetos descrevem o sadismo de uma tripulação que captura albatrozes no alto-mar, torturando-os e rindo de seu desajeito; ao fim, tem-se a comparação que sela as imagens do poema: o poeta é como o albatroz que, exilado no chão, não pode andar devido à inconveniência das asas gigantescas.
Bem mais que um símbolo, esse poema é uma alegoria. O albatroz exilado no solo sangra a cada passo desferido contra o chão de pedra em meio ao caos da multidão latente – e assim é o poeta moderno que se afoga no escarcéu das cidades: perdida a capacidade de voar, perde também seu posto como príncipe das alturas. Semelhante argumento em símiles bem parecidos é apresentado no poema anterior, “Bênção”, no qual acerca do poeta lemos, pela tradução de Ivan Junqueira (As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p. 131), que:
Às nuvens ele fala, aos ventos desafia
E a via-sacra entre canções percorre em festa;
O Espírito que o segue em sua romaria
Chora ao vê-lo feliz como ave da floresta.
Os que ele quer amar o observam com receio,
Ou então, por desprezo à sua estranha paz,
Buscam quem saiba acometê-lo em pleno seio,
E empenham-se em sangrar a fera que ele traz.
Além de abordar alguns dos principais motivos dAs Flores do Mal, i.e., o Exílio, a Queda, a Multidão, o Spleen e o Sublime, “L’Albatros” prenuncia a nova identidade do Poeta ante a modernização do final do século: o dândi acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas.
Há que se perceber o avanço dessas ideias: como dito anteriormente, o que reinava no ocidente então era a ideologia emancipatória de românticos e parnasianos. Aqueles, fugindo ao progresso, voltavam-se ao exótico e ao esotérico; estes, inspirados pelo passado remoto da Grécia e pelos ícones artificiais que a representavam, promoviam o autoexílio na Beleza e a arte com o fim em si própria, sem interesse no engajamento social. De um, Baudelaire herdou o catolicismo e o satanismo; de outro, a mitologia e a perfeição formal. No entanto, se nele reencontramos a questão do Exílio, esta já é tratada de maneira completamente diversa: o poeta que se trancava em seu gabinete (a famosa torre de mármore), abrindo seus braços para o Etéreo e os ouvidos para a voz de Deus, é agora um transeunte privado desse posto de xamã. Sobre o tema do exílio em “L’Albatros”, diz Ivan Junqueira (Baudelaire, Eliot, Dylan Thomas: três visões da modernidade. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 71):
"[...] encontra, ao menos para nós, sua mais alta expressão poética na insólita imagem desse pássaro privado do espaço, dessa ave que se arrasta, “ridícula e sublime”, entre as vicissitudes de um mundo que não é o seu. Poder-se-ia conceber imagem mais tangível e tramática da Queda, da expulsão do Paraíso, do que a desse majestoso e todavia impotente albatroz lançado às tábuas de um convés?"
Desde o pecado original, o homem vive alheio aos desígnios divinos, e o poeta era o eleito dentre os homens para promover a correspondência entre o mundo visível e o mundo ideal; entretanto, não há mais consonância entre o que acontece no plano visível e no plano etéreo: o progresso e o ideal nunca se reencontrariam.
No Brasil, sabe-se que o Romantismo e o Parnasianismo (o segundo mais que o primeiro) por muito tempo ofuscaram o que viria a ser o Simbolismo de um Cruz e Souza, de um Alphonsus de Guimaraens e de um Pedro Kilkerry, o satanismo de um Teófilo Dias e de um Carvalho Júnior. O parnaso se instalou e sobreviveu por aqui mais que em qualquer outro lugar, de forma que tais poetas só seriam resgatados pelos modernistas e pós-modernistas. Esses autores, por muitas décadas marginalizados, foram os principais responsáveis pela chegada de Baudelaire à terra da santa cruz. Quanto a “L’Albatros”, ou “O Albatroz”, como o chamaríamos, tem-se uma contradição bastante curiosa: o poema-escudo de Olavo Bilac e emblema do Parnasianismo brasileiro, o soneto “Longe do estéril turbilhão” da rua seria publicado somente em 1919, mais de sessenta anos após Les Fleurs Du Mal perfurarem a Literatura com seus espinhos retorcidos.
Se custou para que o poeta decadente caísse ao gosto do público francês (sabe-se que, na época de sua publicação, fora duramente reprimido), ainda mais custou para que o príncipe da altura tombasse definitivamente ao turbilhão da rua, sobretudo em nossa pátria de vanguardas tardias. Entretanto, quase que paradoxalmente, temos para o português diversas traduções de “O Albatroz” – o poema, creio, mais traduzido de Baudelaire. Algumas datam antes mesmo do soneto de Bilac. Guilherme de Almeida (1944), Ivan Junqueira (Op.Cit.), Teófilo Dias (1878), Felix Pacheco(1932), Onestaldo de Pennafort (1931), Jamil Almansur Haddad (1958), entre outros, divulgaram por aqui a palavra do poeta-profeta francês. Pretendo ater-me às traduções aqui mencionadas e pôr um jugo analítico sobre algumas escolhas desses autores.
Algo já se conclui das primeiras leituras: dentre as selecionadas, a tradução de Guilherme de Almeida é uma das mais fluentes, ao passo que a tradução de Teófilo Dias apresenta os maiores arcaísmos; salvo por Felix Pacheco, todas traduzem des albatros, no plural, por um albatroz, no singular; algumas reprimem a liberdade transcriativa, outras lançam-lhe mão a bel prazer; todas, enfim, dão um sabor tropical ao oceano navegado.
Formalmente, todos os poetas mencionados mantiveram a correspondência métrica, traduzindo o alexandrino francês como alexandrino português, ambos com doze sílabas poéticas. Junqueira é o único que apresenta ocasionalmente versos sem a cesura na sexta sílaba do alexandrino clássico. Nenhum manteve o esquema rímico francês de oxítonas e paroxítonas alternadas, visto que se trata de um recurso idiomático que não caberia preservar em nossa língua. Comparando os resultados, percebemos muitas consonâncias, versos quase cristalizados e imutáveis por terem talvez atingido o ideal da tradução poética, como é o caso do último:
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
“Impedem-no de — andar — as asas de gigante!” (Teófilo Dias)
“As asas de gigante o impedem de marchar!” (Felix Pacheco)
“As asas de gigante impedem-no de andar.” (Ivan Junqueira, Guilherme de Almeida e Jamil Almansur Haddad)
“suas asas de gigante impedem-no de andar.” (Onestaldo de Pennafort)
O mesmo não se percebe em momentos mais narrativos, como o da primeira estrofe:
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
“O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.”
(Teófilo Dias)
“Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.”
(Felix Pacheco)
“Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.”
(Ivan Junqueira)
Perceba-se que Teófilo Dias recorre a um descritivismo inexistente no original ao mencionar uma “esteira de áurea espuma” (trecho cuja sonoridade atinge alto nível poético: os ditongos e encontros consonantais chegam a sugerir o oscilante voo da ave e até mesmo a ideia do navio cortando a esteira marinha). A propósito, dos que tomamos para análise, ele é o único que não traduz les hommes d’équipage por “os homens da equipagem”. Cada um pinta a figura dos gouffres amers de um jeito diferente: “vórtices amargos”, “abismos salgados”, “glaucos patamares”. Este último substitui a amargura pelo tom esverdeado, dando outro sentido ao verso. Entretanto, com mares-patamares Ivan mantém o jogo de palavras entre mers-amers, em que a segunda palavra engloba a primeira. Pour s’amuser apresenta soluções muito interessantes, sendo “por prazer” (Guilherme de Almeida, Ivan Junqueira) a mais próxima semântica e sonoramente; ademais, nos deparamos com “por brinquedo” (Felix Pacheco), “por diversão” (Teófilo Dias), “em recreio” (Onestaldo de Pennafort), “por folgar” (Jamil Almansur Haddad).
É importante notar como o poema trabalha com contraposições imagéticas do começo ao fim: primeiro, os marinheiros no chão e o albatroz no céu; em seguida, as tábuas do convés (rude, forjado) e as asas brancas (suave, natural); após, a lembrança de uma ave bela e o encontro de uma ave arruinada; por fim, o sumo da queda e o sumo do exílio no nefelibata. Os tradutores logram trabalhar de maneira própria esses contrastes:
“E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado”
(Jamil A. Haddad)
“Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!”
(Onestaldo de Pennafort)
“Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.”
(Guilherme de Almeida)
Alguns acréscimos e alterações visam somente a manutenção da métrica e da rima, como vemos em limbo-cachimbo, nimbo-cachimbo, costuma-espuma, ousados-salgados. Contudo, antes de criticá-las como afastamentos do poema original, devemos analisar se no conjunto final são alterações pífias, ou se realmente possuem significância, pois, como percebemos no “esteira de áurea espuma” de Teófilo dias, essa alteração representou um ganho sonoro para o poema. A meu ver, em todos esses casos, as alterações são válidas, pois não prejudicam a compreensão do original, e as traduções não se afastam formalmente do mesmo. No fim, são leituras condicionadas por pensamentos de épocas diversas. Temos, atualmente, projetos de tradução ainda mais ousados, como o de Mário Laranjeira, que traduziu As Flores do Mal com rimas toantes, e o de Álvaro Faleiros, que procura em seu projeto de tradução resgatar o prosaísmo baudelaireano em detrimento da perfeição dos alexandrinos e das rimas.
Entretanto, se a ideia é selecionar dentre as estudadas uma versão em que a proximidade ao conteúdo original se faz mais explícita, eu escolheria a de Guilherme de Almeida. Embora não atinja a todo momento os melhores resultados (perde-se, por exemplo, a caracterização dos abismos no quarto verso), ela apresenta uma unidade muito próxima do original, uma tentativa de recuperar ao máximo os recursos e vocábulos franceses sem transbordar de sentimentos próprios do tradutor.
Após esta breve análise que visava à exaltação do poema de Baudelaire e do ato tradutório executado por alguns de seus maiores seguidores, apresento minha tradução do poema, que não é nada mais que uma leitura pessoal de versos que tanto admiro, e para a qual busquei resultados diferentes dos apresentados aqui. Formalmente, mantive os versos alexandrinos com cesura na sexta sílaba e segui o mesmo esquema de rimas cruzadas do original. Como os demais, não logrei a transposição regular do esquema rímico francês. Só me ocorreu fazê-lo na última estrofe.
Concedi-me alguma liberdade na construção das sentenças, prezando sempre pela manutenção do sentido e das imagens; alguns termos, somente, foram acrescentados, suprimidos e alterados para fins métricos e sonoros, como é o caso sobretudo de “prince des nuées” tornado “nobre superno”, e “au milieu des huées” tornado “preso ao mundano inferno”. Essa última, eu creio que seja a transposição que mais se afasta do original, mas não acuso nela perda de sentido, tendo em mente a concepção de multidão na obra de Baudelaire como apontamos neste ensaio. Enfim, todas essas releituras foram pensadas tanto para o afastamento de minha tradução das demais quanto para não me tornar um fidus interpres da obra original, dando um pouco de mim ao poema na medida do inofensivo.
Tradução autoral
O ALBATROZ
No tédio, é bem comum que os marinheiros peguem
À força do alto-mar imensos albatrozes
Que, indolentes, a nau acompanhando, seguem
A deslizar por sobre os pélagos atrozes.
E basta que ao convés arremessados sejam
Para que os reis do azul, acanhados e mancos,
Deixem tombar consigo as vastas mãos que adejam
Qual se fossem um par de longos remos brancos.
Pobre alado viajor, como é canhestra e lassa
Sua figura outrora altiva e ora tão feia!
Um, tomando um cachimbo, irrita-o com a fumaça,
Outro, a zombar do enfermo órfão do céu, coxeia!
O Poeta é semelhante a esse nobre superno
Que, acima, ri do arqueiro e afronta os vendavais:
Exilado no chão, preso ao mundano inferno,
Vacila rastejando as asas colossais.
Traduções estudadas
Teófilo Dias (1854-1889)
O ALBATROZ
A Arthur de Oliveira
O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.
Mal se expõe do convés ás gargalhadas francas,
O herói, que aos céus vingava os páramos extremos,
Deixa piedosamente as grandes asas brancas
Colherem-se nos pés, como esquecidos remos.
Como a envergura audaz comicamente agita,
Sem o garbo, o primor, que altívolo ostentava!
Um, metendo-lhe ao bico um ferro em brasa, o irrita;
Outro — inválido — apupa o enfermo que voava!
O poeta é como o rei do etéreo azul profundo,
Que ama os tufões, e fita, em face, o sol radiante:
Da turba exposto ao rir no exílio deste mundo,
Impedem-no de — andar — as asas de gigante!
Felix Pacheco (1879-1935)
O ALBATROZ
Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.
E, mal no tombadilho assim os vão pousando,
como esses reis do azul se aviltam logo, esquerdos,
As asas sem medida e brancas semelhando
Dous remos laterais que se arrestassem lerdos!
Tão belo, não faz muito, e, ora, que cousa ignava!
O nauta audaz dos céus, como parece à toa!
Qual com um cachimbo aceso o bico lhe irritava,
E outro zomba, a coxear, do enfermo que não voa.
A seta e o raio entanto olhara com denodo,
E o Poeta é em tudo igual a esse príncipe do ar:
Exilado na terra, em meio a vaia e o apodo,
As asas de gigante o impedem de marchar!
Guilherme de Almeida (1890-1969)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens de equipagem
Pegam um albatroz, enorme ave marinha,
Que segue, companheiro indolente de viagem,
O navio que sobre os abismos caminha.
Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.
Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo!
Ave tão bela, como está cômica e feia!
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo,
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeia!
O poeta é semelhante ao príncipe da altura
Que busca a tempestade e ri da flecha no ar;
Exilado no chão, em meio à corja impura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Onestaldo de Pennafort (1902-1987)
O ALBATROZ
Às vezes, em recreio, os homens da equipagem
pegam um albatroz, enorme ave marinha
que segue, companheiro indolente de viagem,
o navio que sobre o atro abismo caminha.
Mal no convés se vê, todo desconjuntado,
logo esse rei do azul, em passos desiguais,
como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado,
desajeitadamente, as asas colossais.
Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!
O poeta é o albatroz que nas nuvens se espraia,
que ri dos vendavais e afronta as setas, no ar;
exilado no solo, em meio ao riso e à vaia,
suas asas de gigante impedem-no de andar.
Jamil Almansur Haddad (1914-1988)
O ALBATROZ
Às vezes, por folgar, os homens da equipagem
Pegam de um albatroz, enorme ave do mar,
Que segue — companheiro indolente de viagem —
O navio no abismo amargo a deslizar.
E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado.
O alado viajor tomba como num limbo!
Hoje é cômico e feio, ontem tanto agradava!
Um ao seu bico leva o irritante cachimbo,
Outro imita a coxear o enfermo que voava!
O Poeta é semelhante ao príncipe do céu
Que do arqueiro se ri e da tormenta no ar;
Exilado na terra e em meio do escarcéu,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Ivan Junqueira (1934-2014)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.
Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em que fulge um branco imaculado.
Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça,
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!
O Poeta se compara ao príncipe da altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Pedro Mohallem é graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)
Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Les Fleurs du Mal, seu maior legado, representa um marco na literatura, na poesia e na compreensão do homem moderno; não à toa, Otto Maria Carpeaux chama o poeta de “fundador da poesia lírica moderna”. “L’Albatros”, dentre os inaugurais do livro, é um poema emblemático tanto para a obra do francês quanto para toda uma geração decadentista que se levantava no ocidente contra a mesmice e a monotonia que se tornaram o Romantismo e o Parnasianismo (excetuando-se, claro, os grandes autores dessas escolas, que, a despeito das divergências ideológicas, permaneceriam exemplares ao gosto moderno). Escrito em alexandrinos franceses, seus quatro quartetos descrevem o sadismo de uma tripulação que captura albatrozes no alto-mar, torturando-os e rindo de seu desajeito; ao fim, tem-se a comparação que sela as imagens do poema: o poeta é como o albatroz que, exilado no chão, não pode andar devido à inconveniência das asas gigantescas.
Bem mais que um símbolo, esse poema é uma alegoria. O albatroz exilado no solo sangra a cada passo desferido contra o chão de pedra em meio ao caos da multidão latente – e assim é o poeta moderno que se afoga no escarcéu das cidades: perdida a capacidade de voar, perde também seu posto como príncipe das alturas. Semelhante argumento em símiles bem parecidos é apresentado no poema anterior, “Bênção”, no qual acerca do poeta lemos, pela tradução de Ivan Junqueira (As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p. 131), que:
Às nuvens ele fala, aos ventos desafia
E a via-sacra entre canções percorre em festa;
O Espírito que o segue em sua romaria
Chora ao vê-lo feliz como ave da floresta.
Os que ele quer amar o observam com receio,
Ou então, por desprezo à sua estranha paz,
Buscam quem saiba acometê-lo em pleno seio,
E empenham-se em sangrar a fera que ele traz.
Além de abordar alguns dos principais motivos dAs Flores do Mal, i.e., o Exílio, a Queda, a Multidão, o Spleen e o Sublime, “L’Albatros” prenuncia a nova identidade do Poeta ante a modernização do final do século: o dândi acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas.
Há que se perceber o avanço dessas ideias: como dito anteriormente, o que reinava no ocidente então era a ideologia emancipatória de românticos e parnasianos. Aqueles, fugindo ao progresso, voltavam-se ao exótico e ao esotérico; estes, inspirados pelo passado remoto da Grécia e pelos ícones artificiais que a representavam, promoviam o autoexílio na Beleza e a arte com o fim em si própria, sem interesse no engajamento social. De um, Baudelaire herdou o catolicismo e o satanismo; de outro, a mitologia e a perfeição formal. No entanto, se nele reencontramos a questão do Exílio, esta já é tratada de maneira completamente diversa: o poeta que se trancava em seu gabinete (a famosa torre de mármore), abrindo seus braços para o Etéreo e os ouvidos para a voz de Deus, é agora um transeunte privado desse posto de xamã. Sobre o tema do exílio em “L’Albatros”, diz Ivan Junqueira (Baudelaire, Eliot, Dylan Thomas: três visões da modernidade. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 71):
"[...] encontra, ao menos para nós, sua mais alta expressão poética na insólita imagem desse pássaro privado do espaço, dessa ave que se arrasta, “ridícula e sublime”, entre as vicissitudes de um mundo que não é o seu. Poder-se-ia conceber imagem mais tangível e tramática da Queda, da expulsão do Paraíso, do que a desse majestoso e todavia impotente albatroz lançado às tábuas de um convés?"
Desde o pecado original, o homem vive alheio aos desígnios divinos, e o poeta era o eleito dentre os homens para promover a correspondência entre o mundo visível e o mundo ideal; entretanto, não há mais consonância entre o que acontece no plano visível e no plano etéreo: o progresso e o ideal nunca se reencontrariam.
No Brasil, sabe-se que o Romantismo e o Parnasianismo (o segundo mais que o primeiro) por muito tempo ofuscaram o que viria a ser o Simbolismo de um Cruz e Souza, de um Alphonsus de Guimaraens e de um Pedro Kilkerry, o satanismo de um Teófilo Dias e de um Carvalho Júnior. O parnaso se instalou e sobreviveu por aqui mais que em qualquer outro lugar, de forma que tais poetas só seriam resgatados pelos modernistas e pós-modernistas. Esses autores, por muitas décadas marginalizados, foram os principais responsáveis pela chegada de Baudelaire à terra da santa cruz. Quanto a “L’Albatros”, ou “O Albatroz”, como o chamaríamos, tem-se uma contradição bastante curiosa: o poema-escudo de Olavo Bilac e emblema do Parnasianismo brasileiro, o soneto “Longe do estéril turbilhão” da rua seria publicado somente em 1919, mais de sessenta anos após Les Fleurs Du Mal perfurarem a Literatura com seus espinhos retorcidos.
Se custou para que o poeta decadente caísse ao gosto do público francês (sabe-se que, na época de sua publicação, fora duramente reprimido), ainda mais custou para que o príncipe da altura tombasse definitivamente ao turbilhão da rua, sobretudo em nossa pátria de vanguardas tardias. Entretanto, quase que paradoxalmente, temos para o português diversas traduções de “O Albatroz” – o poema, creio, mais traduzido de Baudelaire. Algumas datam antes mesmo do soneto de Bilac. Guilherme de Almeida (1944), Ivan Junqueira (Op.Cit.), Teófilo Dias (1878), Felix Pacheco(1932), Onestaldo de Pennafort (1931), Jamil Almansur Haddad (1958), entre outros, divulgaram por aqui a palavra do poeta-profeta francês. Pretendo ater-me às traduções aqui mencionadas e pôr um jugo analítico sobre algumas escolhas desses autores.
Algo já se conclui das primeiras leituras: dentre as selecionadas, a tradução de Guilherme de Almeida é uma das mais fluentes, ao passo que a tradução de Teófilo Dias apresenta os maiores arcaísmos; salvo por Felix Pacheco, todas traduzem des albatros, no plural, por um albatroz, no singular; algumas reprimem a liberdade transcriativa, outras lançam-lhe mão a bel prazer; todas, enfim, dão um sabor tropical ao oceano navegado.
Formalmente, todos os poetas mencionados mantiveram a correspondência métrica, traduzindo o alexandrino francês como alexandrino português, ambos com doze sílabas poéticas. Junqueira é o único que apresenta ocasionalmente versos sem a cesura na sexta sílaba do alexandrino clássico. Nenhum manteve o esquema rímico francês de oxítonas e paroxítonas alternadas, visto que se trata de um recurso idiomático que não caberia preservar em nossa língua. Comparando os resultados, percebemos muitas consonâncias, versos quase cristalizados e imutáveis por terem talvez atingido o ideal da tradução poética, como é o caso do último:
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
“Impedem-no de — andar — as asas de gigante!” (Teófilo Dias)
“As asas de gigante o impedem de marchar!” (Felix Pacheco)
“As asas de gigante impedem-no de andar.” (Ivan Junqueira, Guilherme de Almeida e Jamil Almansur Haddad)
“suas asas de gigante impedem-no de andar.” (Onestaldo de Pennafort)
O mesmo não se percebe em momentos mais narrativos, como o da primeira estrofe:
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
“O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.”
(Teófilo Dias)
“Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.”
(Felix Pacheco)
“Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.”
(Ivan Junqueira)
Perceba-se que Teófilo Dias recorre a um descritivismo inexistente no original ao mencionar uma “esteira de áurea espuma” (trecho cuja sonoridade atinge alto nível poético: os ditongos e encontros consonantais chegam a sugerir o oscilante voo da ave e até mesmo a ideia do navio cortando a esteira marinha). A propósito, dos que tomamos para análise, ele é o único que não traduz les hommes d’équipage por “os homens da equipagem”. Cada um pinta a figura dos gouffres amers de um jeito diferente: “vórtices amargos”, “abismos salgados”, “glaucos patamares”. Este último substitui a amargura pelo tom esverdeado, dando outro sentido ao verso. Entretanto, com mares-patamares Ivan mantém o jogo de palavras entre mers-amers, em que a segunda palavra engloba a primeira. Pour s’amuser apresenta soluções muito interessantes, sendo “por prazer” (Guilherme de Almeida, Ivan Junqueira) a mais próxima semântica e sonoramente; ademais, nos deparamos com “por brinquedo” (Felix Pacheco), “por diversão” (Teófilo Dias), “em recreio” (Onestaldo de Pennafort), “por folgar” (Jamil Almansur Haddad).
É importante notar como o poema trabalha com contraposições imagéticas do começo ao fim: primeiro, os marinheiros no chão e o albatroz no céu; em seguida, as tábuas do convés (rude, forjado) e as asas brancas (suave, natural); após, a lembrança de uma ave bela e o encontro de uma ave arruinada; por fim, o sumo da queda e o sumo do exílio no nefelibata. Os tradutores logram trabalhar de maneira própria esses contrastes:
“E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado”
(Jamil A. Haddad)
“Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!”
(Onestaldo de Pennafort)
“Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.”
(Guilherme de Almeida)
Alguns acréscimos e alterações visam somente a manutenção da métrica e da rima, como vemos em limbo-cachimbo, nimbo-cachimbo, costuma-espuma, ousados-salgados. Contudo, antes de criticá-las como afastamentos do poema original, devemos analisar se no conjunto final são alterações pífias, ou se realmente possuem significância, pois, como percebemos no “esteira de áurea espuma” de Teófilo dias, essa alteração representou um ganho sonoro para o poema. A meu ver, em todos esses casos, as alterações são válidas, pois não prejudicam a compreensão do original, e as traduções não se afastam formalmente do mesmo. No fim, são leituras condicionadas por pensamentos de épocas diversas. Temos, atualmente, projetos de tradução ainda mais ousados, como o de Mário Laranjeira, que traduziu As Flores do Mal com rimas toantes, e o de Álvaro Faleiros, que procura em seu projeto de tradução resgatar o prosaísmo baudelaireano em detrimento da perfeição dos alexandrinos e das rimas.
Entretanto, se a ideia é selecionar dentre as estudadas uma versão em que a proximidade ao conteúdo original se faz mais explícita, eu escolheria a de Guilherme de Almeida. Embora não atinja a todo momento os melhores resultados (perde-se, por exemplo, a caracterização dos abismos no quarto verso), ela apresenta uma unidade muito próxima do original, uma tentativa de recuperar ao máximo os recursos e vocábulos franceses sem transbordar de sentimentos próprios do tradutor.
Após esta breve análise que visava à exaltação do poema de Baudelaire e do ato tradutório executado por alguns de seus maiores seguidores, apresento minha tradução do poema, que não é nada mais que uma leitura pessoal de versos que tanto admiro, e para a qual busquei resultados diferentes dos apresentados aqui. Formalmente, mantive os versos alexandrinos com cesura na sexta sílaba e segui o mesmo esquema de rimas cruzadas do original. Como os demais, não logrei a transposição regular do esquema rímico francês. Só me ocorreu fazê-lo na última estrofe.
Concedi-me alguma liberdade na construção das sentenças, prezando sempre pela manutenção do sentido e das imagens; alguns termos, somente, foram acrescentados, suprimidos e alterados para fins métricos e sonoros, como é o caso sobretudo de “prince des nuées” tornado “nobre superno”, e “au milieu des huées” tornado “preso ao mundano inferno”. Essa última, eu creio que seja a transposição que mais se afasta do original, mas não acuso nela perda de sentido, tendo em mente a concepção de multidão na obra de Baudelaire como apontamos neste ensaio. Enfim, todas essas releituras foram pensadas tanto para o afastamento de minha tradução das demais quanto para não me tornar um fidus interpres da obra original, dando um pouco de mim ao poema na medida do inofensivo.
Tradução autoral
O ALBATROZ
No tédio, é bem comum que os marinheiros peguem
À força do alto-mar imensos albatrozes
Que, indolentes, a nau acompanhando, seguem
A deslizar por sobre os pélagos atrozes.
E basta que ao convés arremessados sejam
Para que os reis do azul, acanhados e mancos,
Deixem tombar consigo as vastas mãos que adejam
Qual se fossem um par de longos remos brancos.
Pobre alado viajor, como é canhestra e lassa
Sua figura outrora altiva e ora tão feia!
Um, tomando um cachimbo, irrita-o com a fumaça,
Outro, a zombar do enfermo órfão do céu, coxeia!
O Poeta é semelhante a esse nobre superno
Que, acima, ri do arqueiro e afronta os vendavais:
Exilado no chão, preso ao mundano inferno,
Vacila rastejando as asas colossais.
Traduções estudadas
Teófilo Dias (1854-1889)
O ALBATROZ
A Arthur de Oliveira
O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.
Mal se expõe do convés ás gargalhadas francas,
O herói, que aos céus vingava os páramos extremos,
Deixa piedosamente as grandes asas brancas
Colherem-se nos pés, como esquecidos remos.
Como a envergura audaz comicamente agita,
Sem o garbo, o primor, que altívolo ostentava!
Um, metendo-lhe ao bico um ferro em brasa, o irrita;
Outro — inválido — apupa o enfermo que voava!
O poeta é como o rei do etéreo azul profundo,
Que ama os tufões, e fita, em face, o sol radiante:
Da turba exposto ao rir no exílio deste mundo,
Impedem-no de — andar — as asas de gigante!
Felix Pacheco (1879-1935)
O ALBATROZ
Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.
E, mal no tombadilho assim os vão pousando,
como esses reis do azul se aviltam logo, esquerdos,
As asas sem medida e brancas semelhando
Dous remos laterais que se arrestassem lerdos!
Tão belo, não faz muito, e, ora, que cousa ignava!
O nauta audaz dos céus, como parece à toa!
Qual com um cachimbo aceso o bico lhe irritava,
E outro zomba, a coxear, do enfermo que não voa.
A seta e o raio entanto olhara com denodo,
E o Poeta é em tudo igual a esse príncipe do ar:
Exilado na terra, em meio a vaia e o apodo,
As asas de gigante o impedem de marchar!
Guilherme de Almeida (1890-1969)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens de equipagem
Pegam um albatroz, enorme ave marinha,
Que segue, companheiro indolente de viagem,
O navio que sobre os abismos caminha.
Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.
Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo!
Ave tão bela, como está cômica e feia!
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo,
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeia!
O poeta é semelhante ao príncipe da altura
Que busca a tempestade e ri da flecha no ar;
Exilado no chão, em meio à corja impura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Onestaldo de Pennafort (1902-1987)
O ALBATROZ
Às vezes, em recreio, os homens da equipagem
pegam um albatroz, enorme ave marinha
que segue, companheiro indolente de viagem,
o navio que sobre o atro abismo caminha.
Mal no convés se vê, todo desconjuntado,
logo esse rei do azul, em passos desiguais,
como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado,
desajeitadamente, as asas colossais.
Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!
O poeta é o albatroz que nas nuvens se espraia,
que ri dos vendavais e afronta as setas, no ar;
exilado no solo, em meio ao riso e à vaia,
suas asas de gigante impedem-no de andar.
Jamil Almansur Haddad (1914-1988)
O ALBATROZ
Às vezes, por folgar, os homens da equipagem
Pegam de um albatroz, enorme ave do mar,
Que segue — companheiro indolente de viagem —
O navio no abismo amargo a deslizar.
E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado.
O alado viajor tomba como num limbo!
Hoje é cômico e feio, ontem tanto agradava!
Um ao seu bico leva o irritante cachimbo,
Outro imita a coxear o enfermo que voava!
O Poeta é semelhante ao príncipe do céu
Que do arqueiro se ri e da tormenta no ar;
Exilado na terra e em meio do escarcéu,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Ivan Junqueira (1934-2014)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.
Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em que fulge um branco imaculado.
Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça,
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!
O Poeta se compara ao príncipe da altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Pedro Mohallem é graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)
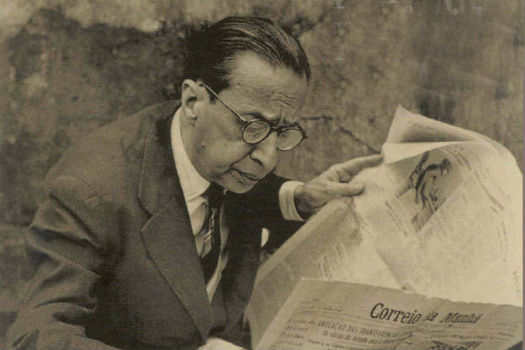
Aos caríssimos navegantes que aportam aqui no Opção Cultural: a “Terça poética” está de volta. Mas agora com algumas novidades.
[caption id="attachment_86648" align="alignleft" width="620"] Manuel Bandeira estreou na poesia em 1917, com a publicação de "A Cinza das Horas" | Imagem: frame do filme "O Poeta do Castelo" (1959), de Nelson Pereira dos Santos[/caption]
Continuaremos a publicar poemas inéditos daqueles que quiserem divulgar a sua produção, ficando aqui o convite para que o façam. É só enviar para este e-mail: [email protected]. Mas além da publicação de inéditos, a “Terça Poética” também contará com textos sobre poesia, isto é, comentários críticos, resenhas de autores clássicos e novos, ensaios sobre as formas poéticas, história da poesia, poesia e filosofia, etc. Portanto, aqueles que também quiserem divulgar seus escritos sobre algum poeta, um livro específico de ou sobre poesia ou mesmo acerca de um único poema, é só enviar para o mesmo e-mail.
Pois bem, para recomeçarmos bem a “Terça poética”, nada melhor que dar destaque àquele é considerado por muitos se não o maior poeta brasileiro ou menos o que mais teve domínio do verso, da cultura e da tradição poéticas como um todo: Manuel Bandeira.
“Esta pouca cinza fria...”: centenário de A Cinza das Horas
O pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), como muitos poetas brasileiros de renome, foi atacado pela tuberculose, na juventude. Como forma de tratamento da enfermidade, Bandeira fixou-se na Europa, em junho de 1913, especificamente na Suíça, em um sanatório na região de Clavadel, perto de Davos-Platz. Por esse motivo, os que estudam o poeta sempre o associam às personagens do romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Bandeira só retornaria ao Brasil em outubro do ano seguinte, tendo visto, antes disso, o irromper da apocalíptica Primeira Guerra Mundial.
Fato é que este período contribuiu, em dada medida, para que Bandeira concentrasse em seu livro de estreia, A Cinza das Horas, publicado em 1917, certo ar soturno, com versos produzidos por um coração “que ardeu... em gritos dementes”, sendo que das “horas ardentes” só restou “esta cinza fria/ – Esta pouca cinza fria...”, como está escrito na Epígrafe do livro.
Apesar de, a posteriori, Bandeira ter registrado em seu Itinerário de Pasárgada que nada tinha mais a dizer dos versos de A Cinza das Horas, senão “que ainda me parecem hoje, como pareciam então, não transcender da minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico”, estes versos merecem ainda ser lidos e relidos.
O primeiro dos poemas, “Desencanto”, já traz a tônica principal da obra:
DESENCANTO
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.
E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
– Eu faço versos como quem morre.
Teresópolis, 1912
Destaco também o soneto “A Antônio Nobre”, dedicado ao poeta romântico português Antônio Pereira Nobre (1867-1900) que, curiosamente, esteve em Clavadel, em 1895 – antes que o lugar recebesse em seus domínios um sanatório, e lá escreveu também um soneto, intitulado “Ao cair das folhas”. O irônico é que Nobre morreu de tuberculose.
Abaixo os dois sonetos. O primeiro, de Bandeira, e o segundo, de Nobre.
A ANTÔNIO NOBRE
Tu que penaste tanto e em cujo canto
Há a ingenuidade santa do menino;
Que amaste os choupos, o dobrar do sino,
E cujo pranto faz correr o pranto:
Com que magoado olhar, magoado espanto
Revejo em teu destino o meu destino!
Essa dor de tossir bebendo o ar fino,
A esmorecer e desejando tanto...
Mas tu dormiste em paz como as crianças.
Sorriu a Glória às tuas esperanças
E beijou-te na boca... O lindo som!
Quem me dará o beijo que cobiço?
Foste conde aos vinte anos... Eu, nem isso...
Eu, não terei a Glória... nem fui bom.
AO CAIR DAS FOLHAS
Pudessem suas mãos cobrir meu rosto,
fechar-me os olhos e compor-me o leito,
quando, sequinho, as mãos em cruz no peito,
eu me for viajar para o Sol-posto.
De modo que me faça bom encosto
o travesseiro comporá com jeito.
E eu tão feliz! – Por não estar afeito,
hei-de sorrir, Senhor, quase com gosto.
Até com gosto, sim! Que faz quem vive
órfão de mimos, viúvo de esperanças,
solteiro de venturas, que não tive?
Assim, irei dormir com as crianças
quase como elas, quase sem pecados…
E acabarão enfim os meus cuidados.
Manuel Bandeira estreou na poesia em 1917, com a publicação de "A Cinza das Horas" | Imagem: frame do filme "O Poeta do Castelo" (1959), de Nelson Pereira dos Santos[/caption]
Continuaremos a publicar poemas inéditos daqueles que quiserem divulgar a sua produção, ficando aqui o convite para que o façam. É só enviar para este e-mail: [email protected]. Mas além da publicação de inéditos, a “Terça Poética” também contará com textos sobre poesia, isto é, comentários críticos, resenhas de autores clássicos e novos, ensaios sobre as formas poéticas, história da poesia, poesia e filosofia, etc. Portanto, aqueles que também quiserem divulgar seus escritos sobre algum poeta, um livro específico de ou sobre poesia ou mesmo acerca de um único poema, é só enviar para o mesmo e-mail.
Pois bem, para recomeçarmos bem a “Terça poética”, nada melhor que dar destaque àquele é considerado por muitos se não o maior poeta brasileiro ou menos o que mais teve domínio do verso, da cultura e da tradição poéticas como um todo: Manuel Bandeira.
“Esta pouca cinza fria...”: centenário de A Cinza das Horas
O pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), como muitos poetas brasileiros de renome, foi atacado pela tuberculose, na juventude. Como forma de tratamento da enfermidade, Bandeira fixou-se na Europa, em junho de 1913, especificamente na Suíça, em um sanatório na região de Clavadel, perto de Davos-Platz. Por esse motivo, os que estudam o poeta sempre o associam às personagens do romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Bandeira só retornaria ao Brasil em outubro do ano seguinte, tendo visto, antes disso, o irromper da apocalíptica Primeira Guerra Mundial.
Fato é que este período contribuiu, em dada medida, para que Bandeira concentrasse em seu livro de estreia, A Cinza das Horas, publicado em 1917, certo ar soturno, com versos produzidos por um coração “que ardeu... em gritos dementes”, sendo que das “horas ardentes” só restou “esta cinza fria/ – Esta pouca cinza fria...”, como está escrito na Epígrafe do livro.
Apesar de, a posteriori, Bandeira ter registrado em seu Itinerário de Pasárgada que nada tinha mais a dizer dos versos de A Cinza das Horas, senão “que ainda me parecem hoje, como pareciam então, não transcender da minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico”, estes versos merecem ainda ser lidos e relidos.
O primeiro dos poemas, “Desencanto”, já traz a tônica principal da obra:
DESENCANTO
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.
E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
– Eu faço versos como quem morre.
Teresópolis, 1912
Destaco também o soneto “A Antônio Nobre”, dedicado ao poeta romântico português Antônio Pereira Nobre (1867-1900) que, curiosamente, esteve em Clavadel, em 1895 – antes que o lugar recebesse em seus domínios um sanatório, e lá escreveu também um soneto, intitulado “Ao cair das folhas”. O irônico é que Nobre morreu de tuberculose.
Abaixo os dois sonetos. O primeiro, de Bandeira, e o segundo, de Nobre.
A ANTÔNIO NOBRE
Tu que penaste tanto e em cujo canto
Há a ingenuidade santa do menino;
Que amaste os choupos, o dobrar do sino,
E cujo pranto faz correr o pranto:
Com que magoado olhar, magoado espanto
Revejo em teu destino o meu destino!
Essa dor de tossir bebendo o ar fino,
A esmorecer e desejando tanto...
Mas tu dormiste em paz como as crianças.
Sorriu a Glória às tuas esperanças
E beijou-te na boca... O lindo som!
Quem me dará o beijo que cobiço?
Foste conde aos vinte anos... Eu, nem isso...
Eu, não terei a Glória... nem fui bom.
AO CAIR DAS FOLHAS
Pudessem suas mãos cobrir meu rosto,
fechar-me os olhos e compor-me o leito,
quando, sequinho, as mãos em cruz no peito,
eu me for viajar para o Sol-posto.
De modo que me faça bom encosto
o travesseiro comporá com jeito.
E eu tão feliz! – Por não estar afeito,
hei-de sorrir, Senhor, quase com gosto.
Até com gosto, sim! Que faz quem vive
órfão de mimos, viúvo de esperanças,
solteiro de venturas, que não tive?
Assim, irei dormir com as crianças
quase como elas, quase sem pecados…
E acabarão enfim os meus cuidados.
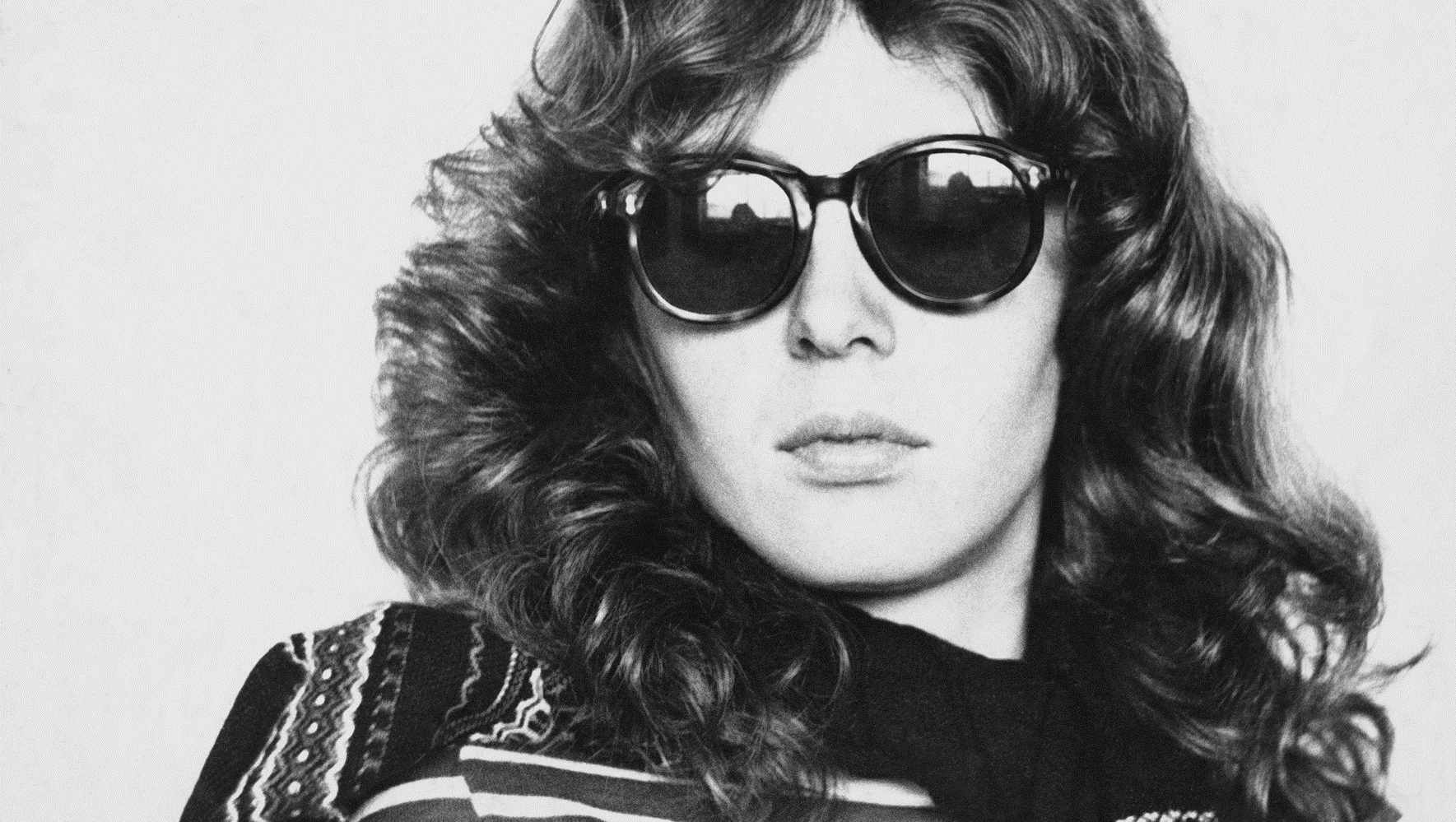
[caption id="attachment_76902" align="alignnone" width="620"] Reprodução[/caption]
As modorrentas tardes de terça-feira voltam a ser bordadas de poesia. O projeto Terça Poética continua após uma pausa. E volta bem, com um poema de 1968, escrito por ninguém menos que Ana Cristina Cesar. Presente em "Poética", título lançado pela Companhia das Letras, que este ano ganhou sua 3ª reimpressão, o escolhido dentre tantos incríveis da escritora carioca, que nasceu em 1952 e faleceu em 1983, deixando uma obra ímpar, é “protuberância”, que integra o livro póstumo de 1985, “Inéditos e Dispersos”. Ei-lo em homenagem a uma grande poeta, que ganhou a Flip deste ano, e que marca as boas novas do projeto. Envie-nos seus escritos. O e-mail é [email protected].
[relacionadas artigos="73362"]
Este sorriso que muitos chamam de boca
É antes um chafariz, uma coisa louca
Sou amativa antes de tudo
Embora o mundo me condene
Devo falar em nariz(as pontas rimam por dentro)
Se nos determos amanhã
Pelo menos não haverá necessidades frugais nos espreitando
Quem me emprestar seu peito ma madrugada
E me consolar, talvez tal vez me ensine um assobio
Não sei se me querem, escondo-me sem impasses
E repitamos a amadora sou
Armadora decerto atrás das portas
Não abro para ninguém, e se a pena é lépida, nada me detém
É sem dúvida inútil o chuvisco de meus olhos
O círculo se abre em circunferências concêntricas que se
Fecham sobre si mesmas
No ano 2001 terei (2001-1952=) 49 anos e serei uma rainha
Rainha de quem, quê, não importa
E se eu morrer antes disso
Não verei a lua mais de perto
Talvez me irrite pisar no impisável
E a morte deve ser muito mais gostosa
Recheada com marchemélou
Uma lâmpada queimada me contempla
Eu dentro do templo chuto o tempo
Um palavra me delineia
VORAZ
E em breve a sombra se dilui,
Se perde o anjo.
Reprodução[/caption]
As modorrentas tardes de terça-feira voltam a ser bordadas de poesia. O projeto Terça Poética continua após uma pausa. E volta bem, com um poema de 1968, escrito por ninguém menos que Ana Cristina Cesar. Presente em "Poética", título lançado pela Companhia das Letras, que este ano ganhou sua 3ª reimpressão, o escolhido dentre tantos incríveis da escritora carioca, que nasceu em 1952 e faleceu em 1983, deixando uma obra ímpar, é “protuberância”, que integra o livro póstumo de 1985, “Inéditos e Dispersos”. Ei-lo em homenagem a uma grande poeta, que ganhou a Flip deste ano, e que marca as boas novas do projeto. Envie-nos seus escritos. O e-mail é [email protected].
[relacionadas artigos="73362"]
Este sorriso que muitos chamam de boca
É antes um chafariz, uma coisa louca
Sou amativa antes de tudo
Embora o mundo me condene
Devo falar em nariz(as pontas rimam por dentro)
Se nos determos amanhã
Pelo menos não haverá necessidades frugais nos espreitando
Quem me emprestar seu peito ma madrugada
E me consolar, talvez tal vez me ensine um assobio
Não sei se me querem, escondo-me sem impasses
E repitamos a amadora sou
Armadora decerto atrás das portas
Não abro para ninguém, e se a pena é lépida, nada me detém
É sem dúvida inútil o chuvisco de meus olhos
O círculo se abre em circunferências concêntricas que se
Fecham sobre si mesmas
No ano 2001 terei (2001-1952=) 49 anos e serei uma rainha
Rainha de quem, quê, não importa
E se eu morrer antes disso
Não verei a lua mais de perto
Talvez me irrite pisar no impisável
E a morte deve ser muito mais gostosa
Recheada com marchemélou
Uma lâmpada queimada me contempla
Eu dentro do templo chuto o tempo
Um palavra me delineia
VORAZ
E em breve a sombra se dilui,
Se perde o anjo.

[relacionadas artigos="70944"] "Não faço poesia", descrevia-se Lucas Gama, em meados de 2013. Continuava com "o poeta é aquele que a encontra, uma vez que habita n'algum lugar, a morada dela". O que faz, desde então, é percebê-las e pô-las, de ações e sentimentos, em palavras. Isto é o que diz em "Uma Gama de Verborragia", blog em que ele, da área de advocacia, descreve ainda todo o seu universo literário, em títulos e corpos de textos. "Fibonacci" é o poema de Gama que traz de volta o projeto Terça Poética às tardes modorrentas, há pouco solitárias, pois não versadas. Quer participar? Envie-nos suas rimas ([email protected]). Ei-lo Gama, em Fibonacci. Lucas Gama Um homem Uma mulher Dois olhares Três noites Cinco transas Oito momentos Treze chocolates Vinte e um pecados Trinta e quatro perdões Cinquenta e cinco gestos Oitenta e nove suspeitas Cento e quarenta e quatro vontades Duzentos e trinta e três calafrios Infinitas certezas Nenhuma promessa Nenhum arrependimento Só o de terem se apaixonado. Na matemática, a Sucessão de Fibonacci (também Sequência de Fibonacci), é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual, cada termo subsequente corresponde a soma dos dois anteriores. A sequência recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido por Fibonacci, que descreveu, no ano de 1202, o crescimento de uma população de coelhos, a partir desta.

Escritor e jornalista, Ramon Nunes Mello borda a noite desta Terça Poética. Com “Sol em aquário, lua em câncer”, o carioca estreou com “Vinis Mofados”, em 2009, e já publicou “Poemas retirados em notícias de jornal”, em 2011, e “Há um mar no fundo de cada sonho”, muito recentemente. E é de seu mar o poema versado, logo mais. Quer participar do projeto “Terça Poética”? Envie-nos suas rimas ([email protected]). Ei-lo, Ramon. [relacionadas artigos="70485"] Ramon Nunes Mello você me ama? (...) ama? (...) eu te amo (...) fim

[caption id="attachment_70487" align="alignnone" width="620"] Reprodução/Tumblr[/caption]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você conhece “Escárnio”, versos de Victor Gonçalves. De Santa Catarina, o jovem de 17 anos dedica-se ao blog “Avesso do Avesso”. Reflexo das canções de Criolo e da poética moderna de Drummond, almeja ser no futuro um letrado. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis “Escárnio”.
[relacionadas artigos ="70061"]
Victor Gonçalves
Preto-velho, bravo como Ogum
Viveu e morreu no engenho
nas senzalas, nas mãos de indumas
respirava ar branco, com nariz negro.
decifrava Berliet ao longe pelo ruído mascado.
ao cantar dos pássaros acorrentados,
tinhas em seus olhos o reflexo dos campos
das seivas, canaviais, machambas.
A dor incessante da pele e da carne urdia sua alma.
o esplendor jazia, não o via.
na pele as marcas de três séculos
que aguça o ímpeto da segregação.
prostrado, acudia na sombra dos escombros,
nas paredes nuas que o fecham.
um oriundo com rigidez nas mãos,
correntes nos pés, máscaras de flandres,
agonizava aos meios de infantarias.
Das batalhas a suor frio, a amargura da existência,
devido sua emanação na África e sua ascensão em Moçambique.
seu idioma dá lugar ao pidgin nas senzalas
Às vozes lodaçal, negro cessava sua lamúria
e em sua avidez, lutavam Mandela e Luther King.
Reprodução/Tumblr[/caption]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você conhece “Escárnio”, versos de Victor Gonçalves. De Santa Catarina, o jovem de 17 anos dedica-se ao blog “Avesso do Avesso”. Reflexo das canções de Criolo e da poética moderna de Drummond, almeja ser no futuro um letrado. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis “Escárnio”.
[relacionadas artigos ="70061"]
Victor Gonçalves
Preto-velho, bravo como Ogum
Viveu e morreu no engenho
nas senzalas, nas mãos de indumas
respirava ar branco, com nariz negro.
decifrava Berliet ao longe pelo ruído mascado.
ao cantar dos pássaros acorrentados,
tinhas em seus olhos o reflexo dos campos
das seivas, canaviais, machambas.
A dor incessante da pele e da carne urdia sua alma.
o esplendor jazia, não o via.
na pele as marcas de três séculos
que aguça o ímpeto da segregação.
prostrado, acudia na sombra dos escombros,
nas paredes nuas que o fecham.
um oriundo com rigidez nas mãos,
correntes nos pés, máscaras de flandres,
agonizava aos meios de infantarias.
Das batalhas a suor frio, a amargura da existência,
devido sua emanação na África e sua ascensão em Moçambique.
seu idioma dá lugar ao pidgin nas senzalas
Às vozes lodaçal, negro cessava sua lamúria
e em sua avidez, lutavam Mandela e Luther King.

[caption id="attachment_69029" align="alignnone" width="620"] Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="68540,34337"]
Na Terça Poética de hoje, caro leitor, você se depara com a Íris de Cynthia Borges. Atriz, ela já se amostrou no Opção Cultural; veio beija-flor no desafio narrativo “100 contos de até 100 caracteres para celebrar o Dia da Literatura Brasileira”, publicação de maio de 2015. Quer participar do projeto “Terça Poética”, que versa suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar-nos seus poemas, através do e-mail [email protected]. Ei-la “Íris”!
Cynthia Borges
não olha assim pra mim
qu’eu não sou real
abandona o hábito
de alma bailarina
qu’eu só quero ver o sol
quando você olhar
você dentro de mim
não invada os cantos escuros
não abra as janelas defronte pro céu
não coma a última sobremesa
não sorri e não deseja
cicatriza-se em palavra
e apenas goze de sermos nós
Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="68540,34337"]
Na Terça Poética de hoje, caro leitor, você se depara com a Íris de Cynthia Borges. Atriz, ela já se amostrou no Opção Cultural; veio beija-flor no desafio narrativo “100 contos de até 100 caracteres para celebrar o Dia da Literatura Brasileira”, publicação de maio de 2015. Quer participar do projeto “Terça Poética”, que versa suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar-nos seus poemas, através do e-mail [email protected]. Ei-la “Íris”!
Cynthia Borges
não olha assim pra mim
qu’eu não sou real
abandona o hábito
de alma bailarina
qu’eu só quero ver o sol
quando você olhar
você dentro de mim
não invada os cantos escuros
não abra as janelas defronte pro céu
não coma a última sobremesa
não sorri e não deseja
cicatriza-se em palavra
e apenas goze de sermos nós

[caption id="attachment_68543" align="alignnone" width="620"] Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="67929"]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você desvenda os segredos de Avram Ascot, que divide sua “Confidência”. Pseudônimo de Abrahão Costa de Freitas, autor do livro “Acontecências” (2015), o paulista Avram é professor, tradutor e escritor, além de membro do grupo Literatura Goyaz. Quer participar do um projeto “Terça Poética”, que versa suas tardes de terça-feira? É só enviar-nos seus poemas por meio do e-mail [email protected]. Eis o poema "Confidência"!
Avram Ascot
Meus gestos guardam na economia
Os secretos códigos da cautela
Os alardes que outrora fiz
Vazaram num mar de sequelas
Que pouco a pouco fez minguar
O ímpeto de meus estardalhaços
Os vestígios de quem fui
Há muito já se foram
Esta contida euforia
É o quanto restou
Dos indícios de um sonho
Que um dia foi possível
E hoje é apenas
A hipótese do invisível
Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="67929"]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você desvenda os segredos de Avram Ascot, que divide sua “Confidência”. Pseudônimo de Abrahão Costa de Freitas, autor do livro “Acontecências” (2015), o paulista Avram é professor, tradutor e escritor, além de membro do grupo Literatura Goyaz. Quer participar do um projeto “Terça Poética”, que versa suas tardes de terça-feira? É só enviar-nos seus poemas por meio do e-mail [email protected]. Eis o poema "Confidência"!
Avram Ascot
Meus gestos guardam na economia
Os secretos códigos da cautela
Os alardes que outrora fiz
Vazaram num mar de sequelas
Que pouco a pouco fez minguar
O ímpeto de meus estardalhaços
Os vestígios de quem fui
Há muito já se foram
Esta contida euforia
É o quanto restou
Dos indícios de um sonho
Que um dia foi possível
E hoje é apenas
A hipótese do invisível

[caption id="attachment_67932" align="alignnone" width="620"] Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="67349,58070"]
Na Terça Poética de hoje, caro leitor, você se depara com "outra variação, outra", de Nina Rizzi. Paulista, a escritora vive atualmente em Fortaleza, no Ceará. O poema integrou o projeto do Opção Cultural, "100 poemas de até 100 caracteres", publicado em fevereiro. Rizzi é autora, dentre outras obras, do livro de poemas "A duração do deserto", publicado pela Editora Patuá. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis o poema!
Nina Rizzi
em te sonhar fiquei tão santa
que agora pra me comer
só de joelhos.
Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="67349,58070"]
Na Terça Poética de hoje, caro leitor, você se depara com "outra variação, outra", de Nina Rizzi. Paulista, a escritora vive atualmente em Fortaleza, no Ceará. O poema integrou o projeto do Opção Cultural, "100 poemas de até 100 caracteres", publicado em fevereiro. Rizzi é autora, dentre outras obras, do livro de poemas "A duração do deserto", publicado pela Editora Patuá. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis o poema!
Nina Rizzi
em te sonhar fiquei tão santa
que agora pra me comer
só de joelhos.

[caption id="attachment_67351" align="alignnone" width="620"] Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="66873"]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você escuta os conselhos da poeta e artista plástica Antonia Paula Ribeiro, que integra a Associação Goiana de Artistas Visuais (AGAV). Originalmente, o poema foi publicado na antologia “Literatura Goyaz”, de 2015, organizada por Adalberto de Queiroz. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis “Conselhos (para quem não quer morrer)”.
Antonia de Paula Ribeiro
Escolhe um vestido
Antigo
Do tempo em que foi feliz
E vê se te cabe agora.
Vê se aquela que foi
(quem sabe) muito charmosa
Não continua bonita
Procure por ela no espelho
Dos olhos
Que ainda brilham
(esqueça as rugas de agora)
Olhe! Reconheça
A alegria menina
Que nunca saiu de lá
Na face que esqueceu
Porque se deixou apagar
Descubra o sorriso solto
A languidez descuidada
Gestos e passos de dança
Que a fizeram tão linda
Em dias e noites atrás
Não morra antes da morte!
Não arraste o seu caixão!
Não tranque sua janela
Não durma de roupa velha
Não economize paixão
Não deixe de desejar
Não procure esconderijos
E tenha todo o tempo do mundo
Pra procurar-se em baús!
Reprodução/Tumblr[/caption]
[relacionadas artigos="66873"]
Nesta Terça Poética, caro leitor, você escuta os conselhos da poeta e artista plástica Antonia Paula Ribeiro, que integra a Associação Goiana de Artistas Visuais (AGAV). Originalmente, o poema foi publicado na antologia “Literatura Goyaz”, de 2015, organizada por Adalberto de Queiroz. Quer participar do “Terça Poética”, um projeto que borda de poesia suas tardes modorrentas de terça-feira? É só enviar seus poemas para o e-mail [email protected]. Eis “Conselhos (para quem não quer morrer)”.
Antonia de Paula Ribeiro
Escolhe um vestido
Antigo
Do tempo em que foi feliz
E vê se te cabe agora.
Vê se aquela que foi
(quem sabe) muito charmosa
Não continua bonita
Procure por ela no espelho
Dos olhos
Que ainda brilham
(esqueça as rugas de agora)
Olhe! Reconheça
A alegria menina
Que nunca saiu de lá
Na face que esqueceu
Porque se deixou apagar
Descubra o sorriso solto
A languidez descuidada
Gestos e passos de dança
Que a fizeram tão linda
Em dias e noites atrás
Não morra antes da morte!
Não arraste o seu caixão!
Não tranque sua janela
Não durma de roupa velha
Não economize paixão
Não deixe de desejar
Não procure esconderijos
E tenha todo o tempo do mundo
Pra procurar-se em baús!


