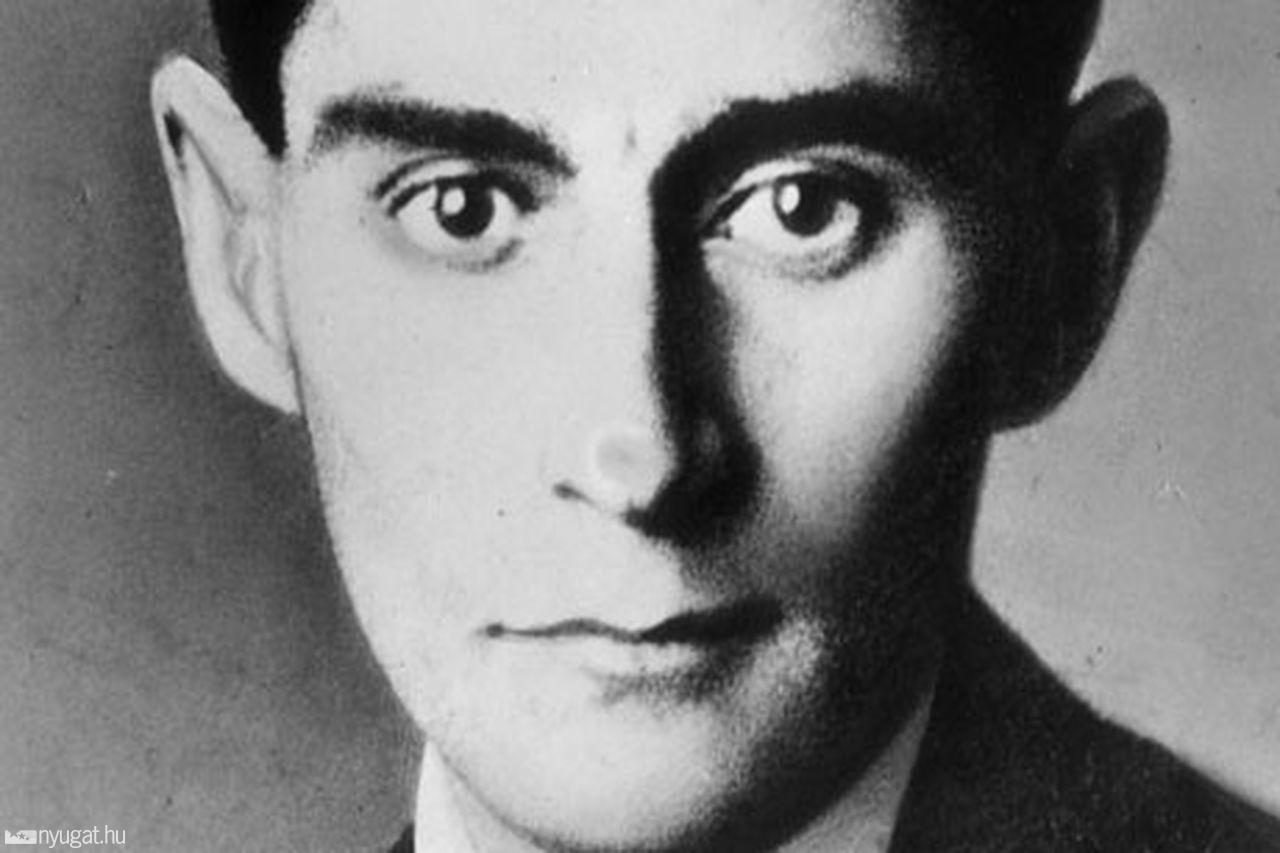Opção cultural

Outro dia vi uma lista sobre as séries mais importantes de todos os tempos e nela constava "Smallville". Ora, se alguém que considera "Smallville" importante, eu precisava me pronunciar, porque poucas vezes uma série foi tão ruim quanto àquela do "somebody saaave me" [tenho certeza que você cantou isso mentalmente].
Pois bem. Decidi levar em consideração apenas dois critérios: relevância e qualidade de roteiro e de filmagem, sendo esta a razão pela qual o leitor não verá séries como "Friends" aqui [ok, os seis amigos tiveram uma grande influência no mundo dos seriados, porém, convenhamos, todo mundo assiste, mas ninguém leva aquilo a sério].
Sem mais explicações para o momento, vamos lá:
Star Trek
 "Star Trek" foi exibida na década de 1960, em plena corrida espacial, e significou muito para o mundo das séries. A importância da obra de Gene Roddenberry é tão grande que serviu de inspiração para George Lucas criar Star Wars, uma das maiores sagas já vistas no cinema. Além disso, os caras "filmaram" teletransporte em 1966! Isso só não é mais incrível do que os efeitos de "Além da imaginação", clássico do final da década de 1950.
Família Soprano
"Star Trek" foi exibida na década de 1960, em plena corrida espacial, e significou muito para o mundo das séries. A importância da obra de Gene Roddenberry é tão grande que serviu de inspiração para George Lucas criar Star Wars, uma das maiores sagas já vistas no cinema. Além disso, os caras "filmaram" teletransporte em 1966! Isso só não é mais incrível do que os efeitos de "Além da imaginação", clássico do final da década de 1950.
Família Soprano
 Quem nasceu na década de 1990 e se acostumou às séries dos anos 2000 provavelmente terá dificuldades em ver este clássico. Porém, ele deve figurar em todas as listas de melhores séries, além de ter a melhor abertura já feita.
Arquivo X
Quem nasceu na década de 1990 e se acostumou às séries dos anos 2000 provavelmente terá dificuldades em ver este clássico. Porém, ele deve figurar em todas as listas de melhores séries, além de ter a melhor abertura já feita.
Arquivo X
 Outro clássico dos anos 1990. Existem inúmeras séries policiais (inúmeras!), mas esta é a única entre as mais bem avaliadas em todos os sites especializados. Não é a toa. Afinal, quem não viu "Arquivo X" não sabe o que é tensão.
House of Cards
Outro clássico dos anos 1990. Existem inúmeras séries policiais (inúmeras!), mas esta é a única entre as mais bem avaliadas em todos os sites especializados. Não é a toa. Afinal, quem não viu "Arquivo X" não sabe o que é tensão.
House of Cards
 Nenhuma série sobre política merece tanto espaço quanto "House of Cards". E não só pela genial atuação Kevin Spacey como Frank Underwood, mas pela belíssima fotografia, pela fantástica trilha sonora e, sobretudo, pela indiscutível qualidade do roteiro. Sim, a série vale todos os adjetivos.
O que pouca gente sabe é que a série, embora seja um produto "original Netflix", não é original, ao pé da letra, mas uma releitura da série da BBC de mesmo nome lançada na década de 1990. A "House of Cards" da BBC foi exibida em três temporadas de quatro episódios cada e mostrava as tramas de Francis Urquhart (Ian Richardson) para alcançar o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no lugar de Margaret Thatcher. Sim, a história é a mesma, só que na Inglaterra.
The Leftovers
Nenhuma série sobre política merece tanto espaço quanto "House of Cards". E não só pela genial atuação Kevin Spacey como Frank Underwood, mas pela belíssima fotografia, pela fantástica trilha sonora e, sobretudo, pela indiscutível qualidade do roteiro. Sim, a série vale todos os adjetivos.
O que pouca gente sabe é que a série, embora seja um produto "original Netflix", não é original, ao pé da letra, mas uma releitura da série da BBC de mesmo nome lançada na década de 1990. A "House of Cards" da BBC foi exibida em três temporadas de quatro episódios cada e mostrava as tramas de Francis Urquhart (Ian Richardson) para alcançar o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no lugar de Margaret Thatcher. Sim, a história é a mesma, só que na Inglaterra.
The Leftovers
 Essa produção da HBO não é uma série policial, embora tenha um policial como protagonista; não é uma série religiosa, embora tenha o arrebatamento como tema principal; não é uma série sobrenatural, embora conte sempre acontecimentos nada naturais. A série caminha para a quarta temporada e quem acompanha entendeu pouco do que já ocorreu, mas continua ali, curioso. Esse é o mérito da série. "The Leftovers" é provavelmente a série mais humana que você irá assistir. Tão humana que embrulha o estômago. É por isso que ela está aqui.
Sherlock
Essa produção da HBO não é uma série policial, embora tenha um policial como protagonista; não é uma série religiosa, embora tenha o arrebatamento como tema principal; não é uma série sobrenatural, embora conte sempre acontecimentos nada naturais. A série caminha para a quarta temporada e quem acompanha entendeu pouco do que já ocorreu, mas continua ali, curioso. Esse é o mérito da série. "The Leftovers" é provavelmente a série mais humana que você irá assistir. Tão humana que embrulha o estômago. É por isso que ela está aqui.
Sherlock
 Esta produção da BBC segue a genialidade e a sociopatia de seu próprio personagem principal, fantasticamente vivido por Benedict Cumberbatch. Na verdade, ninguém poderia encarnar a versão mais antipática de Sherlock Holmes e ainda conseguir cativar seu público. Não bastasse, ainda vemos Martin Freeman encarnando a, provavelmente, melhor versão de Watson já filmada; ele e Cumberbatc são uma boa dupla.
A série, que está na quarta temporada e segue o padrão da BBC de poucos episódios (três temporadas de três e uma de quatro), embora longos (média de 60 minutos), é um primor e vale as horas dispensadas.
Game of Thrones
Esta produção da BBC segue a genialidade e a sociopatia de seu próprio personagem principal, fantasticamente vivido por Benedict Cumberbatch. Na verdade, ninguém poderia encarnar a versão mais antipática de Sherlock Holmes e ainda conseguir cativar seu público. Não bastasse, ainda vemos Martin Freeman encarnando a, provavelmente, melhor versão de Watson já filmada; ele e Cumberbatc são uma boa dupla.
A série, que está na quarta temporada e segue o padrão da BBC de poucos episódios (três temporadas de três e uma de quatro), embora longos (média de 60 minutos), é um primor e vale as horas dispensadas.
Game of Thrones
 Não, Game of Thrones (GoT) não é superestimada. A série é excelente: bem filmada, bom roteiro, linda fotografia, trilha sonora impecável e repleta de bons atores. Com GoT, a HBO elevou (e muito) o nível de produção de seriados — basta ver o que andam fazendo com "Westworld", que é muito boa, mas ainda não chegou lá. A verdade é que o mundo contemporâneo das séries é um antes de GoT e outro completamente diferente depois dele.
Breaking Bad
Não, Game of Thrones (GoT) não é superestimada. A série é excelente: bem filmada, bom roteiro, linda fotografia, trilha sonora impecável e repleta de bons atores. Com GoT, a HBO elevou (e muito) o nível de produção de seriados — basta ver o que andam fazendo com "Westworld", que é muito boa, mas ainda não chegou lá. A verdade é que o mundo contemporâneo das séries é um antes de GoT e outro completamente diferente depois dele.
Breaking Bad
 Confesso que não assisti, mas li tanto a respeito na época do último episódio, que vale a pena colocar aqui. Afinal, são raras as séries de grande abrangência cujo final agrada à maioria absoluta dos fãs.
* As duas últimas séries da lista são revelações, pois nem só de "velharia" viverão os “binge-watchers”. Bem, estas duas são séries de apenas uma temporada e, se você ainda não viu, veja.
The People vs. O.J. Simpson
Confesso que não assisti, mas li tanto a respeito na época do último episódio, que vale a pena colocar aqui. Afinal, são raras as séries de grande abrangência cujo final agrada à maioria absoluta dos fãs.
* As duas últimas séries da lista são revelações, pois nem só de "velharia" viverão os “binge-watchers”. Bem, estas duas são séries de apenas uma temporada e, se você ainda não viu, veja.
The People vs. O.J. Simpson
 Genial. Essa é a palavra para definir "The People vs. O.J. Simpson". O caso do jogador de futebol americano acusado de assassinar a ex-esposa marca a primeira temporada de American Crime Story, produzida pela FX. A história é fantástica, mas a forma como Ryan Murphy, Anthony Hemingway e John Singleton a filmaram é de tirar o fôlego. Não à toa, a série ganhou tudo no Emmy 2016.
Sem contar que o elenco é sensacional: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown e David Schwimmer (sim, ele consegue fazer outro papel que não seja o eterno Ross, de "Friends". Aliás, ele está muito bem na série, vivendo Robert, o pai da então desconhecida família Kardashian).
11.22.63
Genial. Essa é a palavra para definir "The People vs. O.J. Simpson". O caso do jogador de futebol americano acusado de assassinar a ex-esposa marca a primeira temporada de American Crime Story, produzida pela FX. A história é fantástica, mas a forma como Ryan Murphy, Anthony Hemingway e John Singleton a filmaram é de tirar o fôlego. Não à toa, a série ganhou tudo no Emmy 2016.
Sem contar que o elenco é sensacional: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown e David Schwimmer (sim, ele consegue fazer outro papel que não seja o eterno Ross, de "Friends". Aliás, ele está muito bem na série, vivendo Robert, o pai da então desconhecida família Kardashian).
11.22.63
 O leitor com certeza conhece o streaming Netflix. E o Hulu? Não? É quase a mesma coisa. A única diferença é que o Hulu nasceu da junção de duas grandes cadeias televisivas dos EUA, a Fox e a NBC Universal, na tentativa de lucrar com o advento dos streamings. Bem, a nota de abertura foi só para dizer que é este streaming que produz "11.22.63", série do diretor J.J. Abrams (conhecido por "Lost". Nada a ver, amigos. Nada a ver). A série de uma só temporada trata do assassinato de J.F. Kennedy, ocorrido na data que dá título à série, e ainda reúne viagem no tempo e uma trama bem feita e magistralmente filmada. Merece lugar aqui.
Bônus:
Os Simpsons
O leitor com certeza conhece o streaming Netflix. E o Hulu? Não? É quase a mesma coisa. A única diferença é que o Hulu nasceu da junção de duas grandes cadeias televisivas dos EUA, a Fox e a NBC Universal, na tentativa de lucrar com o advento dos streamings. Bem, a nota de abertura foi só para dizer que é este streaming que produz "11.22.63", série do diretor J.J. Abrams (conhecido por "Lost". Nada a ver, amigos. Nada a ver). A série de uma só temporada trata do assassinato de J.F. Kennedy, ocorrido na data que dá título à série, e ainda reúne viagem no tempo e uma trama bem feita e magistralmente filmada. Merece lugar aqui.
Bônus:
Os Simpsons
 Diga a verdade: nada supera "Os Simpsons".
Diga a verdade: nada supera "Os Simpsons".

Filme de Barry Jenkins é uma pedrada na vidraça da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que foi acusada de racismo na última edição do Oscar
[caption id="attachment_87769" align="aligncenter" width="620"] "Moonlight" consegue, nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigar a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser"[/caption]
"Quem é você, Chiron?". A pergunta que aparece no trecho final de "Moonlight: Sob a Luz do Luar" se arrasta pelas entrelinhas de todo o novo filme de Barry Jenkins, desde o começo. Mas as cenas iniciais não são sobre o protagonista Chiron.
Juan, vivido por Mahershala Ali, é um traficante de bairro que evita conflitos e não se orgulha do que faz. Na rotina de um dia qualquer é interrompido pela correria de crianças — o menor, fugindo do bullying, tenta evitar ataque dos maiores que o perseguem. Assim somos apresentados a Chiron: acuado, arisco, desconfiado. Apelido, "Little".
O filme acompanha três fases da vida do franzino "Little". A infância, período em que se afiniza à figura masculina de Juan e luta contra a violência viciada de sua mãe, que finge que educa e tem ciúmes de quem quer que se aproxime durante sua constante ausência; a adolescência, em que firma sua independência em relação à vida caótica da genitora, mas ainda não se posiciona firmemente perante a vida social na escola e na vizinhança; e a fase adulta, na qual ganha mais autonomia, toma posse de sua masculinidade e se escora no corpo forte e avantajado para se impor como traficante, mas que ainda não tem muita certeza sobre nada.
O filme aborda de forma genérica questões raciais, sexuais, sobre drogas e também abandono familiar. Mas não se esgota só nisso.
[relacionadas artigos="86358, 87306"]
Depois de muitos protestos Hollywood afora — inclusive na noite do 88° Oscar, no ano passado, em que Chris Rock vestiu a roupa de camaleão e subiu no muro para tentar desempenhar a diplomática missão de, ao mesmo tempo que receber e valorizar as críticas à falta de reconhecimento a artistas negros no mercado cinematográfico, promover uma reconciliação destes com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — "Moonlight" é uma verdadeira pedrada na vidraça.
Indicado a oito categorias da maior premiação do cinema americano, mas injustificadamente não tão ouriçado quanto "La La Land", de Damien Chazelle, o filme conta com um elenco principal só de artistas negros. Além de Trevante Rhodes, estão no casting a cantora Janelle Monaé, Naomie Harris ("Mandela: O caminho para a liberdade"), Mahershala Ali ("Um Estado de Liberdade"), André Holland ("Selma") e Edson Jean ("Cães de Guerra"). Barry Jenkins conduz a locomotiva (dirigindo e roteirizando) demonstrando, de uma vez por todas, que a Academia não pode — e nem se quisesse, conseguiria — deixar passar batido o poder da cultura negra.
Aliás, aqui cabe uma observação importantíssima sobre o papel do filme em toda essa discussão sobre o reconhecimento do trabalho de artistas negros. Se você pegar os principais filmes americanos protagonizados por negros nos últimos anos, ou com um envolvimento mais direto desses artistas, dá para chegar facilmente à constatação de que a temática acaba se esgotando na luta pela igualdade, na denúncia ao preconceito e na retrospectiva histórica das conquistas negras (esse ano mesmo, temos em destaque "Estrelas além do tempo", "Loving", "Eu não sou seu negro" e "Um limite entre nós"). Não que devamos dar pouca importância a isso — de maneira alguma! É indispensável que a humanidade nunca se esqueça das atrocidades já cometidas em nome da supremacia branca, e que continue avançando na eliminação das desigualdades. Principalmente no já surrado território americano.
Mas há que se convir que a produção cinematográfica (e cultural, de maneira geral) não pode ficar restrita a essa temática — aliás, à temática alguma! A igualdade se alcança, também, na liberdade de explorar temáticas universais que estão lá, sempre existiram, mas que ainda perdem em urgência para temas mais profundos como a luta pela igualdade racial.
Assim é que Barry Jenkins consegue deixar um pouco de lado as mazelas advindas do preconceito racial e de gênero (ainda que não os abandone completamente — nem poderia, já que Chiron é um negro americano da década de 80, em plena descoberta de sua sexualidade) para permitir-se tratar de um tema universal: o "conhece-te a ti mesmo". O interessante é que, de forma inteligente, nas entrelinhas, ainda assim Barry nos joga essa verdade crua da busca pela igualdade: O Templo de Delfos também aconselha negros e homossexuais. Como não? Filmes "de negros" também podem falar sobre temáticas intimistas e universais de forma belíssima, sem desprezar todas as lutas coletivas.
Nesse contexto um pouco mais intimista, a beleza de "Moonlight" se revela em cada detalhe. Na trilha sonora meticulosamente inserida — delicada, melancólica, introspectiva. Na fotografia de cores frias, por vezes revelando a dureza do mundo contra o qual Chiron luta, e no qual quer se inserir. Nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigando a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser".
No fundo, Chiron só quer se descobrir e ser aceito. Percebemos isso quando ele estranha o calor com o qual é recebido, inicialmente, por Juan e sua esposa Tereza. Se surpreende com a compreensão que depois vira beijo, oferecidos pelo melhor amigo. E, por fim, busca sofregamente por um colo, alguém que lhe compreenda sem julgamentos e lhe ofereça perspectivas, carinho, ligação. A rejeição está nos meandros da rotina comum.
"Sob a luz do luar, garotos negros ficam azuis", diz um dos diálogos. Azul de uma melancolia profunda e individual. Azul de ainda inexplorado, misterioso, quase lacônico. E azul de uma sensualidade latente. Assim se descobre Chiron. Assim se revela ao mundo, ansiando que alguém o descubra — e o acolha. Azul é a cor mais profunda.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG
"Moonlight" consegue, nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigar a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser"[/caption]
"Quem é você, Chiron?". A pergunta que aparece no trecho final de "Moonlight: Sob a Luz do Luar" se arrasta pelas entrelinhas de todo o novo filme de Barry Jenkins, desde o começo. Mas as cenas iniciais não são sobre o protagonista Chiron.
Juan, vivido por Mahershala Ali, é um traficante de bairro que evita conflitos e não se orgulha do que faz. Na rotina de um dia qualquer é interrompido pela correria de crianças — o menor, fugindo do bullying, tenta evitar ataque dos maiores que o perseguem. Assim somos apresentados a Chiron: acuado, arisco, desconfiado. Apelido, "Little".
O filme acompanha três fases da vida do franzino "Little". A infância, período em que se afiniza à figura masculina de Juan e luta contra a violência viciada de sua mãe, que finge que educa e tem ciúmes de quem quer que se aproxime durante sua constante ausência; a adolescência, em que firma sua independência em relação à vida caótica da genitora, mas ainda não se posiciona firmemente perante a vida social na escola e na vizinhança; e a fase adulta, na qual ganha mais autonomia, toma posse de sua masculinidade e se escora no corpo forte e avantajado para se impor como traficante, mas que ainda não tem muita certeza sobre nada.
O filme aborda de forma genérica questões raciais, sexuais, sobre drogas e também abandono familiar. Mas não se esgota só nisso.
[relacionadas artigos="86358, 87306"]
Depois de muitos protestos Hollywood afora — inclusive na noite do 88° Oscar, no ano passado, em que Chris Rock vestiu a roupa de camaleão e subiu no muro para tentar desempenhar a diplomática missão de, ao mesmo tempo que receber e valorizar as críticas à falta de reconhecimento a artistas negros no mercado cinematográfico, promover uma reconciliação destes com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — "Moonlight" é uma verdadeira pedrada na vidraça.
Indicado a oito categorias da maior premiação do cinema americano, mas injustificadamente não tão ouriçado quanto "La La Land", de Damien Chazelle, o filme conta com um elenco principal só de artistas negros. Além de Trevante Rhodes, estão no casting a cantora Janelle Monaé, Naomie Harris ("Mandela: O caminho para a liberdade"), Mahershala Ali ("Um Estado de Liberdade"), André Holland ("Selma") e Edson Jean ("Cães de Guerra"). Barry Jenkins conduz a locomotiva (dirigindo e roteirizando) demonstrando, de uma vez por todas, que a Academia não pode — e nem se quisesse, conseguiria — deixar passar batido o poder da cultura negra.
Aliás, aqui cabe uma observação importantíssima sobre o papel do filme em toda essa discussão sobre o reconhecimento do trabalho de artistas negros. Se você pegar os principais filmes americanos protagonizados por negros nos últimos anos, ou com um envolvimento mais direto desses artistas, dá para chegar facilmente à constatação de que a temática acaba se esgotando na luta pela igualdade, na denúncia ao preconceito e na retrospectiva histórica das conquistas negras (esse ano mesmo, temos em destaque "Estrelas além do tempo", "Loving", "Eu não sou seu negro" e "Um limite entre nós"). Não que devamos dar pouca importância a isso — de maneira alguma! É indispensável que a humanidade nunca se esqueça das atrocidades já cometidas em nome da supremacia branca, e que continue avançando na eliminação das desigualdades. Principalmente no já surrado território americano.
Mas há que se convir que a produção cinematográfica (e cultural, de maneira geral) não pode ficar restrita a essa temática — aliás, à temática alguma! A igualdade se alcança, também, na liberdade de explorar temáticas universais que estão lá, sempre existiram, mas que ainda perdem em urgência para temas mais profundos como a luta pela igualdade racial.
Assim é que Barry Jenkins consegue deixar um pouco de lado as mazelas advindas do preconceito racial e de gênero (ainda que não os abandone completamente — nem poderia, já que Chiron é um negro americano da década de 80, em plena descoberta de sua sexualidade) para permitir-se tratar de um tema universal: o "conhece-te a ti mesmo". O interessante é que, de forma inteligente, nas entrelinhas, ainda assim Barry nos joga essa verdade crua da busca pela igualdade: O Templo de Delfos também aconselha negros e homossexuais. Como não? Filmes "de negros" também podem falar sobre temáticas intimistas e universais de forma belíssima, sem desprezar todas as lutas coletivas.
Nesse contexto um pouco mais intimista, a beleza de "Moonlight" se revela em cada detalhe. Na trilha sonora meticulosamente inserida — delicada, melancólica, introspectiva. Na fotografia de cores frias, por vezes revelando a dureza do mundo contra o qual Chiron luta, e no qual quer se inserir. Nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigando a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser".
No fundo, Chiron só quer se descobrir e ser aceito. Percebemos isso quando ele estranha o calor com o qual é recebido, inicialmente, por Juan e sua esposa Tereza. Se surpreende com a compreensão que depois vira beijo, oferecidos pelo melhor amigo. E, por fim, busca sofregamente por um colo, alguém que lhe compreenda sem julgamentos e lhe ofereça perspectivas, carinho, ligação. A rejeição está nos meandros da rotina comum.
"Sob a luz do luar, garotos negros ficam azuis", diz um dos diálogos. Azul de uma melancolia profunda e individual. Azul de ainda inexplorado, misterioso, quase lacônico. E azul de uma sensualidade latente. Assim se descobre Chiron. Assim se revela ao mundo, ansiando que alguém o descubra — e o acolha. Azul é a cor mais profunda.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG
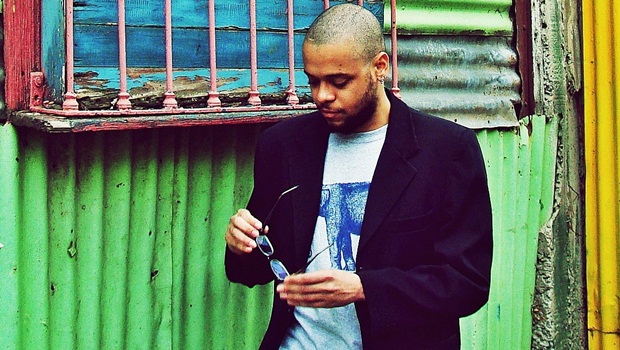
“Febre de enxofre” propõe um jogo de espelhos, no qual obra e criador se fundem
 Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
O mito do homem que sela um pacto com o diabo ganha uma releitura vertiginosa em “Febre de enxofre”, de Bruno Ribeiro. Tomando o clássico “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe, como tábua de comparação, a estreia no romance do escritor mineiro radicado na Paraíba revisita algumas das composições que dão norte ao texto trágico do autor alemão: a procura desbragada por um sentido na vida, os excessos, a rivalidade entre o mundano e o etéreo, o desejo que se torna a contundência do amor. A única diferença está na recompensa. Não se trata de aprisionar a alma, mas o corpo, a matéria viva, esse invólucro de pele, carne, ossos e excreções.
A história tem início com uma despedida. Yuri Quirino, um poeta celebrado por seu primeiro livro, observa a namorada Luciana embarcar num avião com destino ao Rio de Janeiro, onde passará uma longa temporada. Ainda no aeroporto, abalado pelo frescor da separação, o personagem é abordado por um indivíduo estranho — “cabelos longos e negros, olhos e lábios finos, porcelana em forma de gente” — que se apresenta como Manuel di Paula, um fã, e afirma ter uma proposta de trabalho: escrever sua biografia. Para tanto, Quirino deveria se mudar para Buenos Aires, cidade natal do biografado, cuja mansão serviria de hospedagem. O trato também envolveria acerto financeiro.
“Não tenho tempo. Tem sim. Acho que não. O seu tempo é eterno, Yuri. Não te apresses. Não te apegues. O tempo caminha na sua direção”, altercam.
Apesar da insistência do desconhecido, o poeta decide voltar para Campina Grande, onde afoga suas mágoas na esbórnia, varando a madrugada entre a fauna local constituída por prostitutas, travestis, adictos e artistas. Num momento, está num cabaré; num outro, num lançamento de livro. Neste último, reencontra Malena, uma ex-amante, que agora namora um playboy dublê de poeta. Quirino transa com ela, transa com prostitutas, transa poesia e com travestis. Passa os dias bebendo com amigos, queimando o dinheiro que tem, enquanto não cola o rosto na tela do computador, chorando a saudade de Luciana em conversas via Skype.
Durante essa aventura hedonista, a figura misteriosa de di Paula é sempre uma sombra. Parece estar em todos os lugares, singrando o espaço-tempo, a fim de que o poeta o biografe. Chega, inclusive, a assediar Luciana, no Rio de Janeiro. Quirino continua o rechaçando o quanto pode, escorado na solidez complacente do pai. No entanto, quando a extravagância se revela uma jornada (quase fatal) de autodestruição, ele aceita o serviço e toma o avião rumo à Argentina.
A contextura dessa primeira parte se dá por meio de uma narrativa ágil, por vezes frenética, que muito lembra a carpintaria de autores como Luís Antônio Giron e, especialmente, Reinaldo Moraes. Blocos textuais que se conformam a partir de um vernáculo de transgressões e obscenidades, cujos significados transcendem o enredo. Neste caso, um exame sardônico da poesia contemporânea brasileira (“com a pós-modernidade, tudo é poesia) e da mercadização de autores de redes sociais que, na verdade, não passam de “paredes em branco”. Ribeiro desconstrói a forma, encavalando prosa linear e diálogos, abrindo apêndices, num ritmo que repercute a psiquê de seu protagonista. Achando um termo adequado na fala do próprio personagem, algo como “Beethoven dopado de LSD”.
Daí tem início a segunda metade, e o romance parece girar uma chave de contenção. Assim como acontece na parte dois de “Fausto”, a trama vai se enchendo de um clima mais velado, reduzindo o compasso e indicando outras intenções. O passado de di Paula (e, por conseguinte, o da sua família) vai sendo descoberto, tal uma história dentro da história (ou um fantasma dentro de um fantasma), na qual o autor propõe uma analogia entre não pertencimento e vampirismo. As referências também mudam: vão de Edgar Allan Poe (“A queda da casa de Usher”) a Julio Cortázar (“Casa tomada”). Ribeiro constrói uma viagem ao inferno, que é uma viagem pelo sentido identitário, pela literatura que avança contra a própria literatura para consumi-la e fazer, do seu livro, uma experiência anônima.
Com isso, o que se tem, afinal, é um jogo de espelhos confrontados cujos aços refletem o próprio autor. A quebra da barreira entre obra e criador, mostrando que a escrita nem sempre é uma maneira de expurgar demônios, mas também a chance de se fazer um pacto com o diabo.
Sérgio Tavares é jornalista e escritor, autor de “Cavala”, vencedor do Prêmio Sesc
Leia trechos do romance de Bruno Ribeiro:
TRECHO 1
Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
O mito do homem que sela um pacto com o diabo ganha uma releitura vertiginosa em “Febre de enxofre”, de Bruno Ribeiro. Tomando o clássico “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe, como tábua de comparação, a estreia no romance do escritor mineiro radicado na Paraíba revisita algumas das composições que dão norte ao texto trágico do autor alemão: a procura desbragada por um sentido na vida, os excessos, a rivalidade entre o mundano e o etéreo, o desejo que se torna a contundência do amor. A única diferença está na recompensa. Não se trata de aprisionar a alma, mas o corpo, a matéria viva, esse invólucro de pele, carne, ossos e excreções.
A história tem início com uma despedida. Yuri Quirino, um poeta celebrado por seu primeiro livro, observa a namorada Luciana embarcar num avião com destino ao Rio de Janeiro, onde passará uma longa temporada. Ainda no aeroporto, abalado pelo frescor da separação, o personagem é abordado por um indivíduo estranho — “cabelos longos e negros, olhos e lábios finos, porcelana em forma de gente” — que se apresenta como Manuel di Paula, um fã, e afirma ter uma proposta de trabalho: escrever sua biografia. Para tanto, Quirino deveria se mudar para Buenos Aires, cidade natal do biografado, cuja mansão serviria de hospedagem. O trato também envolveria acerto financeiro.
“Não tenho tempo. Tem sim. Acho que não. O seu tempo é eterno, Yuri. Não te apresses. Não te apegues. O tempo caminha na sua direção”, altercam.
Apesar da insistência do desconhecido, o poeta decide voltar para Campina Grande, onde afoga suas mágoas na esbórnia, varando a madrugada entre a fauna local constituída por prostitutas, travestis, adictos e artistas. Num momento, está num cabaré; num outro, num lançamento de livro. Neste último, reencontra Malena, uma ex-amante, que agora namora um playboy dublê de poeta. Quirino transa com ela, transa com prostitutas, transa poesia e com travestis. Passa os dias bebendo com amigos, queimando o dinheiro que tem, enquanto não cola o rosto na tela do computador, chorando a saudade de Luciana em conversas via Skype.
Durante essa aventura hedonista, a figura misteriosa de di Paula é sempre uma sombra. Parece estar em todos os lugares, singrando o espaço-tempo, a fim de que o poeta o biografe. Chega, inclusive, a assediar Luciana, no Rio de Janeiro. Quirino continua o rechaçando o quanto pode, escorado na solidez complacente do pai. No entanto, quando a extravagância se revela uma jornada (quase fatal) de autodestruição, ele aceita o serviço e toma o avião rumo à Argentina.
A contextura dessa primeira parte se dá por meio de uma narrativa ágil, por vezes frenética, que muito lembra a carpintaria de autores como Luís Antônio Giron e, especialmente, Reinaldo Moraes. Blocos textuais que se conformam a partir de um vernáculo de transgressões e obscenidades, cujos significados transcendem o enredo. Neste caso, um exame sardônico da poesia contemporânea brasileira (“com a pós-modernidade, tudo é poesia) e da mercadização de autores de redes sociais que, na verdade, não passam de “paredes em branco”. Ribeiro desconstrói a forma, encavalando prosa linear e diálogos, abrindo apêndices, num ritmo que repercute a psiquê de seu protagonista. Achando um termo adequado na fala do próprio personagem, algo como “Beethoven dopado de LSD”.
Daí tem início a segunda metade, e o romance parece girar uma chave de contenção. Assim como acontece na parte dois de “Fausto”, a trama vai se enchendo de um clima mais velado, reduzindo o compasso e indicando outras intenções. O passado de di Paula (e, por conseguinte, o da sua família) vai sendo descoberto, tal uma história dentro da história (ou um fantasma dentro de um fantasma), na qual o autor propõe uma analogia entre não pertencimento e vampirismo. As referências também mudam: vão de Edgar Allan Poe (“A queda da casa de Usher”) a Julio Cortázar (“Casa tomada”). Ribeiro constrói uma viagem ao inferno, que é uma viagem pelo sentido identitário, pela literatura que avança contra a própria literatura para consumi-la e fazer, do seu livro, uma experiência anônima.
Com isso, o que se tem, afinal, é um jogo de espelhos confrontados cujos aços refletem o próprio autor. A quebra da barreira entre obra e criador, mostrando que a escrita nem sempre é uma maneira de expurgar demônios, mas também a chance de se fazer um pacto com o diabo.
Sérgio Tavares é jornalista e escritor, autor de “Cavala”, vencedor do Prêmio Sesc
Leia trechos do romance de Bruno Ribeiro:
TRECHO 1
 ¿O que há em minha boca sem dente? ¿Só abismo? Um labirinto de espelhos e dentro de cada reflexo uma luz contendo as Américas, milhões de olhos derretendo, as mulheres da nossa, minha vida, pedaços de cigarros, engrenagens rodando e violentando colossos, três milhões e quatrocentos e quatorze padres loucos invocando Lúcifer para destruírem o totalitarismo do filho Jesus Cristo, desertos equiláteros deslizando pelas gengivas pútridas, longos cabelos negros tornando-se uma só química capilar, nervos de aço, um tumor no cu, cancro mole, pai comendo vinte e duas garçonetes da cidade natal que não lembro mais o nome, a menina que disse que me esperava, ela nos espera, um redemoinho de poetas, um dinossauro em decomposição, sombras me perseguindo, a pobreza em forma concreta: é um mar sem água, e finalmente vi, vimos, minha, nossa morte; no rosto dele, em meu rosto, poeta, coagulam tripa e picos na veia, eu sou aquilo que todos conhecem e temem, admiram e odeiam, dentro das galáxias reproduzem meu nome, na minha boca eu gargarejo escritores e cuspo gênios, eu sou os pingos da chuva que deslizam pelo corpo humano, a projeção do passado, a metafísica do cão, a máquina sem capital, a luz branca do inferno, o deslizar de todas as fezes do mundo: você. ¿O que você fez? Perguntei. Ele tirou a campânula do meu peito, uma fumaça subiu, ele disse: você está pronto. ¿Pronto? Sim, você está pronto para escrever a biografia de Manuel di Paula, poeta. Sentia uma vertigem sem fim, tombava dentro da minha própria constituição humana: perdido. Amanhã começamos. Beatriz o levará até seu quarto. Fui para o meu quarto em ziguezague. Beatriz sorriu, escreveu em um papel buenas nochese saiu. Dormi. Dia seguinte, respirei e fui conhecer essa cidade que não era uma cidade, era uma hecatombe de mim mesmo. De nós. Não havia mais retorno.
TRECHO 2
¿Sabe o que ela disse para mim antes de partir para o Rio de Janeiro? Estávamos no aeroporto, sozinhos, de mãos dadas. Minutos depois eu conheceria este puto do Manuel di Paula, mas neste momento, lhe juro, eu sabia que suas palavras eram verdadeiras, sabia. Yuri, ela disse e sua voz era firme, ¿você parou pra pensar em sua fraqueza? Eu parei para pensar na minha. Não importa, mas sou instável, oscilante, sei que você odeia isso, ¿mas sabe por que você odeia? Porque você tem medo do futuro. Você calcula cada passo, pois tem medo de cair, você teme as feridas e para isso criou uma carranca de certezas; você clama por aí que é cheio de cortes e que são elas que fazem você ser o escritor celebridade underground que é; falácia. O escritor em você nasceu do medo. Você teme tanto que escreve, difere sombras no papel, reproduz um grito seco que nunca poderia ter saído de ti, mas transborda da caneta; ¿sabe por que te amo? Porque você é um homem cheio de medos e são eles que fazem de você tão cheio de paixão e vontade; pois um homem com medo é um homem que não perde tempo, é alguém que precisa planejar tudo antes que seja tarde, é intenso por vida; você vive como se sempre fosse tarde, estou atrasado é seu dizer favorito, mesmo que não esteja; a pulsação no seu peito passa para o meu e aqui estamos; minha oscilação e dúvida nada mais são do que uma defesa contra sua loucura. Sem meus cuidados, nós estaríamos mortos, Yuri. Minha tensão, pilha, voz grave, nervosismo, ansiedade, não chegam perto do que passa no seu corpo, no interior de ti; a curvatura do seu demônio-bicho toma o aeroporto, toma João Pessoa, toma é tudo, é tão forte que um dia vai ganhar vida, vai comer gente ao redor, universo, galáxia, mastigar o próprio Deus e Diabo; eu conheço esse bicho, Yuri, nunca o vi, mas conheço. Eu não tenho medo dele, posso senti-lo com sua boca de eco, posso escutá-lo e não tema, pois estamos juntos, é sua loucura que me incentiva a ser forte e é minha ansiedade que o incentiva a ser um protetor e é seu medo que me incentiva a ser dura e é minha paralisação que o torna ativo; eu vejo você, Yuri. Eu poderia ter voltado de diversas maneiras para a Paraíba, amorosa, romanticazinha, mimada, mas não temos tempo para isso, algo maior do que nós está pairando no ar: o seu bicho, Yuri, é dele que tô falando. E é dele que você precisa cuidar. Agora saiba: eu quero você e estarei do seu lado; você pode ver meu bicho também, ¿não pode? Por isso que nunca seremos capazes de nos esquecermos... E você imaginou que eu voltaria como relâmpago, daqueles kamikazes que se imortalizam no céu na forma de cicatriz. Não. Eu retornei tormenta, daquelas que puxam tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua.
TRECHO 3
¿E é amor? Aquela arma apontada no peito. ¿E é dor? Interrompo a traveco e em meio a gritos enlouquecidos, eu digo: nunca rime amor com dor, caralho. Já disse, ¿não disse? Disse menino, oxe, fique calmo. É difícil ter inspiração, a gente não somo artista não. ¿Calmo? ¿Vocês pensam com o intestino? ¿E a novinha? ¿Não veio hoje? As duas travecos ficam caladas. Nós três estávamos em uma das casinhas barrocas que ficam na frente da rodoviária velha. Locais que são tomados de conta por velhinhas rugosas que cobram dez reais a hora em um quarto. Cafetinas antigas, daquelas que pariam menino como se cagassem. O quarto fedia a estragado; cama de casal no chão e uma mesa de centro. Papéis e jornais enfeitavam o espaço; nós sentávamos na cama e escrevíamos com as canetas que eu trazia de casa. Elas arregalaram os olhos e começaram a me escutar. Poesia, queridas, fiquei de pé, é se perder em território linguístico. Já diria o infeliz Octavio Paz, “somos filhos do romantismo alemão”, filhos dessa ideia da inspiração, da luz no poeta, o abençoado das palavras, ora não, não existe essa abominação. Antes os verdadeiros pioneiros do século XIX, o simbolismo, a decadência, somos nós; Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire, antes este último nome, o primeiro dos malditos e modernos. Aqui para vocês, uma cópia de Flores do Mal... Leiam e, na próxima classe, digam o que acharam. Digam da maneira de vocês, mas digam. Já diria Baudelaire, “ser sempre poeta, incluso na prosa”, atrevo a dizer, agora citando Yuri Quirino - eu próprio, caso não saibam - ser sempre poeta incluso na vida. E vocês, assim como eu, são poetas na vida. A ruptura é um retorno às origens e o dia-a-dia de vocês é pura ruptura. Vocês têm o que, mas não tem o como. Mas ter o que é mais importante do que o como. O que há de estudantes de literatura preenchidos pelo como não há como contabilizar, são bilhões, trilhões, e nenhum deles tem o que, o que, o que, ¿o que vou contar? Nada. Baudelaire vivia atrás do que, bebendo putas e comendo vinhos. Rimbaud abandonou tudo, ainda ninfeto, para virar traficante na África. ¿E Artaud? ¿Que viveu sua própria obra transgressiva, respirando utopia e vomitando manifestos dilacerados e falidos? Eles tinham vida, amores, cheios de que, atravessados pelo como, resultando a mistura em dinamite lapidada. ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Matar amores, gente, cotidiano, trabalho, algo deve tombar. Dissecar a linguagem e jogá-la em cima do cadáver, só assim a poesia pura renascerá. Repitam comigo: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? As duas ficam sem jeito. Começo a pular e grito: repitam. Elas repetem: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Você, eu aponto para a travesti de peruca loira, escreva uma poesia agora, sem pensar em métrica ou rima, assassine o soneto: escreva algo envolvendo morte, isso mesmo, quero algo com efeito poético e que carregue finitude. Ela pisca os olhos freneticamente, empolgada, pega a caneta, pensa por alguns segundos e começa a escrever.
TRECHO 4
A depressão vinha. Luciana não foi exclusividade, com Malena também teve distância no relacionamento. Desde pequeno, em Minas Gerais, após mudanças e mais mudanças de cidades, eu lutei contra a dor do adeus. Sinto-me feito aqueles soldados traumatizados do Vietnã, ao invés de crises sobre cadáveres, tenho crises de amor. Não há como produzir dessa maneira, sabendo que a mulher que você tanto quer está em outro lugar. Nunca consegui concretizar um relacionamento normal, sempre teve barreiras em forma de bueiros, longos e negros, tão afastados das minhas mãos que nem conseguiria medir quilometragem. Fecho o notebook e não respondo o recado de Luciana. Preso em Campina Grande, sem trabalho, sem escrever, sem nada. Meu pai é um bom homem, vem até minha casa e diz que pagará o aluguel, mas que não rola de ser assim para sempre. Sei que você é poeta, filho, ele diz, sei que você ganhou prêmios, mas porra, vai trabalhar, cacete. E eu abaixo a cabeça. Observo a varanda, três andares, no máximo conseguiria ficar aleijado. Tentar se matar e fracassar é uma das coisas mais patéticas do universo, a outra são as coisas que dizemos quando estamos amando. Ou seja, eu estava próximo de ser o maior patético do universo. Crise de gente branca é deplorável. Decido dar uma volta pelo meu bairro, Catolé, e vejo o quanto cresceu. Agora tem prédios onde havia barro, tudo desenvolve, cresce dentro do ecossistema das moradias humanas, prolifera feito barata e não existe remédio que as extermine. Agora é obra diariamente, gritos de pedreiro, assovios, movimento, tudo indo para frente. Agora é imobiliária, martelo, trator, pastilhas, argamassa, base, mão, capacete, madeira, capital, investimento, e só sei que tudo mudou. As coisas evoluem, os corpos não. Movimento é vida.
TRECHO 5
O idoso disse que quando o pai foi encontrado morto, a cidade passou por um momento de horror. A filha do prefeito estava grávida e, quando foi parir, teve uma criança sem cabeça e braço. O bebê nasceu vivo, chorava, ria, vivia: ninguém sabia como, mas era possível escutar seu choro reverberando por toda a cidade; os médicos tentaram encontrar os membros dentro da vagina da mulher, mas não havia nada, literalmente nada; o bebê sem cabeça e braço chorava sem parar, assombrando a todos da cidade. Até que o marido da mulher matou o filho e foi preso. Cinco dias depois, o marido foi encontrado em sua cela transformado em um bode vermelho: os policiais o mataram e jogaram a carcaça do animal no rio; dois dias depois, o rio estava vermelho; as plantações deixaram de crescer; os alimentos apodreceram; chovia pregos diariamente; a maioria da população se mudou para a capital, e os que ficaram tiveram que passar por uma temporada terrível e escassa de comida, pois tudo apodrecia. Os moradores das cabanas enlouqueceram e muitos se mataram e outros imploravam ajuda a Deus. Todos os bebês nascidos neste período vinham com alguma deficiência, a maioria nascia com demência ou com alguma parte do corpo faltando. Bebês decapitados e insanos foram se infestando pela cidade de Tigre; maridos bodes, mulheres perdendo os dentes e se tornando ninfomaníacas, bandidos se transformando em ratos, chuvas ácidas toda quinta-feira e eventuais terremotos e trovões de sangue; a maldição cessou quando a mansão caiu no Delta do Rio Paraná; o idoso não sabe a data em que isso aconteceu, perguntei o ano ao menos, mas ele virou as costas e pediu para eu esquecer essas coisas: a família di Paula viveu em todos os séculos, dias, anos, não tem um dia para isso, só há esquecimento e é o que se deve fazer, ele disse em castelhano e fechou a porta envelhecida da sua casa. Manuel di Paula carrega séculos de trevas em suas costas, uma maldição familiar, uma herança que o aterroriza até hoje. E também aterroriza a todos nós que aqui resistimos e escrevemos o que restou do todo.
¿O que há em minha boca sem dente? ¿Só abismo? Um labirinto de espelhos e dentro de cada reflexo uma luz contendo as Américas, milhões de olhos derretendo, as mulheres da nossa, minha vida, pedaços de cigarros, engrenagens rodando e violentando colossos, três milhões e quatrocentos e quatorze padres loucos invocando Lúcifer para destruírem o totalitarismo do filho Jesus Cristo, desertos equiláteros deslizando pelas gengivas pútridas, longos cabelos negros tornando-se uma só química capilar, nervos de aço, um tumor no cu, cancro mole, pai comendo vinte e duas garçonetes da cidade natal que não lembro mais o nome, a menina que disse que me esperava, ela nos espera, um redemoinho de poetas, um dinossauro em decomposição, sombras me perseguindo, a pobreza em forma concreta: é um mar sem água, e finalmente vi, vimos, minha, nossa morte; no rosto dele, em meu rosto, poeta, coagulam tripa e picos na veia, eu sou aquilo que todos conhecem e temem, admiram e odeiam, dentro das galáxias reproduzem meu nome, na minha boca eu gargarejo escritores e cuspo gênios, eu sou os pingos da chuva que deslizam pelo corpo humano, a projeção do passado, a metafísica do cão, a máquina sem capital, a luz branca do inferno, o deslizar de todas as fezes do mundo: você. ¿O que você fez? Perguntei. Ele tirou a campânula do meu peito, uma fumaça subiu, ele disse: você está pronto. ¿Pronto? Sim, você está pronto para escrever a biografia de Manuel di Paula, poeta. Sentia uma vertigem sem fim, tombava dentro da minha própria constituição humana: perdido. Amanhã começamos. Beatriz o levará até seu quarto. Fui para o meu quarto em ziguezague. Beatriz sorriu, escreveu em um papel buenas nochese saiu. Dormi. Dia seguinte, respirei e fui conhecer essa cidade que não era uma cidade, era uma hecatombe de mim mesmo. De nós. Não havia mais retorno.
TRECHO 2
¿Sabe o que ela disse para mim antes de partir para o Rio de Janeiro? Estávamos no aeroporto, sozinhos, de mãos dadas. Minutos depois eu conheceria este puto do Manuel di Paula, mas neste momento, lhe juro, eu sabia que suas palavras eram verdadeiras, sabia. Yuri, ela disse e sua voz era firme, ¿você parou pra pensar em sua fraqueza? Eu parei para pensar na minha. Não importa, mas sou instável, oscilante, sei que você odeia isso, ¿mas sabe por que você odeia? Porque você tem medo do futuro. Você calcula cada passo, pois tem medo de cair, você teme as feridas e para isso criou uma carranca de certezas; você clama por aí que é cheio de cortes e que são elas que fazem você ser o escritor celebridade underground que é; falácia. O escritor em você nasceu do medo. Você teme tanto que escreve, difere sombras no papel, reproduz um grito seco que nunca poderia ter saído de ti, mas transborda da caneta; ¿sabe por que te amo? Porque você é um homem cheio de medos e são eles que fazem de você tão cheio de paixão e vontade; pois um homem com medo é um homem que não perde tempo, é alguém que precisa planejar tudo antes que seja tarde, é intenso por vida; você vive como se sempre fosse tarde, estou atrasado é seu dizer favorito, mesmo que não esteja; a pulsação no seu peito passa para o meu e aqui estamos; minha oscilação e dúvida nada mais são do que uma defesa contra sua loucura. Sem meus cuidados, nós estaríamos mortos, Yuri. Minha tensão, pilha, voz grave, nervosismo, ansiedade, não chegam perto do que passa no seu corpo, no interior de ti; a curvatura do seu demônio-bicho toma o aeroporto, toma João Pessoa, toma é tudo, é tão forte que um dia vai ganhar vida, vai comer gente ao redor, universo, galáxia, mastigar o próprio Deus e Diabo; eu conheço esse bicho, Yuri, nunca o vi, mas conheço. Eu não tenho medo dele, posso senti-lo com sua boca de eco, posso escutá-lo e não tema, pois estamos juntos, é sua loucura que me incentiva a ser forte e é minha ansiedade que o incentiva a ser um protetor e é seu medo que me incentiva a ser dura e é minha paralisação que o torna ativo; eu vejo você, Yuri. Eu poderia ter voltado de diversas maneiras para a Paraíba, amorosa, romanticazinha, mimada, mas não temos tempo para isso, algo maior do que nós está pairando no ar: o seu bicho, Yuri, é dele que tô falando. E é dele que você precisa cuidar. Agora saiba: eu quero você e estarei do seu lado; você pode ver meu bicho também, ¿não pode? Por isso que nunca seremos capazes de nos esquecermos... E você imaginou que eu voltaria como relâmpago, daqueles kamikazes que se imortalizam no céu na forma de cicatriz. Não. Eu retornei tormenta, daquelas que puxam tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua.
TRECHO 3
¿E é amor? Aquela arma apontada no peito. ¿E é dor? Interrompo a traveco e em meio a gritos enlouquecidos, eu digo: nunca rime amor com dor, caralho. Já disse, ¿não disse? Disse menino, oxe, fique calmo. É difícil ter inspiração, a gente não somo artista não. ¿Calmo? ¿Vocês pensam com o intestino? ¿E a novinha? ¿Não veio hoje? As duas travecos ficam caladas. Nós três estávamos em uma das casinhas barrocas que ficam na frente da rodoviária velha. Locais que são tomados de conta por velhinhas rugosas que cobram dez reais a hora em um quarto. Cafetinas antigas, daquelas que pariam menino como se cagassem. O quarto fedia a estragado; cama de casal no chão e uma mesa de centro. Papéis e jornais enfeitavam o espaço; nós sentávamos na cama e escrevíamos com as canetas que eu trazia de casa. Elas arregalaram os olhos e começaram a me escutar. Poesia, queridas, fiquei de pé, é se perder em território linguístico. Já diria o infeliz Octavio Paz, “somos filhos do romantismo alemão”, filhos dessa ideia da inspiração, da luz no poeta, o abençoado das palavras, ora não, não existe essa abominação. Antes os verdadeiros pioneiros do século XIX, o simbolismo, a decadência, somos nós; Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire, antes este último nome, o primeiro dos malditos e modernos. Aqui para vocês, uma cópia de Flores do Mal... Leiam e, na próxima classe, digam o que acharam. Digam da maneira de vocês, mas digam. Já diria Baudelaire, “ser sempre poeta, incluso na prosa”, atrevo a dizer, agora citando Yuri Quirino - eu próprio, caso não saibam - ser sempre poeta incluso na vida. E vocês, assim como eu, são poetas na vida. A ruptura é um retorno às origens e o dia-a-dia de vocês é pura ruptura. Vocês têm o que, mas não tem o como. Mas ter o que é mais importante do que o como. O que há de estudantes de literatura preenchidos pelo como não há como contabilizar, são bilhões, trilhões, e nenhum deles tem o que, o que, o que, ¿o que vou contar? Nada. Baudelaire vivia atrás do que, bebendo putas e comendo vinhos. Rimbaud abandonou tudo, ainda ninfeto, para virar traficante na África. ¿E Artaud? ¿Que viveu sua própria obra transgressiva, respirando utopia e vomitando manifestos dilacerados e falidos? Eles tinham vida, amores, cheios de que, atravessados pelo como, resultando a mistura em dinamite lapidada. ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Matar amores, gente, cotidiano, trabalho, algo deve tombar. Dissecar a linguagem e jogá-la em cima do cadáver, só assim a poesia pura renascerá. Repitam comigo: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? As duas ficam sem jeito. Começo a pular e grito: repitam. Elas repetem: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Você, eu aponto para a travesti de peruca loira, escreva uma poesia agora, sem pensar em métrica ou rima, assassine o soneto: escreva algo envolvendo morte, isso mesmo, quero algo com efeito poético e que carregue finitude. Ela pisca os olhos freneticamente, empolgada, pega a caneta, pensa por alguns segundos e começa a escrever.
TRECHO 4
A depressão vinha. Luciana não foi exclusividade, com Malena também teve distância no relacionamento. Desde pequeno, em Minas Gerais, após mudanças e mais mudanças de cidades, eu lutei contra a dor do adeus. Sinto-me feito aqueles soldados traumatizados do Vietnã, ao invés de crises sobre cadáveres, tenho crises de amor. Não há como produzir dessa maneira, sabendo que a mulher que você tanto quer está em outro lugar. Nunca consegui concretizar um relacionamento normal, sempre teve barreiras em forma de bueiros, longos e negros, tão afastados das minhas mãos que nem conseguiria medir quilometragem. Fecho o notebook e não respondo o recado de Luciana. Preso em Campina Grande, sem trabalho, sem escrever, sem nada. Meu pai é um bom homem, vem até minha casa e diz que pagará o aluguel, mas que não rola de ser assim para sempre. Sei que você é poeta, filho, ele diz, sei que você ganhou prêmios, mas porra, vai trabalhar, cacete. E eu abaixo a cabeça. Observo a varanda, três andares, no máximo conseguiria ficar aleijado. Tentar se matar e fracassar é uma das coisas mais patéticas do universo, a outra são as coisas que dizemos quando estamos amando. Ou seja, eu estava próximo de ser o maior patético do universo. Crise de gente branca é deplorável. Decido dar uma volta pelo meu bairro, Catolé, e vejo o quanto cresceu. Agora tem prédios onde havia barro, tudo desenvolve, cresce dentro do ecossistema das moradias humanas, prolifera feito barata e não existe remédio que as extermine. Agora é obra diariamente, gritos de pedreiro, assovios, movimento, tudo indo para frente. Agora é imobiliária, martelo, trator, pastilhas, argamassa, base, mão, capacete, madeira, capital, investimento, e só sei que tudo mudou. As coisas evoluem, os corpos não. Movimento é vida.
TRECHO 5
O idoso disse que quando o pai foi encontrado morto, a cidade passou por um momento de horror. A filha do prefeito estava grávida e, quando foi parir, teve uma criança sem cabeça e braço. O bebê nasceu vivo, chorava, ria, vivia: ninguém sabia como, mas era possível escutar seu choro reverberando por toda a cidade; os médicos tentaram encontrar os membros dentro da vagina da mulher, mas não havia nada, literalmente nada; o bebê sem cabeça e braço chorava sem parar, assombrando a todos da cidade. Até que o marido da mulher matou o filho e foi preso. Cinco dias depois, o marido foi encontrado em sua cela transformado em um bode vermelho: os policiais o mataram e jogaram a carcaça do animal no rio; dois dias depois, o rio estava vermelho; as plantações deixaram de crescer; os alimentos apodreceram; chovia pregos diariamente; a maioria da população se mudou para a capital, e os que ficaram tiveram que passar por uma temporada terrível e escassa de comida, pois tudo apodrecia. Os moradores das cabanas enlouqueceram e muitos se mataram e outros imploravam ajuda a Deus. Todos os bebês nascidos neste período vinham com alguma deficiência, a maioria nascia com demência ou com alguma parte do corpo faltando. Bebês decapitados e insanos foram se infestando pela cidade de Tigre; maridos bodes, mulheres perdendo os dentes e se tornando ninfomaníacas, bandidos se transformando em ratos, chuvas ácidas toda quinta-feira e eventuais terremotos e trovões de sangue; a maldição cessou quando a mansão caiu no Delta do Rio Paraná; o idoso não sabe a data em que isso aconteceu, perguntei o ano ao menos, mas ele virou as costas e pediu para eu esquecer essas coisas: a família di Paula viveu em todos os séculos, dias, anos, não tem um dia para isso, só há esquecimento e é o que se deve fazer, ele disse em castelhano e fechou a porta envelhecida da sua casa. Manuel di Paula carrega séculos de trevas em suas costas, uma maldição familiar, uma herança que o aterroriza até hoje. E também aterroriza a todos nós que aqui resistimos e escrevemos o que restou do todo.

Festival, que teve recorde de filmes brasileiros participantes, terminou sem nenhum prêmio para o Brasil, que novamente usou festivais internacionais para protestos
[caption id="attachment_87613" align="aligncenter" width="620"] "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, venceu o Urso de Ouro de melhor filme[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
O estranho filme húngaro "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, no qual um homem e uma mulher têm o mesmo sonho, embora não se conheçam e só trabalhem no mesmo lugar, ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Os sonhos ocorrem numa floresta. Maria, controladora da qualidade da carne bovina e da presença de gordura num matadouro moderno, sonha ser um alce fêmea; Endre, o patrão do matadouro sonha ser o alce macho.
[relacionadas artigos="87126, 87441, 87225"]
Essa coincidência de relações entre eles e o casal de alces intriga uma psicóloga, que descobre que ambos sonham a mesma coisa — uma atração entre os animais, que se aproximam, mas não copulam. Informados pela psicóloga, ambos passam a se perguntar sobre os sonhos da noite anterior, se aproximam e chegam a dormir no mesmo quarto, a pretexto de conferir os sonhos.
Maria tem tudo de uma mulher fria, solitária, que, mesmo na cantina, procura ficar só para comer. Tem tudo de uma frígida, que vê pornografia por curiosidade e não para se excitar. Endre procura entrar nesse mundo frio e reservado.
Esse mesmo tema de mulher frígida ou com problemas de relacionamento sexual surgiu no filme romeno "Ana Meu Amor", revelando ser provavelmente uma consequência do isolamento das pessoas na sociedade moderna.
O Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri foi para o filme do cineasta franco-senegalês Alain Gomis, "Félicité", nome de uma mulher congolesa em Kinshasa, que canta num bar e cujo filho motoqueiro sofre um acidente e perde uma perna. Entre cantos e músicas, perda de emprego, falta de dinheiro para tratar do filho, Félicité, cujo nome quer dizer felicidade, se mantém forte, decidida, lutadora, social e exuberante, nada tendo a ver com a Maria apagada e fria do filme Urso de Ouro.
O terceiro prêmio pela ordem de importância, é o Urso de Prata Prêmio Alfred Bauer para filmes que trazem alguma inovação. No caso, o filme da polonesa "Agnieszka Holland", cujo título "A Pista" consiste numa trama entre policial e naturalista, envolvendo uma engenheira aposentada, Duszejko, vivendo numa região montanhosa perto da fronteira com a República Checa.
Vidrada em astrologia, ela garante poder dizer a data de sua morte, com base na data do seu nascimento e signo astral. Bem na moda, ela é vegetariana e não suporta temporadas de caçadores, carnívoros em geral e muito menos quem mata cachorro para medir a pontaria. Por isso, fotos de caçadores com seus troféus podem se transformar num guia para assassinatos em série, cometidos discretamente e de maneira orgânica e biológica.
O Urso de Prata de melhor direção foi para o filme o "Outro lado da Esperança", dirigido pelo finlandês Aki Kaurismaki, no qual o papel principal é de um sírio clandestino acolhido por um dono de restaurante, enquanto a Finlândia se alinha entre os países sem solidariedade.
O Urso de Prata de melhor interpretação feminina foi para a coreana Kim Min-hee, no filme "Sozinha de Noite na Praia", de Hong Sangsoo.
O Urso de Prata de melhor interpretação masculina foi para Georg Friedrich, no papel de um pai numa viagem pelas montanhas desertas norueguesas, junto com o filho que o detesta por ter se separado da mãe. Filme "Noites Claras", de Thomas Arslan.
O Urso de Prata do melhor roteiro foi para Sebastian Lelio e Gonzalo Maza, pelo filme transgênero "Uma Mulher Fantástica", de Sebastian Lelio, com a transsexual Daniela Vega.
O Urso de Ouro para o melhor curta-metragem foi para o cineasta português Diogo Costa Amarante com o filme "Cidade Pequena". O filme "Pendular", de Julia Murat, ganhou o prêmio da crítica internacional FIPRESCI. Como previmos, os filmes brasileiros não ganharam nenhum prêmio, nem os oficiais dos júris independentes.
Depois das manifestações político-partidárias em Cannes, Locarno e agora em Berlim, fica nossa sugestão para os cineastas e atores brasileiros suspenderem essas iniciativas que vão se tornando ridículas e, se continuarem, acabarão virando piada. Deixem o manifesto, as faixas e os slogans para quando o filme ganhar algum prêmio, não antes. Não utilizem pretextos políticos para chamar atenção sobre seus filmes.
Rui Martins esteve em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
"Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, venceu o Urso de Ouro de melhor filme[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
O estranho filme húngaro "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, no qual um homem e uma mulher têm o mesmo sonho, embora não se conheçam e só trabalhem no mesmo lugar, ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Os sonhos ocorrem numa floresta. Maria, controladora da qualidade da carne bovina e da presença de gordura num matadouro moderno, sonha ser um alce fêmea; Endre, o patrão do matadouro sonha ser o alce macho.
[relacionadas artigos="87126, 87441, 87225"]
Essa coincidência de relações entre eles e o casal de alces intriga uma psicóloga, que descobre que ambos sonham a mesma coisa — uma atração entre os animais, que se aproximam, mas não copulam. Informados pela psicóloga, ambos passam a se perguntar sobre os sonhos da noite anterior, se aproximam e chegam a dormir no mesmo quarto, a pretexto de conferir os sonhos.
Maria tem tudo de uma mulher fria, solitária, que, mesmo na cantina, procura ficar só para comer. Tem tudo de uma frígida, que vê pornografia por curiosidade e não para se excitar. Endre procura entrar nesse mundo frio e reservado.
Esse mesmo tema de mulher frígida ou com problemas de relacionamento sexual surgiu no filme romeno "Ana Meu Amor", revelando ser provavelmente uma consequência do isolamento das pessoas na sociedade moderna.
O Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri foi para o filme do cineasta franco-senegalês Alain Gomis, "Félicité", nome de uma mulher congolesa em Kinshasa, que canta num bar e cujo filho motoqueiro sofre um acidente e perde uma perna. Entre cantos e músicas, perda de emprego, falta de dinheiro para tratar do filho, Félicité, cujo nome quer dizer felicidade, se mantém forte, decidida, lutadora, social e exuberante, nada tendo a ver com a Maria apagada e fria do filme Urso de Ouro.
O terceiro prêmio pela ordem de importância, é o Urso de Prata Prêmio Alfred Bauer para filmes que trazem alguma inovação. No caso, o filme da polonesa "Agnieszka Holland", cujo título "A Pista" consiste numa trama entre policial e naturalista, envolvendo uma engenheira aposentada, Duszejko, vivendo numa região montanhosa perto da fronteira com a República Checa.
Vidrada em astrologia, ela garante poder dizer a data de sua morte, com base na data do seu nascimento e signo astral. Bem na moda, ela é vegetariana e não suporta temporadas de caçadores, carnívoros em geral e muito menos quem mata cachorro para medir a pontaria. Por isso, fotos de caçadores com seus troféus podem se transformar num guia para assassinatos em série, cometidos discretamente e de maneira orgânica e biológica.
O Urso de Prata de melhor direção foi para o filme o "Outro lado da Esperança", dirigido pelo finlandês Aki Kaurismaki, no qual o papel principal é de um sírio clandestino acolhido por um dono de restaurante, enquanto a Finlândia se alinha entre os países sem solidariedade.
O Urso de Prata de melhor interpretação feminina foi para a coreana Kim Min-hee, no filme "Sozinha de Noite na Praia", de Hong Sangsoo.
O Urso de Prata de melhor interpretação masculina foi para Georg Friedrich, no papel de um pai numa viagem pelas montanhas desertas norueguesas, junto com o filho que o detesta por ter se separado da mãe. Filme "Noites Claras", de Thomas Arslan.
O Urso de Prata do melhor roteiro foi para Sebastian Lelio e Gonzalo Maza, pelo filme transgênero "Uma Mulher Fantástica", de Sebastian Lelio, com a transsexual Daniela Vega.
O Urso de Ouro para o melhor curta-metragem foi para o cineasta português Diogo Costa Amarante com o filme "Cidade Pequena". O filme "Pendular", de Julia Murat, ganhou o prêmio da crítica internacional FIPRESCI. Como previmos, os filmes brasileiros não ganharam nenhum prêmio, nem os oficiais dos júris independentes.
Depois das manifestações político-partidárias em Cannes, Locarno e agora em Berlim, fica nossa sugestão para os cineastas e atores brasileiros suspenderem essas iniciativas que vão se tornando ridículas e, se continuarem, acabarão virando piada. Deixem o manifesto, as faixas e os slogans para quando o filme ganhar algum prêmio, não antes. Não utilizem pretextos políticos para chamar atenção sobre seus filmes.
Rui Martins esteve em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
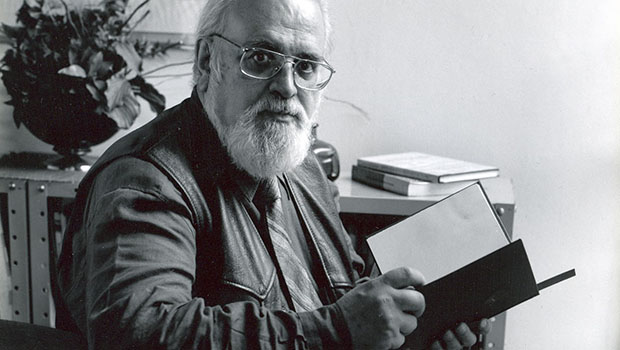
Buscando reagir à “perda de qualidade” na poesia brasileira, observável na passagem da geração de 1930 para a geração de 1945, o Concretismo revelou-se um movimento catastrófico
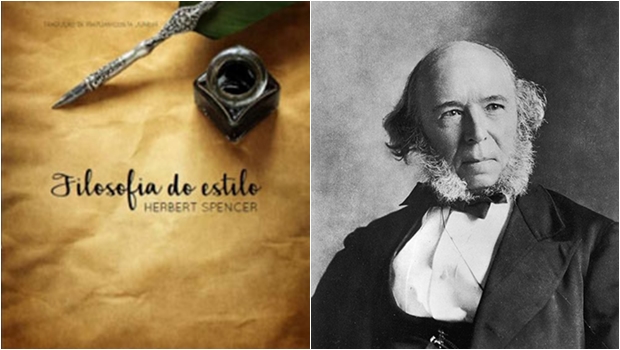
Com tradução de Irapuan Costa Junior, publicada pela Cânone Editorial em 2016, o público brasileiro tem agora acesso a uma das reflexões mais importantes sobre a linguagem, elaborada pelo filósofo Herbert Spencer

Em 19 de janeiro de 2017, comemora-se cem anos do nascimento de Carson McCullers , a escritora estadunidense que retratou a solidão humana com tragicidade, compaixão e senso de humor

Com extrema violência, filme fez críticos dizerem que não levariam seus filhos
[caption id="attachment_87443" align="aligncenter" width="620"] Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.
"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.
[relacionadas artigos="87301, 86888"]
O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.
Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.
O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.
Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.
Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.
O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.
Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.
"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.
[relacionadas artigos="87301, 86888"]
O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.
Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.
O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.
Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.
Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.
O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.
Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Filme de Marcelo Gomes não encontrou o desejado ouro no Festival de Berlim, mas deu uma contribuição importante ao resgatar a figura do negro na história brasileira
[caption id="attachment_85634" align="aligncenter" width="620"] "Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.
[relacionadas artigos="87301, 87225"]
Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.
Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.
Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.
Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:
[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
"Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.
[relacionadas artigos="87301, 87225"]
Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.
Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.
Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.
Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:
[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino, seja do furor diabólico
[caption id="attachment_87361" align="alignleft" width="620"] Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]
Philippe Sartin
Especial para o Jornal Opção
Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)
1.
A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.
[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"]
Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]
Philippe Sartin
Especial para o Jornal Opção
Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)
1.
A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.
[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"] "Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]
Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.
Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.
Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.
Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.
2.
O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.
[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"]
"Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]
Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.
Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.
Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.
Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.
2.
O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.
[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"] "O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]
A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.
Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.
[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"]
"O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]
A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.
Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.
[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"] A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]
O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.
Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.
3.
Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.
[relacionadas artigos=" 99959 "]
Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.
Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.
Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)
A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]
O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.
Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.
3.
Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.
[relacionadas artigos=" 99959 "]
Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.
Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.
Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)

Teorias e levantamentos do Ph.D. nos estudos do sistema e da complexidade John Casti resultaram em um livro ao mesmo tempo esclarecedor e aterrorizante, quase paranoico
[caption id="attachment_87315" align="aligncenter" width="620"] A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.
Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.
Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.
Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.
Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?
Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.
Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.
Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.
Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:
“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.
Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.
Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.
Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?
Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”
E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.
Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.
É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.
Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.
[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"]
A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.
Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.
Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.
Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.
Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?
Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.
Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.
Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.
Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:
“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.
Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.
Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.
Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?
Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”
E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.
Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.
É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.
Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.
[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"] Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]
O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade
“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.
O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.
Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.
Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:
1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.
2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.
3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.
4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.
5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.
6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.
7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.
Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos
[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"]
Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]
O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade
“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.
O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.
Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.
Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:
1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.
2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.
3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.
4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.
5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.
6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.
7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.
Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos
[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"] O matemático John Casti faz um apanhado acerca dos níveis de complexidade que podem gerar crises na sociedade atual[/caption]
John Casti seleciona e desenvolve 11 casos para explicar sua teoria do desnível de complexidade que pode gerar o fim da humanidade a curto e longo prazos. São eles: um apagão na internet; a falência do sistema global de abastecimento de alimentos; um ataque por pulso eletromagnético que destrói todos os aparelhos eletrônicos; o fracasso da globalização; a destruição provocada pela criação de partículas exóticas; a desestabilização do panorama nuclear; o esgotamento das reservas de petróleo; uma pandemia global; pane no sistema elétrico e no suprimento de água potável; robôs inteligentes que dominam a humanidade; e uma crise no sistema financeiro global.
O escritor explica que procurou evitar os tipos mais “corriqueiros” de eventos extremos, como os deliberadamente “naturais”, caso de vulcões, colisões de asteroides ou até mesmo o aquecimento global. E esses possíveis acontecimentos são tratados sob três aspectos: duração, timing e possibilidade. A duração se refere exatamente ao período levado por um evento para atingir o mundo. Alguns tipos de acontecimento levam tempo para provocar caos. Uma praga, por exemplo, não infecta todo o mundo de uma hora para outra, mesmo na atualidade em que tudo corre a uma velocidade a jato.
Por outro lado, o timing remete à quando o desastre pode ocorrer, trata da existência ou não de condições prévias que relegam o evento a algum momento impreciso em um futuro distante — podendo ou não acontecer — ou se ele pode se manifestar a qualquer momento. As respostas? Bem, elas podem variar de “imediatamente” a “nunca”. Por exemplo, uma extinção por nanorobôs auto multiplicáveis. A tecnologia não chegou lá. Mas não existe ainda, o que deverá acontecer em uma década, no máximo. Agora, uma invasão alienígena hostil pode acontecer a qualquer momento, assim como pode nunca ocorrer. Não existe a mínima evidência que conduza a essa linha de pensamento.
Por fim, a probabilidade. Não se trata de dizer que aquele evento X acontecerá dentro de um determinado de tempo, mas se ocorrerá algum dia. Qual a probabilidade de a Terra ser destruída por alienígenas? Não há registros que apontem para uma previsão segura. Já a erupção de um supervulcão como o Toba pode acontecer a qualquer momento. Pode-se prever um evento assim com base nos estudos e análises de situações parecidas ocorridas anteriormente. Ou seja, há um histórico. Casos semelhantes. Casti subdivide a probabilidade em três: praticamente certo; bem possível; improvável; muito remoto; e impossível dizer, caso dos alienígenas.
Apagão digital
Falhas na base da internet já mostraram que ela pode ser derrubada ou manipulada por pessoas com a habilidade necessária para tal. Em 2008, o consultor de segurança de computadores Dan Kaminsky descobriu que poderia induzir o sistema DNS (Sistema de Domínio de Nomes na sigla em inglês, aquele que transforma os endereços digitais como conhecemos, como jornalopcao.com.br, em endereços IP de 12 dígitos) da internet. Ou seja, ele achou uma brecha no sistema que determina o tráfego de um servidor a outro. Uma falha assim utilizada por um hacker inteligente pode dar acesso a quase todos os computadores da rede. Ele poderia hipnotizar toda a internet e reter qualquer dado a respeito de qualquer pessoa.
Kaminsky não limpou algumas contas bancárias e fugiu. Ele alertou as autoridades e as convocou para encontrar uma solução. Mas o simples vislumbre do que ele poderia ter feito mostra o quão frágil é o sistema mundial atual. Desde e-banking, email, e-books, até o fornecimento de água, energia elétrica, comida, ar, transporte e comunicação, todos os elementos da vida moderna no mundo industrializado de hoje dependem das funções de comunicação fornecidas pela internet. Isto é, se ela parar de funcionar, o mesmo acontece com o estilo de vida do mundo. O que pode ser feito.
Exemplo: seja por cartão de crédito ou transferência bancária, o dinheiro viaja pela internet. Em 2007, a quantidade de dinheiro que circulava pelo sistema era de quase 4 trilhões de dólares por dia. Atualmente, esse número deve chegar à casa dos 10 trilhões. O que aconteceria se a internet deixasse de funcionar essas transações tivessem que ser feitas por fax, telefone ou até mesmo pelo correio. No passado era assim. A vida viraria um caos.
Casti ressalta que o sistema atual utiliza uma arquitetura da década de 1970, época em que a internet foi concebida, o que provoca um grande desnível de complexidade entre a estrutura e seu uso atualmente. Quais as falhas? A internet gera buracos negros de informação. Por isso, às vezes, alguns sites não carregam na primeira tentativa. O leitor já deve ter vivenciado algo do tipo. A estimativa é que dois milhões de falhas desse tipo sejam geradas todos os dias e poderá engolir toda a internet um dia. Fora as falhas físicas. Os cabos de fibra ótica — para ficar apenas em um exemplo — cruzam o mundo pelo fundo do mar. Não são poucos os exemplos de países que ficaram às cegas devido a quebra desses cabos por terremotos ou outras situações.
Quando vamos comer?
O leitor sabia que mais de 4 milhões de pessoas ficaram pobres desde junho de 2011 devido ao aumento do preço dos alimentos? Ou que devido à diminuição no suprimento de água, a Arábia Saudita não poderá mais produzir trigo em breve? Ou que, de acordo com estudos realizados pela Global Phosphorus Research Initiative, nas próximas duas ou três décadas não haverá fósforo suficiente para atender às necessidades de produção de alimentos?
Essas informações são trazidas por Casti em seu livro — publicado em 2012 e, embora possa estar desatualizado, traz dados recentes. Mas a última dessa pequena lista trata das superdoenças que estão atacando as plantações do mundo. Ora, não estamos vivendo no Brasil algo assim? O que o leitor me diz da lagarta Helicoverpa armigera, que já causou R$ 600 milhões de prejuízo apenas em Goiás? Ela come de tudo e é resistente a qualquer tipo de inseticida conhecido no Brasil. Apenas inseticidas mais fortes poderão controlar sua reprodução, mas podem também causar outros danos, como já dizem especialistas.
Fora isso, há outros fatores. A industrialização da agricultura, modificações genéticas, inseticidas, monocultura, instabilidade climática, crescimento da população, etc. Segundo Casti, esses são fatores que criam a base para um colapso, via evento X, da rede de produção e distribuição de alimentos no mundo. O autor cita alguns exemplos que podem afetar muito a produção de alimentos nos próximos anos: escassez de água (a Arábia Saudita, país autossuficiente na produção de trigo por mais de 20 anos pode ter o cultivo ameaçado devido à falta de água); fenômenos climáticos (ressalte-se o aquecimento global); alta no preço do petróleo; crescimento populacional; e grãos para combustível (aqui, Casti cita o fato de que os Estados Unidos viabilizam grande parte de sua produção de milho para a produção de etanol, assim como no Brasil).
“O mundo está enfrentando, neste momento, uma confluência de escassez crescente em três elementos fundamentais para a continuação da vida humana neste planeta: água, energia e alimentos. A combinação resultante é maior do que a soma das partes, podendo acabar em desastre até 2030”, conclui Casti.
O dia em que os eletrônicos pararam
O PEM (pulso eletromagnético) é uma onda de choque produzida por uma explosão de alta energia na atmosfera. Essa onda cria uma sobrecarga momentânea de corrente elétrica nos circuitos de aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs, e automóveis desprotegidos. O pulso queima qualquer aparelho eletrônico ao alcance, independente de fiação.
Já houve um. Em 1962, no Pacífico Sul, a operação Starfish Prime explodiu um PEM de 1,4 megaton a uma altitude de 400 quilômetros. A área era remota, mas o pulso de energia eletromagnética resultante foi sentido em Honolulu, no Havaí, a mais de mil quilômetros do epicentro. Mesmo assim, queimou lâmpadas de iluminação pública e danificou retransmissores de rádio. E isso com uma explosão razoavelmente pequena feita há mais de 50 anos. Um ataque desse tipo atualmente poderia gerar danos talvez irreversíveis no mundo tecnológico de hoje. Computadores e outros aparelhos com microcircuitos; todos os condutores e linhas de transmissão de energia elétrica; segurança de bancos, elevadores e equipamentos hospitalares; carros, aviões, trens, barcos, etc. Tudo acabaria em questão de segundos.
“No caso de um ataque de PEM, o tempo de recuperação é de muitos meses, ou mesmo anos. Ao final da primeira semana, o pânico se instalaria. As ruas seriam tomadas por saqueadores, policiais e militares abandonariam seus postos para proteger suas famílias, não haveria ninguém para combater os incêndios e, de um modo geral, a sociedade logo voltaria a um estilo de vida semelhante àquele imaginado após um conflito nuclear”, embora seja um cenário completamente inofensivo à saúde humana diretamente.
Uma nova desordem
As previsões de Casti são quase que uma estratégia voltada para os Estados Unidos no caso de um evento X ocorrer. Não injusto, pois, além de ser estadunidense, seu país é a maior potencial econômica mundial e se um dia a globalização, nos moldes de hoje, ruir, os Estados Unidos estarão no centro do desastre. Assim, o matemático separa alguns cenários visando essa crise:
— Colapso: Após o fracasso das reações oficiais a uma série de catástrofes como o furacão Katrina, o estado de ânimo da população americana é afetado de forma negativa. As pessoas começam a ver o governo como seu maior inimigo. Essa mudança de psicologia coletiva gera um descompasso de complexidade entre o governo e os cidadãos, situação muito parecida com a que aconteceu recentemente nos países árabes do norte da África, resultando na implosão dos Estados Unidos devido a divisões internas.
— Separação amigável: em outras palavras, os Estados Unidos deixam ser unidos devido à incapacidade de arcar com o custo de um grande império, assim como aconteceu com a União Soviética.
— Governança global: neste cenário, os Estados Unidos perdem sua importância geopolítica enquanto são assimilados por uma comunidade global maior. Em suma, o mundo se une para formar as verdadeiras “Nações Unidas”.
— Conquista global: este seria o caminho mais pesado, em que não só os Estados Unidos, como o restante do mundo, são subjugados a uma ditadura global. Um ditador assume o poder à força, provavelmente utilizando armas baseadas no espaço, e bloqueia o mundo.
Física mortífera
Aqui, o medo está no avanço das pesquisas auxiliado pela tecnologia de ponta da qual se dispõe atualmente. Basicamente, as preocupações estão sobre o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN), que faz pesquisas com o LHC, o grande colisor de hádrons na tentativa de recriar o Big Bang em laboratório.
Os temores: a criação de buracos negros descontrolados (a partir das experiências, milhões de buracos negros microscópios seriam criados, persistiriam e de algum modo se aglutinariam em uma massa gravitacional que consumiria outras formas de matéria e acabaria engolindo o planeta); strangelets (novas combinações de quarks — partículas menores que formam os prótons — capaz de transformam tudo o que toca em partículas semelhantes); monopolos magnéticos (há a hipótese de que as colisões de alta energia como as que acontecem no LHC possam criar monopolos — norte ou sul — desencadeando uma reação em cadeia que destruiria o equilíbrio magnético do planeta); e um colapso do vácuo quântico (a teoria é de que o vácuo existente entre as partículas está repleto de energia. Se os experimentos do LHC anular as forças que estabilizam esse vácuo, a liberação dessa energia iria causar uma explosão que varreria o universo em questão de segundos).
A grande explosão
O panorama nuclear do mundo atual é um caso clássico de sobrecarga de complexidade em ação. Segundo Casti, além de ser difícil definir o número de países participantes, o cenário inclui de tudo: bombas “perdidas” da antiga União Soviética; cientistas insatisfeitos que passaram para o “lado negro da força”; tentativas constantes dos hackers de invadir sistemas de controle de armas; principiantes, como grupos terroristas e países fora da lei, interessados em adquirir bombas atômicas no mercado negro; ogivas possivelmente instáveis, mesmo nos arsenais oficiais.
Tudo isso poderia resultar em uma reação em cadeia que estouraria o planeta com uma série de “fogos de artifício”. “A verdade é que o cenário nuclear atual é um exemplo típico de como o excesso de complexidade pode desestabilizar a estrutura global de poder — da noite para o dia”. E quais seriam as consequências? Bem, citam-se sete: 1) as explosões nucleares lançam imediatamente poeira, radioatividade e gases na atmosfera. 2) as explosões iniciam incêndios, queimando cidades, florestas, combustíveis; 3) devido aos incêndios, nuvens de fumaça e gases sobem para a troposfera e logo são espalhadas por todo o planeta; 4) fumaça e poeira envolvem o planeta por semanas; 5) devido a isso, a Terra vive dias de escuridão; 6) a temperatura cai drasticamente na superfície terrestre, o que gera um inverno nuclear; e 7) quando a poeira baixa, a superfície é exposta a uma forte radiação ultravioleta, resultante da destruição parcial da camada de ozônio.
E isso poderia ocorrer, desde uma guerra aberta e intencional até acidentes.
Esgotamento
De acordo com um artigo da “Oil and Gas Journal”, no final de 2005 as reservas mundiais de petróleo eram de 1,2 trilhão de barris, dos quais cerca de 60% se localizavam em cinco países: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. No outro lado da balança, o consumo totalizava 84 milhões de barris por dia, com 47% nos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Atualmente, o consumo cresce a uma taxa de 2% ao ano. Assim, um bilhão de barris dura, então, aproximadamente doze dias.
Fazendo os cálculos, isso significa que 30 bilhões de barris por ano. Portanto, mesmo que o consumo se estabilizasse na taxa atual, 1,2 trilhão de barris na reserva acabaria em 40 anos. Esse é o limite máximo. Porém, haveria uma crise muito antes disso. Casti supõe quatro cenários. Em um deles há uma coalizão por parte dos países que produzem.
“Maio de 2014: o preço do petróleo ultrapassou os 100 dólares por barril, uma vez que o Irã e a Venezuela cortaram as exportações de mais de 700 mil barris para unir os países desenvolvidos do Ocidente pela imposição de sanções. Nesse meio-tempo, as forças armadas dos Estados Unidos estão se preparando para deslocar toda a sua frota do Pacífico para a região do Golfo Pérsico, a fim de combater ameaças aos campos petrolíferos do Oriente Médio”.
Já é possível imaginar o fim. Guerra nuclear e morte de todos, direta ou indiretamente.
É de doer
Aqui, Casti fala sobre uma pandemia de doenças infecciosas no padrão da Peste Bubônica ou da Gripe Espanhola, que aterrorizaram o mundo nos séculos XIX e XX, matando milhões de pessoas. E esse cenário não é necessariamente baseado na ação de terroristas, pois a natureza é perfeitamente capaz de lançar uma grande diversidade de ameaças à existência humana. Epidemias e pandemias de uma variedade estonteante têm surgido regularmente ao longo da história e devem reaparecer sob várias formas. Assim, a pergunta é: a humanidade estará preparada para enfrentar uma grande pandemia quando ela ocorrer?
No escuro e com sede
“A eletricidade e a água são fluidos, metaforicamente no primeiro caso, literalmente no segundo. Ambas são fundamentais para sustentar a vida como conhecemos. Para isso, precisam ser transportadas de onde são abundantes para onde são basicamente locais, não globais”. Uma pane na rede elétrica, por exemplo, é um problema restrito a certa região geográfica e jamais serão realmente globais, a não ser sob um ataque de PEM.
O que já não acontece com a distribuição de água, uma questão decididamente global. “Afetará todo mundo, em toda parte. Mas nem todos serão afetados ao mesmo tempo”. Na verdade, pode-se dizer que a catástrofe já ocorreu. “Só que a maioria dos habitantes do mundo desenvolvido não tem consciência disso porque não foi afetada… ainda”. Assim, “uma pane na rede elétrica ou no suprimento de água potável seria catastrófica, com um enorme impacto no modo de vida de literalmente milhões, se não bilhões, de pessoas. Eis por que as incluí neste livro”.
Tecnologia fora de controle
Enfim, caro leitor, chega-se no paraíso do pensamento futurista: quando robôs inteligentes tomaram o mundo exterminando a raça humana. Há milhares de filmes e livros antecipando essa realidade. E isso poderá ocorrer, por que não? Os futuristas radicais afirmam que quando o ser humano conseguir realizar a fusão entre a mente humana e as máquinas, a humanidade poderá superar muitos problemas, como fome, doenças e recursos finitos, como o petróleo e água. Porém, essa capacidade poderá fazer com o ser humano também abra possibilidades inéditas de manifestação dos impulsos destrutivos. Assim, é possível que as máquinas se voltem contra os humanos, exterminando-os.
A grande crise
Eis que chegamos ao último caso analisado por Casti. E trata de uma grande crise financeira tendo por epicentro os Estados Unidos. Segundo o matemático, o mundo está às portas de uma crise muito mais séria que a vivida na crise de 2008. E o motor que está virando de ponta-cabeça os mundos financeiro e econômico é a rápida aproximação de um período de deflação maciça — ou, talvez ainda pior, hiperinflação. “Assim, qualquer que seja o quadro que emerja no longo prazo, (daqui a dez a vinte anos), o horizonte imediato na fase criativa é que colheremos os benefícios do que está por vir no balanço do século atual”.
O matemático John Casti faz um apanhado acerca dos níveis de complexidade que podem gerar crises na sociedade atual[/caption]
John Casti seleciona e desenvolve 11 casos para explicar sua teoria do desnível de complexidade que pode gerar o fim da humanidade a curto e longo prazos. São eles: um apagão na internet; a falência do sistema global de abastecimento de alimentos; um ataque por pulso eletromagnético que destrói todos os aparelhos eletrônicos; o fracasso da globalização; a destruição provocada pela criação de partículas exóticas; a desestabilização do panorama nuclear; o esgotamento das reservas de petróleo; uma pandemia global; pane no sistema elétrico e no suprimento de água potável; robôs inteligentes que dominam a humanidade; e uma crise no sistema financeiro global.
O escritor explica que procurou evitar os tipos mais “corriqueiros” de eventos extremos, como os deliberadamente “naturais”, caso de vulcões, colisões de asteroides ou até mesmo o aquecimento global. E esses possíveis acontecimentos são tratados sob três aspectos: duração, timing e possibilidade. A duração se refere exatamente ao período levado por um evento para atingir o mundo. Alguns tipos de acontecimento levam tempo para provocar caos. Uma praga, por exemplo, não infecta todo o mundo de uma hora para outra, mesmo na atualidade em que tudo corre a uma velocidade a jato.
Por outro lado, o timing remete à quando o desastre pode ocorrer, trata da existência ou não de condições prévias que relegam o evento a algum momento impreciso em um futuro distante — podendo ou não acontecer — ou se ele pode se manifestar a qualquer momento. As respostas? Bem, elas podem variar de “imediatamente” a “nunca”. Por exemplo, uma extinção por nanorobôs auto multiplicáveis. A tecnologia não chegou lá. Mas não existe ainda, o que deverá acontecer em uma década, no máximo. Agora, uma invasão alienígena hostil pode acontecer a qualquer momento, assim como pode nunca ocorrer. Não existe a mínima evidência que conduza a essa linha de pensamento.
Por fim, a probabilidade. Não se trata de dizer que aquele evento X acontecerá dentro de um determinado de tempo, mas se ocorrerá algum dia. Qual a probabilidade de a Terra ser destruída por alienígenas? Não há registros que apontem para uma previsão segura. Já a erupção de um supervulcão como o Toba pode acontecer a qualquer momento. Pode-se prever um evento assim com base nos estudos e análises de situações parecidas ocorridas anteriormente. Ou seja, há um histórico. Casos semelhantes. Casti subdivide a probabilidade em três: praticamente certo; bem possível; improvável; muito remoto; e impossível dizer, caso dos alienígenas.
Apagão digital
Falhas na base da internet já mostraram que ela pode ser derrubada ou manipulada por pessoas com a habilidade necessária para tal. Em 2008, o consultor de segurança de computadores Dan Kaminsky descobriu que poderia induzir o sistema DNS (Sistema de Domínio de Nomes na sigla em inglês, aquele que transforma os endereços digitais como conhecemos, como jornalopcao.com.br, em endereços IP de 12 dígitos) da internet. Ou seja, ele achou uma brecha no sistema que determina o tráfego de um servidor a outro. Uma falha assim utilizada por um hacker inteligente pode dar acesso a quase todos os computadores da rede. Ele poderia hipnotizar toda a internet e reter qualquer dado a respeito de qualquer pessoa.
Kaminsky não limpou algumas contas bancárias e fugiu. Ele alertou as autoridades e as convocou para encontrar uma solução. Mas o simples vislumbre do que ele poderia ter feito mostra o quão frágil é o sistema mundial atual. Desde e-banking, email, e-books, até o fornecimento de água, energia elétrica, comida, ar, transporte e comunicação, todos os elementos da vida moderna no mundo industrializado de hoje dependem das funções de comunicação fornecidas pela internet. Isto é, se ela parar de funcionar, o mesmo acontece com o estilo de vida do mundo. O que pode ser feito.
Exemplo: seja por cartão de crédito ou transferência bancária, o dinheiro viaja pela internet. Em 2007, a quantidade de dinheiro que circulava pelo sistema era de quase 4 trilhões de dólares por dia. Atualmente, esse número deve chegar à casa dos 10 trilhões. O que aconteceria se a internet deixasse de funcionar essas transações tivessem que ser feitas por fax, telefone ou até mesmo pelo correio. No passado era assim. A vida viraria um caos.
Casti ressalta que o sistema atual utiliza uma arquitetura da década de 1970, época em que a internet foi concebida, o que provoca um grande desnível de complexidade entre a estrutura e seu uso atualmente. Quais as falhas? A internet gera buracos negros de informação. Por isso, às vezes, alguns sites não carregam na primeira tentativa. O leitor já deve ter vivenciado algo do tipo. A estimativa é que dois milhões de falhas desse tipo sejam geradas todos os dias e poderá engolir toda a internet um dia. Fora as falhas físicas. Os cabos de fibra ótica — para ficar apenas em um exemplo — cruzam o mundo pelo fundo do mar. Não são poucos os exemplos de países que ficaram às cegas devido a quebra desses cabos por terremotos ou outras situações.
Quando vamos comer?
O leitor sabia que mais de 4 milhões de pessoas ficaram pobres desde junho de 2011 devido ao aumento do preço dos alimentos? Ou que devido à diminuição no suprimento de água, a Arábia Saudita não poderá mais produzir trigo em breve? Ou que, de acordo com estudos realizados pela Global Phosphorus Research Initiative, nas próximas duas ou três décadas não haverá fósforo suficiente para atender às necessidades de produção de alimentos?
Essas informações são trazidas por Casti em seu livro — publicado em 2012 e, embora possa estar desatualizado, traz dados recentes. Mas a última dessa pequena lista trata das superdoenças que estão atacando as plantações do mundo. Ora, não estamos vivendo no Brasil algo assim? O que o leitor me diz da lagarta Helicoverpa armigera, que já causou R$ 600 milhões de prejuízo apenas em Goiás? Ela come de tudo e é resistente a qualquer tipo de inseticida conhecido no Brasil. Apenas inseticidas mais fortes poderão controlar sua reprodução, mas podem também causar outros danos, como já dizem especialistas.
Fora isso, há outros fatores. A industrialização da agricultura, modificações genéticas, inseticidas, monocultura, instabilidade climática, crescimento da população, etc. Segundo Casti, esses são fatores que criam a base para um colapso, via evento X, da rede de produção e distribuição de alimentos no mundo. O autor cita alguns exemplos que podem afetar muito a produção de alimentos nos próximos anos: escassez de água (a Arábia Saudita, país autossuficiente na produção de trigo por mais de 20 anos pode ter o cultivo ameaçado devido à falta de água); fenômenos climáticos (ressalte-se o aquecimento global); alta no preço do petróleo; crescimento populacional; e grãos para combustível (aqui, Casti cita o fato de que os Estados Unidos viabilizam grande parte de sua produção de milho para a produção de etanol, assim como no Brasil).
“O mundo está enfrentando, neste momento, uma confluência de escassez crescente em três elementos fundamentais para a continuação da vida humana neste planeta: água, energia e alimentos. A combinação resultante é maior do que a soma das partes, podendo acabar em desastre até 2030”, conclui Casti.
O dia em que os eletrônicos pararam
O PEM (pulso eletromagnético) é uma onda de choque produzida por uma explosão de alta energia na atmosfera. Essa onda cria uma sobrecarga momentânea de corrente elétrica nos circuitos de aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs, e automóveis desprotegidos. O pulso queima qualquer aparelho eletrônico ao alcance, independente de fiação.
Já houve um. Em 1962, no Pacífico Sul, a operação Starfish Prime explodiu um PEM de 1,4 megaton a uma altitude de 400 quilômetros. A área era remota, mas o pulso de energia eletromagnética resultante foi sentido em Honolulu, no Havaí, a mais de mil quilômetros do epicentro. Mesmo assim, queimou lâmpadas de iluminação pública e danificou retransmissores de rádio. E isso com uma explosão razoavelmente pequena feita há mais de 50 anos. Um ataque desse tipo atualmente poderia gerar danos talvez irreversíveis no mundo tecnológico de hoje. Computadores e outros aparelhos com microcircuitos; todos os condutores e linhas de transmissão de energia elétrica; segurança de bancos, elevadores e equipamentos hospitalares; carros, aviões, trens, barcos, etc. Tudo acabaria em questão de segundos.
“No caso de um ataque de PEM, o tempo de recuperação é de muitos meses, ou mesmo anos. Ao final da primeira semana, o pânico se instalaria. As ruas seriam tomadas por saqueadores, policiais e militares abandonariam seus postos para proteger suas famílias, não haveria ninguém para combater os incêndios e, de um modo geral, a sociedade logo voltaria a um estilo de vida semelhante àquele imaginado após um conflito nuclear”, embora seja um cenário completamente inofensivo à saúde humana diretamente.
Uma nova desordem
As previsões de Casti são quase que uma estratégia voltada para os Estados Unidos no caso de um evento X ocorrer. Não injusto, pois, além de ser estadunidense, seu país é a maior potencial econômica mundial e se um dia a globalização, nos moldes de hoje, ruir, os Estados Unidos estarão no centro do desastre. Assim, o matemático separa alguns cenários visando essa crise:
— Colapso: Após o fracasso das reações oficiais a uma série de catástrofes como o furacão Katrina, o estado de ânimo da população americana é afetado de forma negativa. As pessoas começam a ver o governo como seu maior inimigo. Essa mudança de psicologia coletiva gera um descompasso de complexidade entre o governo e os cidadãos, situação muito parecida com a que aconteceu recentemente nos países árabes do norte da África, resultando na implosão dos Estados Unidos devido a divisões internas.
— Separação amigável: em outras palavras, os Estados Unidos deixam ser unidos devido à incapacidade de arcar com o custo de um grande império, assim como aconteceu com a União Soviética.
— Governança global: neste cenário, os Estados Unidos perdem sua importância geopolítica enquanto são assimilados por uma comunidade global maior. Em suma, o mundo se une para formar as verdadeiras “Nações Unidas”.
— Conquista global: este seria o caminho mais pesado, em que não só os Estados Unidos, como o restante do mundo, são subjugados a uma ditadura global. Um ditador assume o poder à força, provavelmente utilizando armas baseadas no espaço, e bloqueia o mundo.
Física mortífera
Aqui, o medo está no avanço das pesquisas auxiliado pela tecnologia de ponta da qual se dispõe atualmente. Basicamente, as preocupações estão sobre o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN), que faz pesquisas com o LHC, o grande colisor de hádrons na tentativa de recriar o Big Bang em laboratório.
Os temores: a criação de buracos negros descontrolados (a partir das experiências, milhões de buracos negros microscópios seriam criados, persistiriam e de algum modo se aglutinariam em uma massa gravitacional que consumiria outras formas de matéria e acabaria engolindo o planeta); strangelets (novas combinações de quarks — partículas menores que formam os prótons — capaz de transformam tudo o que toca em partículas semelhantes); monopolos magnéticos (há a hipótese de que as colisões de alta energia como as que acontecem no LHC possam criar monopolos — norte ou sul — desencadeando uma reação em cadeia que destruiria o equilíbrio magnético do planeta); e um colapso do vácuo quântico (a teoria é de que o vácuo existente entre as partículas está repleto de energia. Se os experimentos do LHC anular as forças que estabilizam esse vácuo, a liberação dessa energia iria causar uma explosão que varreria o universo em questão de segundos).
A grande explosão
O panorama nuclear do mundo atual é um caso clássico de sobrecarga de complexidade em ação. Segundo Casti, além de ser difícil definir o número de países participantes, o cenário inclui de tudo: bombas “perdidas” da antiga União Soviética; cientistas insatisfeitos que passaram para o “lado negro da força”; tentativas constantes dos hackers de invadir sistemas de controle de armas; principiantes, como grupos terroristas e países fora da lei, interessados em adquirir bombas atômicas no mercado negro; ogivas possivelmente instáveis, mesmo nos arsenais oficiais.
Tudo isso poderia resultar em uma reação em cadeia que estouraria o planeta com uma série de “fogos de artifício”. “A verdade é que o cenário nuclear atual é um exemplo típico de como o excesso de complexidade pode desestabilizar a estrutura global de poder — da noite para o dia”. E quais seriam as consequências? Bem, citam-se sete: 1) as explosões nucleares lançam imediatamente poeira, radioatividade e gases na atmosfera. 2) as explosões iniciam incêndios, queimando cidades, florestas, combustíveis; 3) devido aos incêndios, nuvens de fumaça e gases sobem para a troposfera e logo são espalhadas por todo o planeta; 4) fumaça e poeira envolvem o planeta por semanas; 5) devido a isso, a Terra vive dias de escuridão; 6) a temperatura cai drasticamente na superfície terrestre, o que gera um inverno nuclear; e 7) quando a poeira baixa, a superfície é exposta a uma forte radiação ultravioleta, resultante da destruição parcial da camada de ozônio.
E isso poderia ocorrer, desde uma guerra aberta e intencional até acidentes.
Esgotamento
De acordo com um artigo da “Oil and Gas Journal”, no final de 2005 as reservas mundiais de petróleo eram de 1,2 trilhão de barris, dos quais cerca de 60% se localizavam em cinco países: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. No outro lado da balança, o consumo totalizava 84 milhões de barris por dia, com 47% nos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Atualmente, o consumo cresce a uma taxa de 2% ao ano. Assim, um bilhão de barris dura, então, aproximadamente doze dias.
Fazendo os cálculos, isso significa que 30 bilhões de barris por ano. Portanto, mesmo que o consumo se estabilizasse na taxa atual, 1,2 trilhão de barris na reserva acabaria em 40 anos. Esse é o limite máximo. Porém, haveria uma crise muito antes disso. Casti supõe quatro cenários. Em um deles há uma coalizão por parte dos países que produzem.
“Maio de 2014: o preço do petróleo ultrapassou os 100 dólares por barril, uma vez que o Irã e a Venezuela cortaram as exportações de mais de 700 mil barris para unir os países desenvolvidos do Ocidente pela imposição de sanções. Nesse meio-tempo, as forças armadas dos Estados Unidos estão se preparando para deslocar toda a sua frota do Pacífico para a região do Golfo Pérsico, a fim de combater ameaças aos campos petrolíferos do Oriente Médio”.
Já é possível imaginar o fim. Guerra nuclear e morte de todos, direta ou indiretamente.
É de doer
Aqui, Casti fala sobre uma pandemia de doenças infecciosas no padrão da Peste Bubônica ou da Gripe Espanhola, que aterrorizaram o mundo nos séculos XIX e XX, matando milhões de pessoas. E esse cenário não é necessariamente baseado na ação de terroristas, pois a natureza é perfeitamente capaz de lançar uma grande diversidade de ameaças à existência humana. Epidemias e pandemias de uma variedade estonteante têm surgido regularmente ao longo da história e devem reaparecer sob várias formas. Assim, a pergunta é: a humanidade estará preparada para enfrentar uma grande pandemia quando ela ocorrer?
No escuro e com sede
“A eletricidade e a água são fluidos, metaforicamente no primeiro caso, literalmente no segundo. Ambas são fundamentais para sustentar a vida como conhecemos. Para isso, precisam ser transportadas de onde são abundantes para onde são basicamente locais, não globais”. Uma pane na rede elétrica, por exemplo, é um problema restrito a certa região geográfica e jamais serão realmente globais, a não ser sob um ataque de PEM.
O que já não acontece com a distribuição de água, uma questão decididamente global. “Afetará todo mundo, em toda parte. Mas nem todos serão afetados ao mesmo tempo”. Na verdade, pode-se dizer que a catástrofe já ocorreu. “Só que a maioria dos habitantes do mundo desenvolvido não tem consciência disso porque não foi afetada… ainda”. Assim, “uma pane na rede elétrica ou no suprimento de água potável seria catastrófica, com um enorme impacto no modo de vida de literalmente milhões, se não bilhões, de pessoas. Eis por que as incluí neste livro”.
Tecnologia fora de controle
Enfim, caro leitor, chega-se no paraíso do pensamento futurista: quando robôs inteligentes tomaram o mundo exterminando a raça humana. Há milhares de filmes e livros antecipando essa realidade. E isso poderá ocorrer, por que não? Os futuristas radicais afirmam que quando o ser humano conseguir realizar a fusão entre a mente humana e as máquinas, a humanidade poderá superar muitos problemas, como fome, doenças e recursos finitos, como o petróleo e água. Porém, essa capacidade poderá fazer com o ser humano também abra possibilidades inéditas de manifestação dos impulsos destrutivos. Assim, é possível que as máquinas se voltem contra os humanos, exterminando-os.
A grande crise
Eis que chegamos ao último caso analisado por Casti. E trata de uma grande crise financeira tendo por epicentro os Estados Unidos. Segundo o matemático, o mundo está às portas de uma crise muito mais séria que a vivida na crise de 2008. E o motor que está virando de ponta-cabeça os mundos financeiro e econômico é a rápida aproximação de um período de deflação maciça — ou, talvez ainda pior, hiperinflação. “Assim, qualquer que seja o quadro que emerja no longo prazo, (daqui a dez a vinte anos), o horizonte imediato na fase criativa é que colheremos os benefícios do que está por vir no balanço do século atual”.

Kenneth Lonergan entrega um longa que, embora se aproprie de um grande clichê, é belíssimo em sua forma de tratar o assunto
[caption id="attachment_87309" align="aligncenter" width="620"] Lee e Patrick Chandler (Casey Affleck e Lucas Hedges) nos surpreendem ao personificarem a maior certeza que a humanidade já teve: apenas a morte nos espera no fim do caminho[/caption]
É fácil perder a paciência com atendentes de telemarketing, com o trânsito ou com filas de supermercado, mas quando você perde a cabeça com alguém que lhe é gentil ou lhe pede desculpas, é sinal de que algo anda muito mal.
É o caso de Lee Chandler, protagonista de “Manchester à beira mar”, o mais recente filme escrito e dirigido por Kenneth Lonergan. Kenneth já havia entregado “Conta Comigo”, bastante elogiado em 2000, mas passou ligeiramente despercebido uma década depois quando lançou “Margareth”, em 2011. Agora, retorna aos holofotes abordando um assunto comum em sua curta filmografia: a morte e suas implicações a quem permanece do lado de cá.
[relacionadas artigos="86358, 85345, 85503"]
O mal-humorado Lee Chandler, interpretado de forma magistral por Casey Affleck, é uma espécie de faz-tudo que trabalha numa administradora de condomínios em Boston, nos Estados Unidos. As cenas iniciais do filme nos apresentam a seus clientes costumeiros, um mais chato do que o outro, interrompidos de forma proposital pelo diretor. O corte abrupto nas transições de cena nos traz certo alívio.
Quando o filme nos conduz um pouco mais a fundo na rotina de Chandler, entretanto, chama a atenção a mistura de apatia com amargura que o zelador carrega nas costas. Tudo bem que a clientela e a rotina não ajudam, mas uma briga de bar deixa mostrar muito mais do que uma mera troca de socos e pontapés. O rosto ainda jovem de Lee revela-se uma carapaça protegendo — ou escondendo — o que de verdade habita no lado obscuro de sua alma.
Contudo, uma notícia pesada ameaça romper esse lacre. A morte de seu irmão, Joe Chandler (interpretado por Kyle Chandler), o leva a abandonar tudo temporariamente para cuidar das burocracias inerentes à fatalidade. Mesmo tendo que lidar com médicos, funerária e com aspectos legais, entretanto, Lee mantém seu acreditado autocontrole para tocar a vida.
Lee acha que está no controle de tudo. Sempre teve essa falsa impressão, mas o que vemos através das nuances que Lonergan paulatinamente disseca diante de nossos olhos — inclusive com flashbacks milimetricamente calculados — é o oposto disso. Chandler não consegue lidar nem consigo mesmo. Está o tempo todo prestes a explodir — mas esse “não explodir” o consome. O seu “foda-se” soa sempre muito mais sincero que o seu “muito obrigado”. E nas suas brigas diárias, tentando organizar um turbilhão de sentimentos engasgados, a vida lhe empurra muito mais do que consegue suportar.
É assim que descobre, por exemplo, que o irmão lhe empurrou a missão de ser o tutor do sobrinho, Patrick (interpretado por Lucas Hedges), de quem era muito próximo na infância, mas que por circunstâncias da vida acabou se afastando. Em meio a risadas e sobrancelhas franzidas, Patrick se incumbe de ajudar o diretor na missão de desvendar a esfinge Lee a nós, espectadores.
A Manchester do título do filme não é a cidade inglesa, como alguns apressados poderiam concluir. Tampouco aquela vizinha de Boston, no centro de Nova Hampshire. Manchester-by-the-sea é uma comunidade de pouco mais de 5 mil habitantes, na cidade de Cape Ann, condado de Essex, em Massachusetts, cuja principal atividade econômica é a pesca e o turismo à beira mar. O nome da currutela também é uma metáfora para a vida do nosso protagonista. Não por acaso, a estória não se passa numa cidade “de veraneio”, mas durante o inverno. E, se pegarmos o mar com seu significado universal e até esotérico, veremos que ele não representa o equilíbrio e a constância de uma baía pesqueira, mas a turbulência e transitoriedade das ondas batendo na areia.
A alegria e tranquilidade são efêmeras na vida de Lee, frequentemente associadas aos passeios de barco que costumava fazer com o irmão e o sobrinho. Os pontos mais leves do filme, inclusive, são no barco. Por outro lado, os planos longos e não tão fechados acentuam a carga dramática, contrapondo sempre as belas paisagens de Manchester-by-the-sea com a realidade pesada com que os personagens precisam lidar.
O ápice dramático do filme, embalado por uma belíssima trilha sonora composta por Lesley Barber (que, justiça seja feita, esteve magistralmente presente por toda a obra), traz a revelação definitiva sobre a origem do peso que Lee carrega nas costas. E é pesado. No rolar dos créditos, Kenneth Lonergan traz a difícil lição de que nem sempre é possível superar. Por mais que tenhamos esperanças, nem sempre sobram as forças necessárias, e é preciso reconhecer que as escolhas foram erradas, o caminho não deu resultado. O pescador nem sempre vence a luta contra o peixe — principalmente quando lhe falta experiência.
Já dizia Renato Russo, a irracionalidade toma conta “quando querem transformar esperança em maldição”. Esperar e lutar por dias melhores é instinto do ser humano, mas na busca impensada por superar um trauma, muitas vezes perdemos oportunidades únicas de sermos felizes, de tocar o barco e seguir em frente de forma verdadeira. É quando o abismo deixa de ser observado e passa a olhar para dentro de quem o observa.
“Manchester à beira mar” é, definitivamente, um filme de Oscar. Atuações vibrantes (além de Affleck e Hedges, ainda podemos conferir Michelle Williams em mais uma participação simples, mas decisiva), trilha sonora belíssima, fotografia do mesmo modo. E em que pese tratar-se de um bom roteiro, mas com temática amplamente já explorada em outras obras, surpreende que Kenneth Lonergan tenha se apropriado sabiamente do clichê: A única certeza que temos — cada um de nós, independentemente do drama que nos acomete — é uma lápide fria de mármore no fim do caminho.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG
Lee e Patrick Chandler (Casey Affleck e Lucas Hedges) nos surpreendem ao personificarem a maior certeza que a humanidade já teve: apenas a morte nos espera no fim do caminho[/caption]
É fácil perder a paciência com atendentes de telemarketing, com o trânsito ou com filas de supermercado, mas quando você perde a cabeça com alguém que lhe é gentil ou lhe pede desculpas, é sinal de que algo anda muito mal.
É o caso de Lee Chandler, protagonista de “Manchester à beira mar”, o mais recente filme escrito e dirigido por Kenneth Lonergan. Kenneth já havia entregado “Conta Comigo”, bastante elogiado em 2000, mas passou ligeiramente despercebido uma década depois quando lançou “Margareth”, em 2011. Agora, retorna aos holofotes abordando um assunto comum em sua curta filmografia: a morte e suas implicações a quem permanece do lado de cá.
[relacionadas artigos="86358, 85345, 85503"]
O mal-humorado Lee Chandler, interpretado de forma magistral por Casey Affleck, é uma espécie de faz-tudo que trabalha numa administradora de condomínios em Boston, nos Estados Unidos. As cenas iniciais do filme nos apresentam a seus clientes costumeiros, um mais chato do que o outro, interrompidos de forma proposital pelo diretor. O corte abrupto nas transições de cena nos traz certo alívio.
Quando o filme nos conduz um pouco mais a fundo na rotina de Chandler, entretanto, chama a atenção a mistura de apatia com amargura que o zelador carrega nas costas. Tudo bem que a clientela e a rotina não ajudam, mas uma briga de bar deixa mostrar muito mais do que uma mera troca de socos e pontapés. O rosto ainda jovem de Lee revela-se uma carapaça protegendo — ou escondendo — o que de verdade habita no lado obscuro de sua alma.
Contudo, uma notícia pesada ameaça romper esse lacre. A morte de seu irmão, Joe Chandler (interpretado por Kyle Chandler), o leva a abandonar tudo temporariamente para cuidar das burocracias inerentes à fatalidade. Mesmo tendo que lidar com médicos, funerária e com aspectos legais, entretanto, Lee mantém seu acreditado autocontrole para tocar a vida.
Lee acha que está no controle de tudo. Sempre teve essa falsa impressão, mas o que vemos através das nuances que Lonergan paulatinamente disseca diante de nossos olhos — inclusive com flashbacks milimetricamente calculados — é o oposto disso. Chandler não consegue lidar nem consigo mesmo. Está o tempo todo prestes a explodir — mas esse “não explodir” o consome. O seu “foda-se” soa sempre muito mais sincero que o seu “muito obrigado”. E nas suas brigas diárias, tentando organizar um turbilhão de sentimentos engasgados, a vida lhe empurra muito mais do que consegue suportar.
É assim que descobre, por exemplo, que o irmão lhe empurrou a missão de ser o tutor do sobrinho, Patrick (interpretado por Lucas Hedges), de quem era muito próximo na infância, mas que por circunstâncias da vida acabou se afastando. Em meio a risadas e sobrancelhas franzidas, Patrick se incumbe de ajudar o diretor na missão de desvendar a esfinge Lee a nós, espectadores.
A Manchester do título do filme não é a cidade inglesa, como alguns apressados poderiam concluir. Tampouco aquela vizinha de Boston, no centro de Nova Hampshire. Manchester-by-the-sea é uma comunidade de pouco mais de 5 mil habitantes, na cidade de Cape Ann, condado de Essex, em Massachusetts, cuja principal atividade econômica é a pesca e o turismo à beira mar. O nome da currutela também é uma metáfora para a vida do nosso protagonista. Não por acaso, a estória não se passa numa cidade “de veraneio”, mas durante o inverno. E, se pegarmos o mar com seu significado universal e até esotérico, veremos que ele não representa o equilíbrio e a constância de uma baía pesqueira, mas a turbulência e transitoriedade das ondas batendo na areia.
A alegria e tranquilidade são efêmeras na vida de Lee, frequentemente associadas aos passeios de barco que costumava fazer com o irmão e o sobrinho. Os pontos mais leves do filme, inclusive, são no barco. Por outro lado, os planos longos e não tão fechados acentuam a carga dramática, contrapondo sempre as belas paisagens de Manchester-by-the-sea com a realidade pesada com que os personagens precisam lidar.
O ápice dramático do filme, embalado por uma belíssima trilha sonora composta por Lesley Barber (que, justiça seja feita, esteve magistralmente presente por toda a obra), traz a revelação definitiva sobre a origem do peso que Lee carrega nas costas. E é pesado. No rolar dos créditos, Kenneth Lonergan traz a difícil lição de que nem sempre é possível superar. Por mais que tenhamos esperanças, nem sempre sobram as forças necessárias, e é preciso reconhecer que as escolhas foram erradas, o caminho não deu resultado. O pescador nem sempre vence a luta contra o peixe — principalmente quando lhe falta experiência.
Já dizia Renato Russo, a irracionalidade toma conta “quando querem transformar esperança em maldição”. Esperar e lutar por dias melhores é instinto do ser humano, mas na busca impensada por superar um trauma, muitas vezes perdemos oportunidades únicas de sermos felizes, de tocar o barco e seguir em frente de forma verdadeira. É quando o abismo deixa de ser observado e passa a olhar para dentro de quem o observa.
“Manchester à beira mar” é, definitivamente, um filme de Oscar. Atuações vibrantes (além de Affleck e Hedges, ainda podemos conferir Michelle Williams em mais uma participação simples, mas decisiva), trilha sonora belíssima, fotografia do mesmo modo. E em que pese tratar-se de um bom roteiro, mas com temática amplamente já explorada em outras obras, surpreende que Kenneth Lonergan tenha se apropriado sabiamente do clichê: A única certeza que temos — cada um de nós, independentemente do drama que nos acomete — é uma lápide fria de mármore no fim do caminho.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Canção de letra mais forte do disco Princesa, música de 6 minutos e 38 segundos é representada em bom roteiro de Bruno Alves, Pedro Ferrarezzi e Salma Jô

Um dos filmes lusófonos do festival, "Colo" estreia sem o louvor da crítica internacional
[caption id="attachment_87303" align="aligncenter" width="620"] "Colo" não conquistou a crítica internacional, que abandonou a exibição[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
A lusofonia este ano bateu um recorde no Festival Internacional de Cinema de Berlim — são 18 filmes brasileiros e portugueses nas diversas competições. E nesta quarta-feira, 15, foi a vez do longa-metragem da cineasta portuguesa Teresa Villaverde, "Colo", ser exibido.
[relacionadas artigos="87225, 87126"]
O filme mostra a repercussão da crise econômica numa família portuguesa, deixando claro o por quê do nome do longa, que, entre coisas quer dizer afeto. Villaverde justifica dizendo que falta também afeto no casal e filha do seu filme.
Para ela, a crise não é só econômica, mas envolve igualmente um clima de falta de comunicação, porque se de um lado gera o desemprego, outras pessoas são obrigadas a acumular empregos, faltando-lhes tempo para curtir a família.
Em "Colo", o desemprego leva o pai ao desespero e a filha não avalia a gravidade da crise vivida pela família, onde até a luz é cortada por falta de pagamento. Filmado na maior parte do tempo nos interiores e sem muita luz, "Colo" transmite a sensação de falta de perspectivas de seus personagens.
Villaverde permanece fiel aos filmes de cenas longas que sempre caracterizam as produções portuguesas — uma exceção deste estilo apareceu há quatro anos, quando o estreante em Berlim, "Tabu", de Miguel Gomes, mostrou uma agilidade ainda rara no cinema português.
Embora o tema de "Colo" seja dos melhores, o que a crítica chamou de "silêncios", os planos fixos demorados e a falta de movimento em contraposição às cenas mais rápidas da moderna cinematografia, não foram bem recebidos pela crítica internacional que abandonou a projeção e não foi à coletiva para a imprensa.
"Colo" não conquistou a crítica internacional, que abandonou a exibição[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
A lusofonia este ano bateu um recorde no Festival Internacional de Cinema de Berlim — são 18 filmes brasileiros e portugueses nas diversas competições. E nesta quarta-feira, 15, foi a vez do longa-metragem da cineasta portuguesa Teresa Villaverde, "Colo", ser exibido.
[relacionadas artigos="87225, 87126"]
O filme mostra a repercussão da crise econômica numa família portuguesa, deixando claro o por quê do nome do longa, que, entre coisas quer dizer afeto. Villaverde justifica dizendo que falta também afeto no casal e filha do seu filme.
Para ela, a crise não é só econômica, mas envolve igualmente um clima de falta de comunicação, porque se de um lado gera o desemprego, outras pessoas são obrigadas a acumular empregos, faltando-lhes tempo para curtir a família.
Em "Colo", o desemprego leva o pai ao desespero e a filha não avalia a gravidade da crise vivida pela família, onde até a luz é cortada por falta de pagamento. Filmado na maior parte do tempo nos interiores e sem muita luz, "Colo" transmite a sensação de falta de perspectivas de seus personagens.
Villaverde permanece fiel aos filmes de cenas longas que sempre caracterizam as produções portuguesas — uma exceção deste estilo apareceu há quatro anos, quando o estreante em Berlim, "Tabu", de Miguel Gomes, mostrou uma agilidade ainda rara no cinema português.
Embora o tema de "Colo" seja dos melhores, o que a crítica chamou de "silêncios", os planos fixos demorados e a falta de movimento em contraposição às cenas mais rápidas da moderna cinematografia, não foram bem recebidos pela crítica internacional que abandonou a projeção e não foi à coletiva para a imprensa.
Comercialização
Resta a questão da pronúncia do português da antiga metrópole, diferente da maneira mais aberta própria do "brasileiro", que dificultará sempre a comercialização dos filmes portugueses no Brasil, o mesmo não ocorra com os filmes brasileiros em Portugal, haja visto o sucesso das telenovelas da Globo. Ocorre praticamente o mesmo com os filmes canadenses, cuja pronúncia é fiel ao francês antigo, geralmente exibidos com legendas nas exibições na França. Talvez por influência das telenovelas, a pronúncia portuguesa nas antigas colonias é mais próxima do "brasileiro". Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Interanacional de Cinema
Seria catarse? Não importa, pois quem lê Dostoiévski está sempre em boa companhia
[caption id="attachment_13953" align="alignleft" width="300"] Fiódor Dostoiévski: retratista da alma humana[/caption]
"Crime e Castigo" é um dos melhores livros já escritos na história da literatura; é, sem dúvida, uma obra brilhante de Dostoiévski, que com uma narrativa única passa por vários temas, da angústia à filosofia da ideia pelo homem e não do homem pela ideia. Porém, a história de Raskólnikov, que mata para provar uma ideia, é sobretudo sobre redenção, que no romance é representada por Sônia, a jovem prostituta a quem Raskólnikov passa a amar.
A verdade é que "Crime e Castigo" é um retrato da alma humana. Não à toa, a obra de Dostoiévski é lida e relida desde o fim do século 19, quando foi publicada, sem nunca deixar de ser atual — e provavelmente nunca deixará, pois é este o grande mérito das obras brilhantes. E é por isso que não estranha o fato de "Crime e Castigo" estar entre os livros mais lidos por presos brasileiros que buscam abatimento de pena.
O levantamento foi feito pelo Ministério da Justiça nas penitenciárias de segurança máxima e mostra também livros como "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, e "Através do Espelho", de Jostein Gaarder. O ranking faz parte da "fiscalização" do Projeto Remição pela Leitura, que permite ao presidiário o abatimento de quatro dias de sua pena pela leitura de um livro, benefício alcançado com uma resenha escrita pelo preso.
Contudo, infelizmente, o detento não é livre para ler quantos livros quiser. Cada preso só pode participar do projeto até 12 vezes no ano, o que representa 48 dias a menos na prisão. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informa em sua coluna que, desde 2010, foram produzidas 6.004 resenhas nas penitenciárias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia.
Agora, por que escolher "Crime e Castigo"? Bem, podemos sempre falar também em catarse, não é mesmo? Mas isso não importa, na verdade. O importante é que, ao contrário de Raskólnikov, que tinha muita leitura, mas lia mal, os detentos que o escolherem estarão lendo bem. Ao menos, assim se espera.
Fiódor Dostoiévski: retratista da alma humana[/caption]
"Crime e Castigo" é um dos melhores livros já escritos na história da literatura; é, sem dúvida, uma obra brilhante de Dostoiévski, que com uma narrativa única passa por vários temas, da angústia à filosofia da ideia pelo homem e não do homem pela ideia. Porém, a história de Raskólnikov, que mata para provar uma ideia, é sobretudo sobre redenção, que no romance é representada por Sônia, a jovem prostituta a quem Raskólnikov passa a amar.
A verdade é que "Crime e Castigo" é um retrato da alma humana. Não à toa, a obra de Dostoiévski é lida e relida desde o fim do século 19, quando foi publicada, sem nunca deixar de ser atual — e provavelmente nunca deixará, pois é este o grande mérito das obras brilhantes. E é por isso que não estranha o fato de "Crime e Castigo" estar entre os livros mais lidos por presos brasileiros que buscam abatimento de pena.
O levantamento foi feito pelo Ministério da Justiça nas penitenciárias de segurança máxima e mostra também livros como "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, e "Através do Espelho", de Jostein Gaarder. O ranking faz parte da "fiscalização" do Projeto Remição pela Leitura, que permite ao presidiário o abatimento de quatro dias de sua pena pela leitura de um livro, benefício alcançado com uma resenha escrita pelo preso.
Contudo, infelizmente, o detento não é livre para ler quantos livros quiser. Cada preso só pode participar do projeto até 12 vezes no ano, o que representa 48 dias a menos na prisão. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informa em sua coluna que, desde 2010, foram produzidas 6.004 resenhas nas penitenciárias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia.
Agora, por que escolher "Crime e Castigo"? Bem, podemos sempre falar também em catarse, não é mesmo? Mas isso não importa, na verdade. O importante é que, ao contrário de Raskólnikov, que tinha muita leitura, mas lia mal, os detentos que o escolherem estarão lendo bem. Ao menos, assim se espera.