Por Do Leitor

O Diretor de Arte Digital e efeitos visuais, Fernando3D, faz um balanço sobre quais serão os rumos da indústria cinematográfica após a pandemia de covid-19.

por Sandra Araujo Hott*

O famoso “Poema em Linha Reta” nos diz que todos os conhecidos do poeta eram verdadeiros campeões em tudo, sem derrotas ou fracassos. O poeta, ao contrário dos demais, experimenta todos os erros, inseguranças e medos humanos. Caso ainda não conheça esse poema de Fernando Pessoa com pseudônimo de Álvaro de Campos, vale a pena ler.
O empreendedorismo é uma ilusão que cabe certinho nas nossas fantasias de sucesso: se eu trabalhar bem e muito, serei vencedor em tudo! Há aqui uma certeza embutida de que somos os mestres de nosso próprio destino e, embora isso não esteja de todo errado, esse futuro sonhado é sempre brilhante e glorioso.
Nosso futuro é resultante de variáveis complexas atuais e de eventos passados que certamente desenharam nosso presente. Além disso, algumas dessas decisões são tomadas e ainda modificadas por cada um. O equívoco está em acreditarmos na liberdade plena da decisão consciente sobre nossos atos, já que há em nós uma faceta inconsciente que direciona nossos desejos em cada ato. A parte mais equivocada e triste: não há nenhuma garantia de eficácia e do futuro tão sonhado se concretizar do jeito que idealizamos.
O poder ilusório de ter o futuro nas mãos traz amarrada a certeza de amarga responsabilidade, pois se o ouro não vier, será por falta de esforço da parte do sujeito. Sabemos que as condições sociais e culturais são desiguais e que a boa vontade não é suficiente e, ainda assim, a culpa sobreviverá! E remoeremos, horas a fio, onde e como poderia ter sido feito diferente, e ensaiaremos o que deveria, o que poderia, como, e o constante ‘e se’ martelando as lembranças.
A psicanálise aposta numa determinação inconsciente e que esse é transmitido através da linguagem para além da língua trazendo consigo a cultura. Esse nos precede e nele nos enlaçamos desde o início, através do olhar e voz maternos, dos toques e cuidados que precisamos para sobreviver dada a nossa inexorável vulnerabilidade. O laço nos garantirá a vida.
Os fatos passados que hoje nos afetam podem ser interpretados e ditos de alguma outra forma e a análise se presta à escuta que tornará possível esse percurso. Ressignificar o passado é de certo modo modificá-lo na realidade subjetiva que representará uma mudança atual abrindo novas possibilidades de escolha do futuro que podemos vir a ter.
“Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo?”, continua o poeta mencionado no início. Na vida nós encontramos alegrias, mas também sofrimentos e sempre fazemos o que nos é possível. É preciso lembrar que sempre será o nosso melhor, dadas as circunstâncias, dadas as possibilidades, dada a nossa história que a tudo, em cada um desses atos, foi determinante. Alguma generosidade no cuidado de saúde mental pode representar uma qualidade de vida ímpar e valiosa.
Longe dessa exigência de êxito, talvez possamos considerar apenas o que nos seja melhor possível sempre. Talvez, lacrar e brilhar acima de todos não seja uma escolha tão feliz assim. Talvez, aceitar uma errância onde eventualmente se acerta possa trazer novamente gente para habitar nosso mundo atualmente pleno de pretensos semideuses. Portanto, deixemo-nos fracassar um pouco!
*Psicanalista com formação e mestrado em psicologia pela UFRJ, Sandra Araujo Hott é psicanalista, professora e supervisora clínica. Sandra tem 25 anos de experiência clínica e mais de 20 anos como professora e supervisora.

A legislação permite enquetes eleitorais. Mas, iniciada a propaganda eleitoral, é terminantemente proibida a realização, sob pena de multa

Por Jacir Venturi*

Em 1832, Évariste Galois, atualmente reconhecido como um dos mais criativos matemáticos, envolveu-se perdidamente com a noiva de um atirador de pistola, bom de gatilho, que o desafiou a um duelo no raiar do dia seguinte, nas cercanias de Paris. Sabedor de que suas chances de sobrevida seriam diminutas, Galois passou a noite escrevendo cerca de 60 páginas de novas teorias matemáticas. Antes do amanhecer, o nosso incauto matemático escolheu uma de suas pistolas, dirigiu-se ao local adrede combinado. Seguindo o ritual da época, os dois oponentes distanciaram-se 25m e, ao se virarem, Galois recebeu o balaço fatal. Em nome da honra, uma grande perda para a ciência, pois Galois tinha apenas 20 anos de idade.
Semelhantemente, outro relato histórico é de um ateniense que foi até o chefe persa oferecendo a própria vida para pedir clemência a seus compatriotas presos. Quando quiseram forçá-lo a ajoelhar-se diante do chefe sátrapa, repeliu com altivez: "vim dar minha vida, não minha honra".
Se no passado já fora relativamente comum, aceito e a até valorizado o sacrifício extremo pela honra, homens e mulheres – palestrou Luc Ferry, filósofo francês e autor de obras bem vendidas – também deixaram muitas vezes a família em segundo plano, para arriscarem suas vidas por uma das três grandes causas: Deus, pátria ou ideologia.
Todavia, gigantescas transformações aconteceram, especialmente nos últimos 50 anos, e não apenas em relação às tecnologias, mas também aos costumes. Se de um lado o modelo tradicional e hierárquico – pai, mãe e filhos, correspondendo a 61% dos lares segundo o último Censo do IBGE em 2010 – é apenas uma das alternativas de construção familiar, mais do que nunca se valorizam os vínculos afetivos entre as pessoas que coabitam. Em uma palestra em Curitiba, Ferry foi enfático: "A família é a única entidade realmente sagrada na sociedade moderna, aquela pela qual todos nós aceitaríamos morrer, se preciso".
A família, em sua concepção contemporânea, continua sendo a base da ordem social e, segundo pesquisas internacionais, é o principal ingrediente de felicidade quando se confronta com poder, dinheiro, fama, política, ideologias, religião e honra. E vale o oposto, pois nada mais infelicita o ser humano do que pertencer a uma família desestruturada e uma convivência desarmoniosa ou conflituosa. Na vida, algumas negligências são até admissíveis, menos em relação à família, cujas consequências são, por vezes, irreparáveis. A vida profissional, apesar de suas elevadas exigências, pode muito bem ser ajustada a uma vida familiar equilibrada.
Em qualquer uma de suas configurações, à família é indispensável a presença do vínculo afetivo, da cooperação, do respeito, da solidariedade e de uma escala de valores compartilhada. Coabitar, morar juntos, é viver de fases de êxtases, alegrias, mas também de frustrações. Discordâncias são até salutares, mas uma relação familiar só será vitoriosa na medida do diálogo, da tolerância, das concessões mútuas. As maiores destruidoras de afetos em uma família são a indiferença e a falta de diálogo.Em uma de suas homilias de Páscoa, o Papa Francisco bem se manifesta ao discorrer que não existe família perfeita, mas sim um grupo de pessoas cheias de defeitos, e complementa: "sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir". Para Platão, a grandeza do ser humano está na virtude – aretê, em grego – e, como recompensa, é a prática das virtudes que propicia a felicidade genuína.
*Jacir J. Venturi é professor e diretor de escolas públicas e privadas por 50 anos, é pai de 3 filhos e avô de 3 netos, membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e Cidadão Honorário de Curitiba.

Por Florinda Cerdeira Pimentel*

“Olha o Corona Vírus! É verdade!”
Este ano, devido à pandemia, muitas coisas em nossa rotina ficaram diferentes: nosso jeito de trabalhar, estudar, comprar, comemorar as datas que para nós são importantes e enfim, chegamos ao mês de junho e o que muita gente temia aconteceu, chegaram as festas juninas e o coronavírus ainda está aí.
Mas e agora, o que fazer, cancelamos nossas festas? Deixamos de lado a nossa tradicional festa junina?
De jeito nenhum! Brasileiro que é brasileiro tem jeito para tudo.
Que tal buscarmos alternativas para celebrar com alegria as nossas tradições que estão fortemente enraizadas à nossa cultura popular?
Vamos então nos vestir de alegria, com cores, tranças e chapéu de palha, vamos dançar um forró, uma quadrilha, um arrasta pé, um xote, não sei, o ritmo você escolhe, mas cada um na sua casa, quem tem par que pegue o seu, quem não tem, se apegue a Santo Antônio, quem sabe ano que vem?
Vamos encher a casa com aromas de festa? Pipoca, quentão, cachorro quente, canjica e bolo de fubá, não precisa muita coisa, o importante é partilhar, dizem que cozinhar é um ato de amor, então cozinhe com sua família, faça um bolo com suas crianças, divirta-se.
Aproveite a alegria, junte toda a família e convide a criançada, vamos cortar bandeirinhas de todas as cores e pendurar nas janelas, sacadas e mostrar para a vizinhança que na sua casa a tradição não morreu.
Solte o som, arraste o sofá, cores, cheiros e muita alegria, sua festa junina será positivamente inesquecível.
E que tal as brincadeiras?
Separe algumas guloseimas ou pequenas surpresinhas fáceis de encontrar (não vale fazer aglomeração no mercado) e brinque de pescaria, tiro ao alvo, boca de palhaço e outros jogos tradicionais que possam divertir as crianças.
A sala da sua casa ou o seu quintal podem se transformar em arraiá e no final, você pode combinar com seus amigos e familiares distantes, uma reunião por uma plataforma on line para colocar o papo em dia e matar um pouco da saudade.
Então, mãos à obra!
O coronavírus pode ter transformado nosso jeito de festejar, mas nós podemos tirar proveito da situação e provar que somos capazes de driblar a tristeza e trazer para nossa família um pouco de alegria em tempos difíceis, pedindo à São João que esta pandemia vá embora logo e tomando todos os cuidados necessários para que ninguém venha a conhecer São Pedro antes da hora.
Viva Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro!
*Florinda Cerdeira Pimentel dá aulas de Linguagens Cultural e Corporal; e é professora do Curso de Licenciatura em Música do Centro Universitário Internacional Uninter.

Educadores, uni-vos pela defesa de um projeto civilizatório!!! Ou bye bye Brasil.

Especialistas do Clube de Autores selecionaram obras para quem quer entender mais sobre o tema da desigualdade racial

Tudo é muito triste. Mas esse afeto, mais que recorrente na história humana, pode fazer mal à vista

O atendimento a crianças com autismo se torna inviável, uma vez que, para elas a proximidade física é indispensável

Nunca se viveu nada parecido com a Covid-19 e, durante a vida produtiva dos meus pais, não houve nada semelhante

O que se tem visto, até então, é que a maior parte dos governos adotou a metáfora da guerra, ou seja, aquela da sobrevivência em detrimento dos demais estados
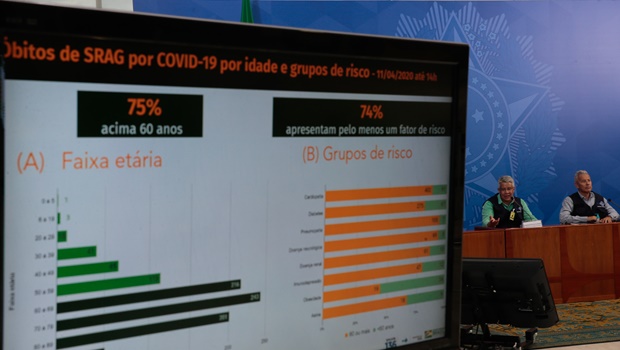
Atualmente, há cerca de 115 vacinas em desenvolvimento em diversos locais do mundo, cinco das quais já se encontram em estágio de testes em seres humanos

*Por Regiane Moreira
 Analisar a sociedade por meio do viés da representação feminina na história é um exercício interessante, pois se descortina uma série de modelos hegemônicos patriarcais e machistas ainda vigentes.
A humanidade possui uma dívida histórica com o gênero feminino e necessita de um esforço coletivo para mudar esse panorama, que vai além de trocar os protagonistas dos comerciais da bebida fermentada por cereais.
Seguindo o mesmo caminho de outros segmentos sociais, a representação da mulher nas artes não escapa ao modelo citado anteriormente. Nas artes visuais, estuda-se a produção artística pautada em nomes masculinos, raras as vezes que se trabalham nomes femininos do período clássico, por exemplo, denotando maior aparição a partir dos movimentos modernistas — contudo, muito aquém perante a participação masculina no mesmo segmento. Se analisarmos então a participação da mulher negra na arte, tocamos em outra ferida social que a humanidade dificilmente vai estancar.
Nas produções cinematográficas, a mulher foi e ainda é retratada pelo olhar masculino, que a representa como um apêndice de personagens homens, fadadas a forte erotização e exploração de atividades ditas como femininas. Basta verificarmos que até meados do século XX, a mulher desempenha no cinema apenas as funções de dona de casa, esposa, mãe, amante, além de ter sua representação fragilizada por enfatizar apenas seu perfil sensível.
Graças ao movimento feminista que surgiu na década de 60, questões levantadas desde os finais da década de 20 vieram à tona e começaram a expandir e, principalmente, questionar o lugar da mulher na sociedade em seus diversos âmbitos.
Partindo da premissa de que o cinema hollywoodiano influencia de modo substancial as representações sociais, percebe-se que a visão da mulher foi explorada dentro de um imaginário social que, muitas vezes, está tão familiarizada, que o público mal consegue perceber-se em modelos representacionais masculinos de visualidade. Segundo Laura Mulvey, teórica feminista britânica, a mulher é vista como um objeto de uma ordem “falocêntrica que é tida como um ser que tem a capacidade de manipulação através do visual e da sexualidade”. (MULVEY, 2008.)
Partindo da herança de Theda Bara (primeira “mulher fatal” representada ainda no cinema mudo) e de Marilyn Monroe (considerada um ótimo exemplo desse papel sexual da mulher no cinema), mostra-se a satisfação visual cinematográfica pautada nos olhos masculinos, focando em produções que exaltam os dramas e a visualidade do corpo com o intuito de prender o olhar do expectador, que se reconhece também nas telas — ou seja, uma retroalimentação da representação da realidade.
Mais recentemente, no fim dos anos 90, a figura feminina foi enfatizada por meio de personagens “efervescentes e rasas” que coexistiam para deliberar a imaginação dos escritores e diretores mais sensíveis que visam salvar os homens problemáticos e depressivos para encontrar um novo sentido da vida. Ou seja, a personagem não possui sua própria história, pois é construída apenas para desenvolvimento pessoal do personagem principal.
Saindo do campo das personagens e partindo para as produções cinematográficas, o protagonismo feminino fica aquém de qualquer possibilidade de igualdade de direitos.
Nomes como Alice Guy, em “La Fée Aux Choux”, de 1896 (pioneira no uso da cor, sons e efeitos especiais no cinema), Cléo de Verberena, em “O mistério do dominó preto”, de 1931 (primeira autora de um filme dirigido por uma mulher no Brasil) e Gilda Abreu (roteirista e diretora de um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional de todos os tempos, “O ébrio”, de 1946). (LUSVARGHI, 2019) soam como exemplos minoritários em pleno século 21.
Em se tratando de reconhecimento pela academia, a distância entre indicações femininas e masculinas ao prêmio mais importante do Oscar americano é abismal. Em 91 edições do prêmio, as mulheres receberam apenas cinco indicações, tendo ganhado somente em 2010, com Kathryn Bigelow por “Guerra ao Terror”, que recebeu também o prêmio “Melhor Filme” — deixando “Avatar” para trás naquele ano.
Obras como “Women and Film:Both Sides of the Camera” de 1983, de E. Ann Kaplan, assim como “Mulheres atrás das câmeras”, de Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Siva de 2019, procuram destacar a necessidade de se refletir sobre o protagonismo feminino diante e atrás das câmeras. Contudo, ainda temos um longo caminho pela frente.
Analisar a sociedade por meio do viés da representação feminina na história é um exercício interessante, pois se descortina uma série de modelos hegemônicos patriarcais e machistas ainda vigentes.
A humanidade possui uma dívida histórica com o gênero feminino e necessita de um esforço coletivo para mudar esse panorama, que vai além de trocar os protagonistas dos comerciais da bebida fermentada por cereais.
Seguindo o mesmo caminho de outros segmentos sociais, a representação da mulher nas artes não escapa ao modelo citado anteriormente. Nas artes visuais, estuda-se a produção artística pautada em nomes masculinos, raras as vezes que se trabalham nomes femininos do período clássico, por exemplo, denotando maior aparição a partir dos movimentos modernistas — contudo, muito aquém perante a participação masculina no mesmo segmento. Se analisarmos então a participação da mulher negra na arte, tocamos em outra ferida social que a humanidade dificilmente vai estancar.
Nas produções cinematográficas, a mulher foi e ainda é retratada pelo olhar masculino, que a representa como um apêndice de personagens homens, fadadas a forte erotização e exploração de atividades ditas como femininas. Basta verificarmos que até meados do século XX, a mulher desempenha no cinema apenas as funções de dona de casa, esposa, mãe, amante, além de ter sua representação fragilizada por enfatizar apenas seu perfil sensível.
Graças ao movimento feminista que surgiu na década de 60, questões levantadas desde os finais da década de 20 vieram à tona e começaram a expandir e, principalmente, questionar o lugar da mulher na sociedade em seus diversos âmbitos.
Partindo da premissa de que o cinema hollywoodiano influencia de modo substancial as representações sociais, percebe-se que a visão da mulher foi explorada dentro de um imaginário social que, muitas vezes, está tão familiarizada, que o público mal consegue perceber-se em modelos representacionais masculinos de visualidade. Segundo Laura Mulvey, teórica feminista britânica, a mulher é vista como um objeto de uma ordem “falocêntrica que é tida como um ser que tem a capacidade de manipulação através do visual e da sexualidade”. (MULVEY, 2008.)
Partindo da herança de Theda Bara (primeira “mulher fatal” representada ainda no cinema mudo) e de Marilyn Monroe (considerada um ótimo exemplo desse papel sexual da mulher no cinema), mostra-se a satisfação visual cinematográfica pautada nos olhos masculinos, focando em produções que exaltam os dramas e a visualidade do corpo com o intuito de prender o olhar do expectador, que se reconhece também nas telas — ou seja, uma retroalimentação da representação da realidade.
Mais recentemente, no fim dos anos 90, a figura feminina foi enfatizada por meio de personagens “efervescentes e rasas” que coexistiam para deliberar a imaginação dos escritores e diretores mais sensíveis que visam salvar os homens problemáticos e depressivos para encontrar um novo sentido da vida. Ou seja, a personagem não possui sua própria história, pois é construída apenas para desenvolvimento pessoal do personagem principal.
Saindo do campo das personagens e partindo para as produções cinematográficas, o protagonismo feminino fica aquém de qualquer possibilidade de igualdade de direitos.
Nomes como Alice Guy, em “La Fée Aux Choux”, de 1896 (pioneira no uso da cor, sons e efeitos especiais no cinema), Cléo de Verberena, em “O mistério do dominó preto”, de 1931 (primeira autora de um filme dirigido por uma mulher no Brasil) e Gilda Abreu (roteirista e diretora de um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional de todos os tempos, “O ébrio”, de 1946). (LUSVARGHI, 2019) soam como exemplos minoritários em pleno século 21.
Em se tratando de reconhecimento pela academia, a distância entre indicações femininas e masculinas ao prêmio mais importante do Oscar americano é abismal. Em 91 edições do prêmio, as mulheres receberam apenas cinco indicações, tendo ganhado somente em 2010, com Kathryn Bigelow por “Guerra ao Terror”, que recebeu também o prêmio “Melhor Filme” — deixando “Avatar” para trás naquele ano.
Obras como “Women and Film:Both Sides of the Camera” de 1983, de E. Ann Kaplan, assim como “Mulheres atrás das câmeras”, de Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Siva de 2019, procuram destacar a necessidade de se refletir sobre o protagonismo feminino diante e atrás das câmeras. Contudo, ainda temos um longo caminho pela frente.
 *Regiane Moreira é professora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.
*Regiane Moreira é professora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.
Por Paulo Stucchi*
[caption id="attachment_247548" align="alignnone" width="620"] Paulo Stucchi | Foto: Divulgação[/caption]
Recordo-me de um professor – daqueles que marcam a vida da gente numa época em que queremos abraçar o mundo, mas não temos braços e pernas longos o suficiente para tanto – que gostava de instigar os alunos com a seguinte questão: “Vocês acham que o jornalista lida com a verdade?”.
Claro que, imaturos, respondíamos que sim. Então, ele nos corrigia, com um sorriso sádico: “Não! Jornalista lida com o verossímil. Mesmo porque nunca há um ponto de vista sobre um fato”.
Isso me marcou de tal modo que, quando chegara minha vez de lecionar, lançava aos meus alunos a isca do mesmo questionamento.
De fato, o jornalista é um cronista que seleciona um número determinado de pontos de vista para criar a receita de sua narrativa. Antes do ponto final, adiciona o seu próprio ponto de vista e critérios ao tema e, por fim, entrega ao editor para que ele também acrescente o ponto de vista da linha editorial do veículo. Está preparada a linha de montagem de um conteúdo jornalístico.
Não, o jornalista não é falso, tampouco um mentiroso! Contudo, como dizia meu professor, ele empresta o ponto de vista dos outros para montar sua história, recorrendo a fontes, pesquisas, press releases, livros e acervos infindáveis. Como resultado, prende-se a uma versão de um fato, a qual deve ser contada com detalhes que enobreçam a sua função maior: informar e, com isso, fermentar o senso crítico.
Ora, e não é assim que também trabalha o escritor? Emprestamos (se não, surrupiamos) pontos de vistas, estilos, fisionomias e histórias; misturamos tudo, adicionamos uma pitada de experiência pessoal e formatamos na forma de ficção. A diferença é que nosso compromisso com o verossímil é menor. Ao contrário do jornalista, navegamos pelo rio da imaginação, deixamo-nos levar pelas correntezas de vidas fictícias nascidas a partir do real, e apresentamos aquilo que, julgamos, o leitor deseja ler - e não necessariamente o que ele “precisa”, como no caso do jornalismo de boa qualidade.
Nos dias atuais, vale mais uma reflexão: sem o jornalista (e o jornalismo) não há senso crítico; calam-se histórias que precisam ser contadas; cegam-se pontos de vista que emprestam lentes de aumento a míopes; engessa-se a linda dinâmica da trajetória pelo verossímil, da arte de contar histórias de pessoas de carne e osso, de mudar vidas, de talhar destinos.
Sem jornalistas, assim como na ausência de escritores, ficamos órfãos de alguém que nos narre o mundo – como ele é, ou, mais belo, como gostaríamos que fosse.
*Paulo Stucchi é jornalista e psicanalista. Formou-se em Comunicação Social pela Unesp Bauru. Ele é especialista em Jornalismo Institucional pela PUC-SP e Mestre em Processos Comunicacionais, com ênfase em Comunicação Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como jornalista em revistas e jornais impressos, tornando-se editor, por treze anos, de uma publicação segmentada para o setor gráfico. Divide seu tempo entre o trabalho de assessor de comunicação e sua paixão pela literatura, principalmente, romances históricos. É autor de A Filha do Reich, Menina – Mitacuña, O Triste Amor de Augusto Ramonet, Natal sem Mamãe e A Fonte.
Paulo Stucchi | Foto: Divulgação[/caption]
Recordo-me de um professor – daqueles que marcam a vida da gente numa época em que queremos abraçar o mundo, mas não temos braços e pernas longos o suficiente para tanto – que gostava de instigar os alunos com a seguinte questão: “Vocês acham que o jornalista lida com a verdade?”.
Claro que, imaturos, respondíamos que sim. Então, ele nos corrigia, com um sorriso sádico: “Não! Jornalista lida com o verossímil. Mesmo porque nunca há um ponto de vista sobre um fato”.
Isso me marcou de tal modo que, quando chegara minha vez de lecionar, lançava aos meus alunos a isca do mesmo questionamento.
De fato, o jornalista é um cronista que seleciona um número determinado de pontos de vista para criar a receita de sua narrativa. Antes do ponto final, adiciona o seu próprio ponto de vista e critérios ao tema e, por fim, entrega ao editor para que ele também acrescente o ponto de vista da linha editorial do veículo. Está preparada a linha de montagem de um conteúdo jornalístico.
Não, o jornalista não é falso, tampouco um mentiroso! Contudo, como dizia meu professor, ele empresta o ponto de vista dos outros para montar sua história, recorrendo a fontes, pesquisas, press releases, livros e acervos infindáveis. Como resultado, prende-se a uma versão de um fato, a qual deve ser contada com detalhes que enobreçam a sua função maior: informar e, com isso, fermentar o senso crítico.
Ora, e não é assim que também trabalha o escritor? Emprestamos (se não, surrupiamos) pontos de vistas, estilos, fisionomias e histórias; misturamos tudo, adicionamos uma pitada de experiência pessoal e formatamos na forma de ficção. A diferença é que nosso compromisso com o verossímil é menor. Ao contrário do jornalista, navegamos pelo rio da imaginação, deixamo-nos levar pelas correntezas de vidas fictícias nascidas a partir do real, e apresentamos aquilo que, julgamos, o leitor deseja ler - e não necessariamente o que ele “precisa”, como no caso do jornalismo de boa qualidade.
Nos dias atuais, vale mais uma reflexão: sem o jornalista (e o jornalismo) não há senso crítico; calam-se histórias que precisam ser contadas; cegam-se pontos de vista que emprestam lentes de aumento a míopes; engessa-se a linda dinâmica da trajetória pelo verossímil, da arte de contar histórias de pessoas de carne e osso, de mudar vidas, de talhar destinos.
Sem jornalistas, assim como na ausência de escritores, ficamos órfãos de alguém que nos narre o mundo – como ele é, ou, mais belo, como gostaríamos que fosse.
*Paulo Stucchi é jornalista e psicanalista. Formou-se em Comunicação Social pela Unesp Bauru. Ele é especialista em Jornalismo Institucional pela PUC-SP e Mestre em Processos Comunicacionais, com ênfase em Comunicação Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como jornalista em revistas e jornais impressos, tornando-se editor, por treze anos, de uma publicação segmentada para o setor gráfico. Divide seu tempo entre o trabalho de assessor de comunicação e sua paixão pela literatura, principalmente, romances históricos. É autor de A Filha do Reich, Menina – Mitacuña, O Triste Amor de Augusto Ramonet, Natal sem Mamãe e A Fonte.
Por Cláudia Cobalchini*
 Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Rotterdam)[/caption]
Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Rotterdam)[/caption]


