Opção cultural
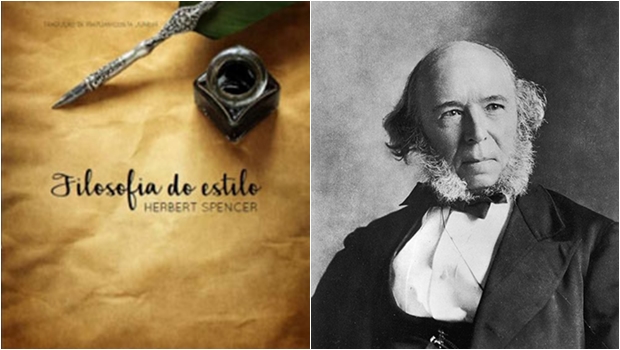
Com tradução de Irapuan Costa Junior, publicada pela Cânone Editorial em 2016, o público brasileiro tem agora acesso a uma das reflexões mais importantes sobre a linguagem, elaborada pelo filósofo Herbert Spencer

Em 19 de janeiro de 2017, comemora-se cem anos do nascimento de Carson McCullers , a escritora estadunidense que retratou a solidão humana com tragicidade, compaixão e senso de humor

Com extrema violência, filme fez críticos dizerem que não levariam seus filhos
[caption id="attachment_87443" align="aligncenter" width="620"] Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.
"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.
[relacionadas artigos="87301, 86888"]
O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.
Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.
O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.
Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.
Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.
O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.
Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.
"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.
[relacionadas artigos="87301, 86888"]
O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.
Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.
O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.
Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.
Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.
O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.
Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Filme de Marcelo Gomes não encontrou o desejado ouro no Festival de Berlim, mas deu uma contribuição importante ao resgatar a figura do negro na história brasileira
[caption id="attachment_85634" align="aligncenter" width="620"] "Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.
[relacionadas artigos="87301, 87225"]
Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.
Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.
Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.
Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:
[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
"Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.
[relacionadas artigos="87301, 87225"]
Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.
Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.
Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.
Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:
[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino, seja do furor diabólico
[caption id="attachment_87361" align="alignleft" width="620"] Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]
Philippe Sartin
Especial para o Jornal Opção
Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)
1.
A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.
[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"]
Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]
Philippe Sartin
Especial para o Jornal Opção
Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)
1.
A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.
[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"] "Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]
Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.
Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.
Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.
Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.
2.
O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.
[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"]
"Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]
Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.
Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.
Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.
Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.
2.
O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.
[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"] "O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]
A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.
Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.
[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"]
"O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]
A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.
Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.
[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"] A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]
O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.
Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.
3.
Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.
[relacionadas artigos=" 99959 "]
Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.
Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.
Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)
A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]
O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.
Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.
3.
Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.
[relacionadas artigos=" 99959 "]
Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.
Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.
Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)

Teorias e levantamentos do Ph.D. nos estudos do sistema e da complexidade John Casti resultaram em um livro ao mesmo tempo esclarecedor e aterrorizante, quase paranoico
[caption id="attachment_87315" align="aligncenter" width="620"] A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.
Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.
Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.
Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.
Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?
Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.
Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.
Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.
Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:
“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.
Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.
Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.
Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?
Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”
E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.
Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.
É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.
Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.
[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"]
A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]
Marcos Nunes Carreiro
Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.
Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.
Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.
Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.
Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?
Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.
Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.
Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.
Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:
“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.
Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.
Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.
Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?
Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”
E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.
Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.
É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.
Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.
[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"] Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]
O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade
“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.
O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.
Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.
Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:
1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.
2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.
3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.
4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.
5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.
6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.
7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.
Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos
[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"]
Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]
O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade
“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.
O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.
Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.
Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:
1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.
2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.
3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.
4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.
5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.
6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.
7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.
Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos
[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"] O matemático John Casti faz um apanhado acerca dos níveis de complexidade que podem gerar crises na sociedade atual[/caption]
John Casti seleciona e desenvolve 11 casos para explicar sua teoria do desnível de complexidade que pode gerar o fim da humanidade a curto e longo prazos. São eles: um apagão na internet; a falência do sistema global de abastecimento de alimentos; um ataque por pulso eletromagnético que destrói todos os aparelhos eletrônicos; o fracasso da globalização; a destruição provocada pela criação de partículas exóticas; a desestabilização do panorama nuclear; o esgotamento das reservas de petróleo; uma pandemia global; pane no sistema elétrico e no suprimento de água potável; robôs inteligentes que dominam a humanidade; e uma crise no sistema financeiro global.
O escritor explica que procurou evitar os tipos mais “corriqueiros” de eventos extremos, como os deliberadamente “naturais”, caso de vulcões, colisões de asteroides ou até mesmo o aquecimento global. E esses possíveis acontecimentos são tratados sob três aspectos: duração, timing e possibilidade. A duração se refere exatamente ao período levado por um evento para atingir o mundo. Alguns tipos de acontecimento levam tempo para provocar caos. Uma praga, por exemplo, não infecta todo o mundo de uma hora para outra, mesmo na atualidade em que tudo corre a uma velocidade a jato.
Por outro lado, o timing remete à quando o desastre pode ocorrer, trata da existência ou não de condições prévias que relegam o evento a algum momento impreciso em um futuro distante — podendo ou não acontecer — ou se ele pode se manifestar a qualquer momento. As respostas? Bem, elas podem variar de “imediatamente” a “nunca”. Por exemplo, uma extinção por nanorobôs auto multiplicáveis. A tecnologia não chegou lá. Mas não existe ainda, o que deverá acontecer em uma década, no máximo. Agora, uma invasão alienígena hostil pode acontecer a qualquer momento, assim como pode nunca ocorrer. Não existe a mínima evidência que conduza a essa linha de pensamento.
Por fim, a probabilidade. Não se trata de dizer que aquele evento X acontecerá dentro de um determinado de tempo, mas se ocorrerá algum dia. Qual a probabilidade de a Terra ser destruída por alienígenas? Não há registros que apontem para uma previsão segura. Já a erupção de um supervulcão como o Toba pode acontecer a qualquer momento. Pode-se prever um evento assim com base nos estudos e análises de situações parecidas ocorridas anteriormente. Ou seja, há um histórico. Casos semelhantes. Casti subdivide a probabilidade em três: praticamente certo; bem possível; improvável; muito remoto; e impossível dizer, caso dos alienígenas.
Apagão digital
Falhas na base da internet já mostraram que ela pode ser derrubada ou manipulada por pessoas com a habilidade necessária para tal. Em 2008, o consultor de segurança de computadores Dan Kaminsky descobriu que poderia induzir o sistema DNS (Sistema de Domínio de Nomes na sigla em inglês, aquele que transforma os endereços digitais como conhecemos, como jornalopcao.com.br, em endereços IP de 12 dígitos) da internet. Ou seja, ele achou uma brecha no sistema que determina o tráfego de um servidor a outro. Uma falha assim utilizada por um hacker inteligente pode dar acesso a quase todos os computadores da rede. Ele poderia hipnotizar toda a internet e reter qualquer dado a respeito de qualquer pessoa.
Kaminsky não limpou algumas contas bancárias e fugiu. Ele alertou as autoridades e as convocou para encontrar uma solução. Mas o simples vislumbre do que ele poderia ter feito mostra o quão frágil é o sistema mundial atual. Desde e-banking, email, e-books, até o fornecimento de água, energia elétrica, comida, ar, transporte e comunicação, todos os elementos da vida moderna no mundo industrializado de hoje dependem das funções de comunicação fornecidas pela internet. Isto é, se ela parar de funcionar, o mesmo acontece com o estilo de vida do mundo. O que pode ser feito.
Exemplo: seja por cartão de crédito ou transferência bancária, o dinheiro viaja pela internet. Em 2007, a quantidade de dinheiro que circulava pelo sistema era de quase 4 trilhões de dólares por dia. Atualmente, esse número deve chegar à casa dos 10 trilhões. O que aconteceria se a internet deixasse de funcionar essas transações tivessem que ser feitas por fax, telefone ou até mesmo pelo correio. No passado era assim. A vida viraria um caos.
Casti ressalta que o sistema atual utiliza uma arquitetura da década de 1970, época em que a internet foi concebida, o que provoca um grande desnível de complexidade entre a estrutura e seu uso atualmente. Quais as falhas? A internet gera buracos negros de informação. Por isso, às vezes, alguns sites não carregam na primeira tentativa. O leitor já deve ter vivenciado algo do tipo. A estimativa é que dois milhões de falhas desse tipo sejam geradas todos os dias e poderá engolir toda a internet um dia. Fora as falhas físicas. Os cabos de fibra ótica — para ficar apenas em um exemplo — cruzam o mundo pelo fundo do mar. Não são poucos os exemplos de países que ficaram às cegas devido a quebra desses cabos por terremotos ou outras situações.
Quando vamos comer?
O leitor sabia que mais de 4 milhões de pessoas ficaram pobres desde junho de 2011 devido ao aumento do preço dos alimentos? Ou que devido à diminuição no suprimento de água, a Arábia Saudita não poderá mais produzir trigo em breve? Ou que, de acordo com estudos realizados pela Global Phosphorus Research Initiative, nas próximas duas ou três décadas não haverá fósforo suficiente para atender às necessidades de produção de alimentos?
Essas informações são trazidas por Casti em seu livro — publicado em 2012 e, embora possa estar desatualizado, traz dados recentes. Mas a última dessa pequena lista trata das superdoenças que estão atacando as plantações do mundo. Ora, não estamos vivendo no Brasil algo assim? O que o leitor me diz da lagarta Helicoverpa armigera, que já causou R$ 600 milhões de prejuízo apenas em Goiás? Ela come de tudo e é resistente a qualquer tipo de inseticida conhecido no Brasil. Apenas inseticidas mais fortes poderão controlar sua reprodução, mas podem também causar outros danos, como já dizem especialistas.
Fora isso, há outros fatores. A industrialização da agricultura, modificações genéticas, inseticidas, monocultura, instabilidade climática, crescimento da população, etc. Segundo Casti, esses são fatores que criam a base para um colapso, via evento X, da rede de produção e distribuição de alimentos no mundo. O autor cita alguns exemplos que podem afetar muito a produção de alimentos nos próximos anos: escassez de água (a Arábia Saudita, país autossuficiente na produção de trigo por mais de 20 anos pode ter o cultivo ameaçado devido à falta de água); fenômenos climáticos (ressalte-se o aquecimento global); alta no preço do petróleo; crescimento populacional; e grãos para combustível (aqui, Casti cita o fato de que os Estados Unidos viabilizam grande parte de sua produção de milho para a produção de etanol, assim como no Brasil).
“O mundo está enfrentando, neste momento, uma confluência de escassez crescente em três elementos fundamentais para a continuação da vida humana neste planeta: água, energia e alimentos. A combinação resultante é maior do que a soma das partes, podendo acabar em desastre até 2030”, conclui Casti.
O dia em que os eletrônicos pararam
O PEM (pulso eletromagnético) é uma onda de choque produzida por uma explosão de alta energia na atmosfera. Essa onda cria uma sobrecarga momentânea de corrente elétrica nos circuitos de aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs, e automóveis desprotegidos. O pulso queima qualquer aparelho eletrônico ao alcance, independente de fiação.
Já houve um. Em 1962, no Pacífico Sul, a operação Starfish Prime explodiu um PEM de 1,4 megaton a uma altitude de 400 quilômetros. A área era remota, mas o pulso de energia eletromagnética resultante foi sentido em Honolulu, no Havaí, a mais de mil quilômetros do epicentro. Mesmo assim, queimou lâmpadas de iluminação pública e danificou retransmissores de rádio. E isso com uma explosão razoavelmente pequena feita há mais de 50 anos. Um ataque desse tipo atualmente poderia gerar danos talvez irreversíveis no mundo tecnológico de hoje. Computadores e outros aparelhos com microcircuitos; todos os condutores e linhas de transmissão de energia elétrica; segurança de bancos, elevadores e equipamentos hospitalares; carros, aviões, trens, barcos, etc. Tudo acabaria em questão de segundos.
“No caso de um ataque de PEM, o tempo de recuperação é de muitos meses, ou mesmo anos. Ao final da primeira semana, o pânico se instalaria. As ruas seriam tomadas por saqueadores, policiais e militares abandonariam seus postos para proteger suas famílias, não haveria ninguém para combater os incêndios e, de um modo geral, a sociedade logo voltaria a um estilo de vida semelhante àquele imaginado após um conflito nuclear”, embora seja um cenário completamente inofensivo à saúde humana diretamente.
Uma nova desordem
As previsões de Casti são quase que uma estratégia voltada para os Estados Unidos no caso de um evento X ocorrer. Não injusto, pois, além de ser estadunidense, seu país é a maior potencial econômica mundial e se um dia a globalização, nos moldes de hoje, ruir, os Estados Unidos estarão no centro do desastre. Assim, o matemático separa alguns cenários visando essa crise:
— Colapso: Após o fracasso das reações oficiais a uma série de catástrofes como o furacão Katrina, o estado de ânimo da população americana é afetado de forma negativa. As pessoas começam a ver o governo como seu maior inimigo. Essa mudança de psicologia coletiva gera um descompasso de complexidade entre o governo e os cidadãos, situação muito parecida com a que aconteceu recentemente nos países árabes do norte da África, resultando na implosão dos Estados Unidos devido a divisões internas.
— Separação amigável: em outras palavras, os Estados Unidos deixam ser unidos devido à incapacidade de arcar com o custo de um grande império, assim como aconteceu com a União Soviética.
— Governança global: neste cenário, os Estados Unidos perdem sua importância geopolítica enquanto são assimilados por uma comunidade global maior. Em suma, o mundo se une para formar as verdadeiras “Nações Unidas”.
— Conquista global: este seria o caminho mais pesado, em que não só os Estados Unidos, como o restante do mundo, são subjugados a uma ditadura global. Um ditador assume o poder à força, provavelmente utilizando armas baseadas no espaço, e bloqueia o mundo.
Física mortífera
Aqui, o medo está no avanço das pesquisas auxiliado pela tecnologia de ponta da qual se dispõe atualmente. Basicamente, as preocupações estão sobre o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN), que faz pesquisas com o LHC, o grande colisor de hádrons na tentativa de recriar o Big Bang em laboratório.
Os temores: a criação de buracos negros descontrolados (a partir das experiências, milhões de buracos negros microscópios seriam criados, persistiriam e de algum modo se aglutinariam em uma massa gravitacional que consumiria outras formas de matéria e acabaria engolindo o planeta); strangelets (novas combinações de quarks — partículas menores que formam os prótons — capaz de transformam tudo o que toca em partículas semelhantes); monopolos magnéticos (há a hipótese de que as colisões de alta energia como as que acontecem no LHC possam criar monopolos — norte ou sul — desencadeando uma reação em cadeia que destruiria o equilíbrio magnético do planeta); e um colapso do vácuo quântico (a teoria é de que o vácuo existente entre as partículas está repleto de energia. Se os experimentos do LHC anular as forças que estabilizam esse vácuo, a liberação dessa energia iria causar uma explosão que varreria o universo em questão de segundos).
A grande explosão
O panorama nuclear do mundo atual é um caso clássico de sobrecarga de complexidade em ação. Segundo Casti, além de ser difícil definir o número de países participantes, o cenário inclui de tudo: bombas “perdidas” da antiga União Soviética; cientistas insatisfeitos que passaram para o “lado negro da força”; tentativas constantes dos hackers de invadir sistemas de controle de armas; principiantes, como grupos terroristas e países fora da lei, interessados em adquirir bombas atômicas no mercado negro; ogivas possivelmente instáveis, mesmo nos arsenais oficiais.
Tudo isso poderia resultar em uma reação em cadeia que estouraria o planeta com uma série de “fogos de artifício”. “A verdade é que o cenário nuclear atual é um exemplo típico de como o excesso de complexidade pode desestabilizar a estrutura global de poder — da noite para o dia”. E quais seriam as consequências? Bem, citam-se sete: 1) as explosões nucleares lançam imediatamente poeira, radioatividade e gases na atmosfera. 2) as explosões iniciam incêndios, queimando cidades, florestas, combustíveis; 3) devido aos incêndios, nuvens de fumaça e gases sobem para a troposfera e logo são espalhadas por todo o planeta; 4) fumaça e poeira envolvem o planeta por semanas; 5) devido a isso, a Terra vive dias de escuridão; 6) a temperatura cai drasticamente na superfície terrestre, o que gera um inverno nuclear; e 7) quando a poeira baixa, a superfície é exposta a uma forte radiação ultravioleta, resultante da destruição parcial da camada de ozônio.
E isso poderia ocorrer, desde uma guerra aberta e intencional até acidentes.
Esgotamento
De acordo com um artigo da “Oil and Gas Journal”, no final de 2005 as reservas mundiais de petróleo eram de 1,2 trilhão de barris, dos quais cerca de 60% se localizavam em cinco países: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. No outro lado da balança, o consumo totalizava 84 milhões de barris por dia, com 47% nos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Atualmente, o consumo cresce a uma taxa de 2% ao ano. Assim, um bilhão de barris dura, então, aproximadamente doze dias.
Fazendo os cálculos, isso significa que 30 bilhões de barris por ano. Portanto, mesmo que o consumo se estabilizasse na taxa atual, 1,2 trilhão de barris na reserva acabaria em 40 anos. Esse é o limite máximo. Porém, haveria uma crise muito antes disso. Casti supõe quatro cenários. Em um deles há uma coalizão por parte dos países que produzem.
“Maio de 2014: o preço do petróleo ultrapassou os 100 dólares por barril, uma vez que o Irã e a Venezuela cortaram as exportações de mais de 700 mil barris para unir os países desenvolvidos do Ocidente pela imposição de sanções. Nesse meio-tempo, as forças armadas dos Estados Unidos estão se preparando para deslocar toda a sua frota do Pacífico para a região do Golfo Pérsico, a fim de combater ameaças aos campos petrolíferos do Oriente Médio”.
Já é possível imaginar o fim. Guerra nuclear e morte de todos, direta ou indiretamente.
É de doer
Aqui, Casti fala sobre uma pandemia de doenças infecciosas no padrão da Peste Bubônica ou da Gripe Espanhola, que aterrorizaram o mundo nos séculos XIX e XX, matando milhões de pessoas. E esse cenário não é necessariamente baseado na ação de terroristas, pois a natureza é perfeitamente capaz de lançar uma grande diversidade de ameaças à existência humana. Epidemias e pandemias de uma variedade estonteante têm surgido regularmente ao longo da história e devem reaparecer sob várias formas. Assim, a pergunta é: a humanidade estará preparada para enfrentar uma grande pandemia quando ela ocorrer?
No escuro e com sede
“A eletricidade e a água são fluidos, metaforicamente no primeiro caso, literalmente no segundo. Ambas são fundamentais para sustentar a vida como conhecemos. Para isso, precisam ser transportadas de onde são abundantes para onde são basicamente locais, não globais”. Uma pane na rede elétrica, por exemplo, é um problema restrito a certa região geográfica e jamais serão realmente globais, a não ser sob um ataque de PEM.
O que já não acontece com a distribuição de água, uma questão decididamente global. “Afetará todo mundo, em toda parte. Mas nem todos serão afetados ao mesmo tempo”. Na verdade, pode-se dizer que a catástrofe já ocorreu. “Só que a maioria dos habitantes do mundo desenvolvido não tem consciência disso porque não foi afetada… ainda”. Assim, “uma pane na rede elétrica ou no suprimento de água potável seria catastrófica, com um enorme impacto no modo de vida de literalmente milhões, se não bilhões, de pessoas. Eis por que as incluí neste livro”.
Tecnologia fora de controle
Enfim, caro leitor, chega-se no paraíso do pensamento futurista: quando robôs inteligentes tomaram o mundo exterminando a raça humana. Há milhares de filmes e livros antecipando essa realidade. E isso poderá ocorrer, por que não? Os futuristas radicais afirmam que quando o ser humano conseguir realizar a fusão entre a mente humana e as máquinas, a humanidade poderá superar muitos problemas, como fome, doenças e recursos finitos, como o petróleo e água. Porém, essa capacidade poderá fazer com o ser humano também abra possibilidades inéditas de manifestação dos impulsos destrutivos. Assim, é possível que as máquinas se voltem contra os humanos, exterminando-os.
A grande crise
Eis que chegamos ao último caso analisado por Casti. E trata de uma grande crise financeira tendo por epicentro os Estados Unidos. Segundo o matemático, o mundo está às portas de uma crise muito mais séria que a vivida na crise de 2008. E o motor que está virando de ponta-cabeça os mundos financeiro e econômico é a rápida aproximação de um período de deflação maciça — ou, talvez ainda pior, hiperinflação. “Assim, qualquer que seja o quadro que emerja no longo prazo, (daqui a dez a vinte anos), o horizonte imediato na fase criativa é que colheremos os benefícios do que está por vir no balanço do século atual”.
O matemático John Casti faz um apanhado acerca dos níveis de complexidade que podem gerar crises na sociedade atual[/caption]
John Casti seleciona e desenvolve 11 casos para explicar sua teoria do desnível de complexidade que pode gerar o fim da humanidade a curto e longo prazos. São eles: um apagão na internet; a falência do sistema global de abastecimento de alimentos; um ataque por pulso eletromagnético que destrói todos os aparelhos eletrônicos; o fracasso da globalização; a destruição provocada pela criação de partículas exóticas; a desestabilização do panorama nuclear; o esgotamento das reservas de petróleo; uma pandemia global; pane no sistema elétrico e no suprimento de água potável; robôs inteligentes que dominam a humanidade; e uma crise no sistema financeiro global.
O escritor explica que procurou evitar os tipos mais “corriqueiros” de eventos extremos, como os deliberadamente “naturais”, caso de vulcões, colisões de asteroides ou até mesmo o aquecimento global. E esses possíveis acontecimentos são tratados sob três aspectos: duração, timing e possibilidade. A duração se refere exatamente ao período levado por um evento para atingir o mundo. Alguns tipos de acontecimento levam tempo para provocar caos. Uma praga, por exemplo, não infecta todo o mundo de uma hora para outra, mesmo na atualidade em que tudo corre a uma velocidade a jato.
Por outro lado, o timing remete à quando o desastre pode ocorrer, trata da existência ou não de condições prévias que relegam o evento a algum momento impreciso em um futuro distante — podendo ou não acontecer — ou se ele pode se manifestar a qualquer momento. As respostas? Bem, elas podem variar de “imediatamente” a “nunca”. Por exemplo, uma extinção por nanorobôs auto multiplicáveis. A tecnologia não chegou lá. Mas não existe ainda, o que deverá acontecer em uma década, no máximo. Agora, uma invasão alienígena hostil pode acontecer a qualquer momento, assim como pode nunca ocorrer. Não existe a mínima evidência que conduza a essa linha de pensamento.
Por fim, a probabilidade. Não se trata de dizer que aquele evento X acontecerá dentro de um determinado de tempo, mas se ocorrerá algum dia. Qual a probabilidade de a Terra ser destruída por alienígenas? Não há registros que apontem para uma previsão segura. Já a erupção de um supervulcão como o Toba pode acontecer a qualquer momento. Pode-se prever um evento assim com base nos estudos e análises de situações parecidas ocorridas anteriormente. Ou seja, há um histórico. Casos semelhantes. Casti subdivide a probabilidade em três: praticamente certo; bem possível; improvável; muito remoto; e impossível dizer, caso dos alienígenas.
Apagão digital
Falhas na base da internet já mostraram que ela pode ser derrubada ou manipulada por pessoas com a habilidade necessária para tal. Em 2008, o consultor de segurança de computadores Dan Kaminsky descobriu que poderia induzir o sistema DNS (Sistema de Domínio de Nomes na sigla em inglês, aquele que transforma os endereços digitais como conhecemos, como jornalopcao.com.br, em endereços IP de 12 dígitos) da internet. Ou seja, ele achou uma brecha no sistema que determina o tráfego de um servidor a outro. Uma falha assim utilizada por um hacker inteligente pode dar acesso a quase todos os computadores da rede. Ele poderia hipnotizar toda a internet e reter qualquer dado a respeito de qualquer pessoa.
Kaminsky não limpou algumas contas bancárias e fugiu. Ele alertou as autoridades e as convocou para encontrar uma solução. Mas o simples vislumbre do que ele poderia ter feito mostra o quão frágil é o sistema mundial atual. Desde e-banking, email, e-books, até o fornecimento de água, energia elétrica, comida, ar, transporte e comunicação, todos os elementos da vida moderna no mundo industrializado de hoje dependem das funções de comunicação fornecidas pela internet. Isto é, se ela parar de funcionar, o mesmo acontece com o estilo de vida do mundo. O que pode ser feito.
Exemplo: seja por cartão de crédito ou transferência bancária, o dinheiro viaja pela internet. Em 2007, a quantidade de dinheiro que circulava pelo sistema era de quase 4 trilhões de dólares por dia. Atualmente, esse número deve chegar à casa dos 10 trilhões. O que aconteceria se a internet deixasse de funcionar essas transações tivessem que ser feitas por fax, telefone ou até mesmo pelo correio. No passado era assim. A vida viraria um caos.
Casti ressalta que o sistema atual utiliza uma arquitetura da década de 1970, época em que a internet foi concebida, o que provoca um grande desnível de complexidade entre a estrutura e seu uso atualmente. Quais as falhas? A internet gera buracos negros de informação. Por isso, às vezes, alguns sites não carregam na primeira tentativa. O leitor já deve ter vivenciado algo do tipo. A estimativa é que dois milhões de falhas desse tipo sejam geradas todos os dias e poderá engolir toda a internet um dia. Fora as falhas físicas. Os cabos de fibra ótica — para ficar apenas em um exemplo — cruzam o mundo pelo fundo do mar. Não são poucos os exemplos de países que ficaram às cegas devido a quebra desses cabos por terremotos ou outras situações.
Quando vamos comer?
O leitor sabia que mais de 4 milhões de pessoas ficaram pobres desde junho de 2011 devido ao aumento do preço dos alimentos? Ou que devido à diminuição no suprimento de água, a Arábia Saudita não poderá mais produzir trigo em breve? Ou que, de acordo com estudos realizados pela Global Phosphorus Research Initiative, nas próximas duas ou três décadas não haverá fósforo suficiente para atender às necessidades de produção de alimentos?
Essas informações são trazidas por Casti em seu livro — publicado em 2012 e, embora possa estar desatualizado, traz dados recentes. Mas a última dessa pequena lista trata das superdoenças que estão atacando as plantações do mundo. Ora, não estamos vivendo no Brasil algo assim? O que o leitor me diz da lagarta Helicoverpa armigera, que já causou R$ 600 milhões de prejuízo apenas em Goiás? Ela come de tudo e é resistente a qualquer tipo de inseticida conhecido no Brasil. Apenas inseticidas mais fortes poderão controlar sua reprodução, mas podem também causar outros danos, como já dizem especialistas.
Fora isso, há outros fatores. A industrialização da agricultura, modificações genéticas, inseticidas, monocultura, instabilidade climática, crescimento da população, etc. Segundo Casti, esses são fatores que criam a base para um colapso, via evento X, da rede de produção e distribuição de alimentos no mundo. O autor cita alguns exemplos que podem afetar muito a produção de alimentos nos próximos anos: escassez de água (a Arábia Saudita, país autossuficiente na produção de trigo por mais de 20 anos pode ter o cultivo ameaçado devido à falta de água); fenômenos climáticos (ressalte-se o aquecimento global); alta no preço do petróleo; crescimento populacional; e grãos para combustível (aqui, Casti cita o fato de que os Estados Unidos viabilizam grande parte de sua produção de milho para a produção de etanol, assim como no Brasil).
“O mundo está enfrentando, neste momento, uma confluência de escassez crescente em três elementos fundamentais para a continuação da vida humana neste planeta: água, energia e alimentos. A combinação resultante é maior do que a soma das partes, podendo acabar em desastre até 2030”, conclui Casti.
O dia em que os eletrônicos pararam
O PEM (pulso eletromagnético) é uma onda de choque produzida por uma explosão de alta energia na atmosfera. Essa onda cria uma sobrecarga momentânea de corrente elétrica nos circuitos de aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs, e automóveis desprotegidos. O pulso queima qualquer aparelho eletrônico ao alcance, independente de fiação.
Já houve um. Em 1962, no Pacífico Sul, a operação Starfish Prime explodiu um PEM de 1,4 megaton a uma altitude de 400 quilômetros. A área era remota, mas o pulso de energia eletromagnética resultante foi sentido em Honolulu, no Havaí, a mais de mil quilômetros do epicentro. Mesmo assim, queimou lâmpadas de iluminação pública e danificou retransmissores de rádio. E isso com uma explosão razoavelmente pequena feita há mais de 50 anos. Um ataque desse tipo atualmente poderia gerar danos talvez irreversíveis no mundo tecnológico de hoje. Computadores e outros aparelhos com microcircuitos; todos os condutores e linhas de transmissão de energia elétrica; segurança de bancos, elevadores e equipamentos hospitalares; carros, aviões, trens, barcos, etc. Tudo acabaria em questão de segundos.
“No caso de um ataque de PEM, o tempo de recuperação é de muitos meses, ou mesmo anos. Ao final da primeira semana, o pânico se instalaria. As ruas seriam tomadas por saqueadores, policiais e militares abandonariam seus postos para proteger suas famílias, não haveria ninguém para combater os incêndios e, de um modo geral, a sociedade logo voltaria a um estilo de vida semelhante àquele imaginado após um conflito nuclear”, embora seja um cenário completamente inofensivo à saúde humana diretamente.
Uma nova desordem
As previsões de Casti são quase que uma estratégia voltada para os Estados Unidos no caso de um evento X ocorrer. Não injusto, pois, além de ser estadunidense, seu país é a maior potencial econômica mundial e se um dia a globalização, nos moldes de hoje, ruir, os Estados Unidos estarão no centro do desastre. Assim, o matemático separa alguns cenários visando essa crise:
— Colapso: Após o fracasso das reações oficiais a uma série de catástrofes como o furacão Katrina, o estado de ânimo da população americana é afetado de forma negativa. As pessoas começam a ver o governo como seu maior inimigo. Essa mudança de psicologia coletiva gera um descompasso de complexidade entre o governo e os cidadãos, situação muito parecida com a que aconteceu recentemente nos países árabes do norte da África, resultando na implosão dos Estados Unidos devido a divisões internas.
— Separação amigável: em outras palavras, os Estados Unidos deixam ser unidos devido à incapacidade de arcar com o custo de um grande império, assim como aconteceu com a União Soviética.
— Governança global: neste cenário, os Estados Unidos perdem sua importância geopolítica enquanto são assimilados por uma comunidade global maior. Em suma, o mundo se une para formar as verdadeiras “Nações Unidas”.
— Conquista global: este seria o caminho mais pesado, em que não só os Estados Unidos, como o restante do mundo, são subjugados a uma ditadura global. Um ditador assume o poder à força, provavelmente utilizando armas baseadas no espaço, e bloqueia o mundo.
Física mortífera
Aqui, o medo está no avanço das pesquisas auxiliado pela tecnologia de ponta da qual se dispõe atualmente. Basicamente, as preocupações estão sobre o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN), que faz pesquisas com o LHC, o grande colisor de hádrons na tentativa de recriar o Big Bang em laboratório.
Os temores: a criação de buracos negros descontrolados (a partir das experiências, milhões de buracos negros microscópios seriam criados, persistiriam e de algum modo se aglutinariam em uma massa gravitacional que consumiria outras formas de matéria e acabaria engolindo o planeta); strangelets (novas combinações de quarks — partículas menores que formam os prótons — capaz de transformam tudo o que toca em partículas semelhantes); monopolos magnéticos (há a hipótese de que as colisões de alta energia como as que acontecem no LHC possam criar monopolos — norte ou sul — desencadeando uma reação em cadeia que destruiria o equilíbrio magnético do planeta); e um colapso do vácuo quântico (a teoria é de que o vácuo existente entre as partículas está repleto de energia. Se os experimentos do LHC anular as forças que estabilizam esse vácuo, a liberação dessa energia iria causar uma explosão que varreria o universo em questão de segundos).
A grande explosão
O panorama nuclear do mundo atual é um caso clássico de sobrecarga de complexidade em ação. Segundo Casti, além de ser difícil definir o número de países participantes, o cenário inclui de tudo: bombas “perdidas” da antiga União Soviética; cientistas insatisfeitos que passaram para o “lado negro da força”; tentativas constantes dos hackers de invadir sistemas de controle de armas; principiantes, como grupos terroristas e países fora da lei, interessados em adquirir bombas atômicas no mercado negro; ogivas possivelmente instáveis, mesmo nos arsenais oficiais.
Tudo isso poderia resultar em uma reação em cadeia que estouraria o planeta com uma série de “fogos de artifício”. “A verdade é que o cenário nuclear atual é um exemplo típico de como o excesso de complexidade pode desestabilizar a estrutura global de poder — da noite para o dia”. E quais seriam as consequências? Bem, citam-se sete: 1) as explosões nucleares lançam imediatamente poeira, radioatividade e gases na atmosfera. 2) as explosões iniciam incêndios, queimando cidades, florestas, combustíveis; 3) devido aos incêndios, nuvens de fumaça e gases sobem para a troposfera e logo são espalhadas por todo o planeta; 4) fumaça e poeira envolvem o planeta por semanas; 5) devido a isso, a Terra vive dias de escuridão; 6) a temperatura cai drasticamente na superfície terrestre, o que gera um inverno nuclear; e 7) quando a poeira baixa, a superfície é exposta a uma forte radiação ultravioleta, resultante da destruição parcial da camada de ozônio.
E isso poderia ocorrer, desde uma guerra aberta e intencional até acidentes.
Esgotamento
De acordo com um artigo da “Oil and Gas Journal”, no final de 2005 as reservas mundiais de petróleo eram de 1,2 trilhão de barris, dos quais cerca de 60% se localizavam em cinco países: Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. No outro lado da balança, o consumo totalizava 84 milhões de barris por dia, com 47% nos seguintes países: Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Atualmente, o consumo cresce a uma taxa de 2% ao ano. Assim, um bilhão de barris dura, então, aproximadamente doze dias.
Fazendo os cálculos, isso significa que 30 bilhões de barris por ano. Portanto, mesmo que o consumo se estabilizasse na taxa atual, 1,2 trilhão de barris na reserva acabaria em 40 anos. Esse é o limite máximo. Porém, haveria uma crise muito antes disso. Casti supõe quatro cenários. Em um deles há uma coalizão por parte dos países que produzem.
“Maio de 2014: o preço do petróleo ultrapassou os 100 dólares por barril, uma vez que o Irã e a Venezuela cortaram as exportações de mais de 700 mil barris para unir os países desenvolvidos do Ocidente pela imposição de sanções. Nesse meio-tempo, as forças armadas dos Estados Unidos estão se preparando para deslocar toda a sua frota do Pacífico para a região do Golfo Pérsico, a fim de combater ameaças aos campos petrolíferos do Oriente Médio”.
Já é possível imaginar o fim. Guerra nuclear e morte de todos, direta ou indiretamente.
É de doer
Aqui, Casti fala sobre uma pandemia de doenças infecciosas no padrão da Peste Bubônica ou da Gripe Espanhola, que aterrorizaram o mundo nos séculos XIX e XX, matando milhões de pessoas. E esse cenário não é necessariamente baseado na ação de terroristas, pois a natureza é perfeitamente capaz de lançar uma grande diversidade de ameaças à existência humana. Epidemias e pandemias de uma variedade estonteante têm surgido regularmente ao longo da história e devem reaparecer sob várias formas. Assim, a pergunta é: a humanidade estará preparada para enfrentar uma grande pandemia quando ela ocorrer?
No escuro e com sede
“A eletricidade e a água são fluidos, metaforicamente no primeiro caso, literalmente no segundo. Ambas são fundamentais para sustentar a vida como conhecemos. Para isso, precisam ser transportadas de onde são abundantes para onde são basicamente locais, não globais”. Uma pane na rede elétrica, por exemplo, é um problema restrito a certa região geográfica e jamais serão realmente globais, a não ser sob um ataque de PEM.
O que já não acontece com a distribuição de água, uma questão decididamente global. “Afetará todo mundo, em toda parte. Mas nem todos serão afetados ao mesmo tempo”. Na verdade, pode-se dizer que a catástrofe já ocorreu. “Só que a maioria dos habitantes do mundo desenvolvido não tem consciência disso porque não foi afetada… ainda”. Assim, “uma pane na rede elétrica ou no suprimento de água potável seria catastrófica, com um enorme impacto no modo de vida de literalmente milhões, se não bilhões, de pessoas. Eis por que as incluí neste livro”.
Tecnologia fora de controle
Enfim, caro leitor, chega-se no paraíso do pensamento futurista: quando robôs inteligentes tomaram o mundo exterminando a raça humana. Há milhares de filmes e livros antecipando essa realidade. E isso poderá ocorrer, por que não? Os futuristas radicais afirmam que quando o ser humano conseguir realizar a fusão entre a mente humana e as máquinas, a humanidade poderá superar muitos problemas, como fome, doenças e recursos finitos, como o petróleo e água. Porém, essa capacidade poderá fazer com o ser humano também abra possibilidades inéditas de manifestação dos impulsos destrutivos. Assim, é possível que as máquinas se voltem contra os humanos, exterminando-os.
A grande crise
Eis que chegamos ao último caso analisado por Casti. E trata de uma grande crise financeira tendo por epicentro os Estados Unidos. Segundo o matemático, o mundo está às portas de uma crise muito mais séria que a vivida na crise de 2008. E o motor que está virando de ponta-cabeça os mundos financeiro e econômico é a rápida aproximação de um período de deflação maciça — ou, talvez ainda pior, hiperinflação. “Assim, qualquer que seja o quadro que emerja no longo prazo, (daqui a dez a vinte anos), o horizonte imediato na fase criativa é que colheremos os benefícios do que está por vir no balanço do século atual”.

Kenneth Lonergan entrega um longa que, embora se aproprie de um grande clichê, é belíssimo em sua forma de tratar o assunto
[caption id="attachment_87309" align="aligncenter" width="620"] Lee e Patrick Chandler (Casey Affleck e Lucas Hedges) nos surpreendem ao personificarem a maior certeza que a humanidade já teve: apenas a morte nos espera no fim do caminho[/caption]
É fácil perder a paciência com atendentes de telemarketing, com o trânsito ou com filas de supermercado, mas quando você perde a cabeça com alguém que lhe é gentil ou lhe pede desculpas, é sinal de que algo anda muito mal.
É o caso de Lee Chandler, protagonista de “Manchester à beira mar”, o mais recente filme escrito e dirigido por Kenneth Lonergan. Kenneth já havia entregado “Conta Comigo”, bastante elogiado em 2000, mas passou ligeiramente despercebido uma década depois quando lançou “Margareth”, em 2011. Agora, retorna aos holofotes abordando um assunto comum em sua curta filmografia: a morte e suas implicações a quem permanece do lado de cá.
[relacionadas artigos="86358, 85345, 85503"]
O mal-humorado Lee Chandler, interpretado de forma magistral por Casey Affleck, é uma espécie de faz-tudo que trabalha numa administradora de condomínios em Boston, nos Estados Unidos. As cenas iniciais do filme nos apresentam a seus clientes costumeiros, um mais chato do que o outro, interrompidos de forma proposital pelo diretor. O corte abrupto nas transições de cena nos traz certo alívio.
Quando o filme nos conduz um pouco mais a fundo na rotina de Chandler, entretanto, chama a atenção a mistura de apatia com amargura que o zelador carrega nas costas. Tudo bem que a clientela e a rotina não ajudam, mas uma briga de bar deixa mostrar muito mais do que uma mera troca de socos e pontapés. O rosto ainda jovem de Lee revela-se uma carapaça protegendo — ou escondendo — o que de verdade habita no lado obscuro de sua alma.
Contudo, uma notícia pesada ameaça romper esse lacre. A morte de seu irmão, Joe Chandler (interpretado por Kyle Chandler), o leva a abandonar tudo temporariamente para cuidar das burocracias inerentes à fatalidade. Mesmo tendo que lidar com médicos, funerária e com aspectos legais, entretanto, Lee mantém seu acreditado autocontrole para tocar a vida.
Lee acha que está no controle de tudo. Sempre teve essa falsa impressão, mas o que vemos através das nuances que Lonergan paulatinamente disseca diante de nossos olhos — inclusive com flashbacks milimetricamente calculados — é o oposto disso. Chandler não consegue lidar nem consigo mesmo. Está o tempo todo prestes a explodir — mas esse “não explodir” o consome. O seu “foda-se” soa sempre muito mais sincero que o seu “muito obrigado”. E nas suas brigas diárias, tentando organizar um turbilhão de sentimentos engasgados, a vida lhe empurra muito mais do que consegue suportar.
É assim que descobre, por exemplo, que o irmão lhe empurrou a missão de ser o tutor do sobrinho, Patrick (interpretado por Lucas Hedges), de quem era muito próximo na infância, mas que por circunstâncias da vida acabou se afastando. Em meio a risadas e sobrancelhas franzidas, Patrick se incumbe de ajudar o diretor na missão de desvendar a esfinge Lee a nós, espectadores.
A Manchester do título do filme não é a cidade inglesa, como alguns apressados poderiam concluir. Tampouco aquela vizinha de Boston, no centro de Nova Hampshire. Manchester-by-the-sea é uma comunidade de pouco mais de 5 mil habitantes, na cidade de Cape Ann, condado de Essex, em Massachusetts, cuja principal atividade econômica é a pesca e o turismo à beira mar. O nome da currutela também é uma metáfora para a vida do nosso protagonista. Não por acaso, a estória não se passa numa cidade “de veraneio”, mas durante o inverno. E, se pegarmos o mar com seu significado universal e até esotérico, veremos que ele não representa o equilíbrio e a constância de uma baía pesqueira, mas a turbulência e transitoriedade das ondas batendo na areia.
A alegria e tranquilidade são efêmeras na vida de Lee, frequentemente associadas aos passeios de barco que costumava fazer com o irmão e o sobrinho. Os pontos mais leves do filme, inclusive, são no barco. Por outro lado, os planos longos e não tão fechados acentuam a carga dramática, contrapondo sempre as belas paisagens de Manchester-by-the-sea com a realidade pesada com que os personagens precisam lidar.
O ápice dramático do filme, embalado por uma belíssima trilha sonora composta por Lesley Barber (que, justiça seja feita, esteve magistralmente presente por toda a obra), traz a revelação definitiva sobre a origem do peso que Lee carrega nas costas. E é pesado. No rolar dos créditos, Kenneth Lonergan traz a difícil lição de que nem sempre é possível superar. Por mais que tenhamos esperanças, nem sempre sobram as forças necessárias, e é preciso reconhecer que as escolhas foram erradas, o caminho não deu resultado. O pescador nem sempre vence a luta contra o peixe — principalmente quando lhe falta experiência.
Já dizia Renato Russo, a irracionalidade toma conta “quando querem transformar esperança em maldição”. Esperar e lutar por dias melhores é instinto do ser humano, mas na busca impensada por superar um trauma, muitas vezes perdemos oportunidades únicas de sermos felizes, de tocar o barco e seguir em frente de forma verdadeira. É quando o abismo deixa de ser observado e passa a olhar para dentro de quem o observa.
“Manchester à beira mar” é, definitivamente, um filme de Oscar. Atuações vibrantes (além de Affleck e Hedges, ainda podemos conferir Michelle Williams em mais uma participação simples, mas decisiva), trilha sonora belíssima, fotografia do mesmo modo. E em que pese tratar-se de um bom roteiro, mas com temática amplamente já explorada em outras obras, surpreende que Kenneth Lonergan tenha se apropriado sabiamente do clichê: A única certeza que temos — cada um de nós, independentemente do drama que nos acomete — é uma lápide fria de mármore no fim do caminho.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG
Lee e Patrick Chandler (Casey Affleck e Lucas Hedges) nos surpreendem ao personificarem a maior certeza que a humanidade já teve: apenas a morte nos espera no fim do caminho[/caption]
É fácil perder a paciência com atendentes de telemarketing, com o trânsito ou com filas de supermercado, mas quando você perde a cabeça com alguém que lhe é gentil ou lhe pede desculpas, é sinal de que algo anda muito mal.
É o caso de Lee Chandler, protagonista de “Manchester à beira mar”, o mais recente filme escrito e dirigido por Kenneth Lonergan. Kenneth já havia entregado “Conta Comigo”, bastante elogiado em 2000, mas passou ligeiramente despercebido uma década depois quando lançou “Margareth”, em 2011. Agora, retorna aos holofotes abordando um assunto comum em sua curta filmografia: a morte e suas implicações a quem permanece do lado de cá.
[relacionadas artigos="86358, 85345, 85503"]
O mal-humorado Lee Chandler, interpretado de forma magistral por Casey Affleck, é uma espécie de faz-tudo que trabalha numa administradora de condomínios em Boston, nos Estados Unidos. As cenas iniciais do filme nos apresentam a seus clientes costumeiros, um mais chato do que o outro, interrompidos de forma proposital pelo diretor. O corte abrupto nas transições de cena nos traz certo alívio.
Quando o filme nos conduz um pouco mais a fundo na rotina de Chandler, entretanto, chama a atenção a mistura de apatia com amargura que o zelador carrega nas costas. Tudo bem que a clientela e a rotina não ajudam, mas uma briga de bar deixa mostrar muito mais do que uma mera troca de socos e pontapés. O rosto ainda jovem de Lee revela-se uma carapaça protegendo — ou escondendo — o que de verdade habita no lado obscuro de sua alma.
Contudo, uma notícia pesada ameaça romper esse lacre. A morte de seu irmão, Joe Chandler (interpretado por Kyle Chandler), o leva a abandonar tudo temporariamente para cuidar das burocracias inerentes à fatalidade. Mesmo tendo que lidar com médicos, funerária e com aspectos legais, entretanto, Lee mantém seu acreditado autocontrole para tocar a vida.
Lee acha que está no controle de tudo. Sempre teve essa falsa impressão, mas o que vemos através das nuances que Lonergan paulatinamente disseca diante de nossos olhos — inclusive com flashbacks milimetricamente calculados — é o oposto disso. Chandler não consegue lidar nem consigo mesmo. Está o tempo todo prestes a explodir — mas esse “não explodir” o consome. O seu “foda-se” soa sempre muito mais sincero que o seu “muito obrigado”. E nas suas brigas diárias, tentando organizar um turbilhão de sentimentos engasgados, a vida lhe empurra muito mais do que consegue suportar.
É assim que descobre, por exemplo, que o irmão lhe empurrou a missão de ser o tutor do sobrinho, Patrick (interpretado por Lucas Hedges), de quem era muito próximo na infância, mas que por circunstâncias da vida acabou se afastando. Em meio a risadas e sobrancelhas franzidas, Patrick se incumbe de ajudar o diretor na missão de desvendar a esfinge Lee a nós, espectadores.
A Manchester do título do filme não é a cidade inglesa, como alguns apressados poderiam concluir. Tampouco aquela vizinha de Boston, no centro de Nova Hampshire. Manchester-by-the-sea é uma comunidade de pouco mais de 5 mil habitantes, na cidade de Cape Ann, condado de Essex, em Massachusetts, cuja principal atividade econômica é a pesca e o turismo à beira mar. O nome da currutela também é uma metáfora para a vida do nosso protagonista. Não por acaso, a estória não se passa numa cidade “de veraneio”, mas durante o inverno. E, se pegarmos o mar com seu significado universal e até esotérico, veremos que ele não representa o equilíbrio e a constância de uma baía pesqueira, mas a turbulência e transitoriedade das ondas batendo na areia.
A alegria e tranquilidade são efêmeras na vida de Lee, frequentemente associadas aos passeios de barco que costumava fazer com o irmão e o sobrinho. Os pontos mais leves do filme, inclusive, são no barco. Por outro lado, os planos longos e não tão fechados acentuam a carga dramática, contrapondo sempre as belas paisagens de Manchester-by-the-sea com a realidade pesada com que os personagens precisam lidar.
O ápice dramático do filme, embalado por uma belíssima trilha sonora composta por Lesley Barber (que, justiça seja feita, esteve magistralmente presente por toda a obra), traz a revelação definitiva sobre a origem do peso que Lee carrega nas costas. E é pesado. No rolar dos créditos, Kenneth Lonergan traz a difícil lição de que nem sempre é possível superar. Por mais que tenhamos esperanças, nem sempre sobram as forças necessárias, e é preciso reconhecer que as escolhas foram erradas, o caminho não deu resultado. O pescador nem sempre vence a luta contra o peixe — principalmente quando lhe falta experiência.
Já dizia Renato Russo, a irracionalidade toma conta “quando querem transformar esperança em maldição”. Esperar e lutar por dias melhores é instinto do ser humano, mas na busca impensada por superar um trauma, muitas vezes perdemos oportunidades únicas de sermos felizes, de tocar o barco e seguir em frente de forma verdadeira. É quando o abismo deixa de ser observado e passa a olhar para dentro de quem o observa.
“Manchester à beira mar” é, definitivamente, um filme de Oscar. Atuações vibrantes (além de Affleck e Hedges, ainda podemos conferir Michelle Williams em mais uma participação simples, mas decisiva), trilha sonora belíssima, fotografia do mesmo modo. E em que pese tratar-se de um bom roteiro, mas com temática amplamente já explorada em outras obras, surpreende que Kenneth Lonergan tenha se apropriado sabiamente do clichê: A única certeza que temos — cada um de nós, independentemente do drama que nos acomete — é uma lápide fria de mármore no fim do caminho.
João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Canção de letra mais forte do disco Princesa, música de 6 minutos e 38 segundos é representada em bom roteiro de Bruno Alves, Pedro Ferrarezzi e Salma Jô

Um dos filmes lusófonos do festival, "Colo" estreia sem o louvor da crítica internacional
[caption id="attachment_87303" align="aligncenter" width="620"] "Colo" não conquistou a crítica internacional, que abandonou a exibição[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
A lusofonia este ano bateu um recorde no Festival Internacional de Cinema de Berlim — são 18 filmes brasileiros e portugueses nas diversas competições. E nesta quarta-feira, 15, foi a vez do longa-metragem da cineasta portuguesa Teresa Villaverde, "Colo", ser exibido.
[relacionadas artigos="87225, 87126"]
O filme mostra a repercussão da crise econômica numa família portuguesa, deixando claro o por quê do nome do longa, que, entre coisas quer dizer afeto. Villaverde justifica dizendo que falta também afeto no casal e filha do seu filme.
Para ela, a crise não é só econômica, mas envolve igualmente um clima de falta de comunicação, porque se de um lado gera o desemprego, outras pessoas são obrigadas a acumular empregos, faltando-lhes tempo para curtir a família.
Em "Colo", o desemprego leva o pai ao desespero e a filha não avalia a gravidade da crise vivida pela família, onde até a luz é cortada por falta de pagamento. Filmado na maior parte do tempo nos interiores e sem muita luz, "Colo" transmite a sensação de falta de perspectivas de seus personagens.
Villaverde permanece fiel aos filmes de cenas longas que sempre caracterizam as produções portuguesas — uma exceção deste estilo apareceu há quatro anos, quando o estreante em Berlim, "Tabu", de Miguel Gomes, mostrou uma agilidade ainda rara no cinema português.
Embora o tema de "Colo" seja dos melhores, o que a crítica chamou de "silêncios", os planos fixos demorados e a falta de movimento em contraposição às cenas mais rápidas da moderna cinematografia, não foram bem recebidos pela crítica internacional que abandonou a projeção e não foi à coletiva para a imprensa.
"Colo" não conquistou a crítica internacional, que abandonou a exibição[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
A lusofonia este ano bateu um recorde no Festival Internacional de Cinema de Berlim — são 18 filmes brasileiros e portugueses nas diversas competições. E nesta quarta-feira, 15, foi a vez do longa-metragem da cineasta portuguesa Teresa Villaverde, "Colo", ser exibido.
[relacionadas artigos="87225, 87126"]
O filme mostra a repercussão da crise econômica numa família portuguesa, deixando claro o por quê do nome do longa, que, entre coisas quer dizer afeto. Villaverde justifica dizendo que falta também afeto no casal e filha do seu filme.
Para ela, a crise não é só econômica, mas envolve igualmente um clima de falta de comunicação, porque se de um lado gera o desemprego, outras pessoas são obrigadas a acumular empregos, faltando-lhes tempo para curtir a família.
Em "Colo", o desemprego leva o pai ao desespero e a filha não avalia a gravidade da crise vivida pela família, onde até a luz é cortada por falta de pagamento. Filmado na maior parte do tempo nos interiores e sem muita luz, "Colo" transmite a sensação de falta de perspectivas de seus personagens.
Villaverde permanece fiel aos filmes de cenas longas que sempre caracterizam as produções portuguesas — uma exceção deste estilo apareceu há quatro anos, quando o estreante em Berlim, "Tabu", de Miguel Gomes, mostrou uma agilidade ainda rara no cinema português.
Embora o tema de "Colo" seja dos melhores, o que a crítica chamou de "silêncios", os planos fixos demorados e a falta de movimento em contraposição às cenas mais rápidas da moderna cinematografia, não foram bem recebidos pela crítica internacional que abandonou a projeção e não foi à coletiva para a imprensa.
Comercialização
Resta a questão da pronúncia do português da antiga metrópole, diferente da maneira mais aberta própria do "brasileiro", que dificultará sempre a comercialização dos filmes portugueses no Brasil, o mesmo não ocorra com os filmes brasileiros em Portugal, haja visto o sucesso das telenovelas da Globo. Ocorre praticamente o mesmo com os filmes canadenses, cuja pronúncia é fiel ao francês antigo, geralmente exibidos com legendas nas exibições na França. Talvez por influência das telenovelas, a pronúncia portuguesa nas antigas colonias é mais próxima do "brasileiro". Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Interanacional de Cinema
Seria catarse? Não importa, pois quem lê Dostoiévski está sempre em boa companhia
[caption id="attachment_13953" align="alignleft" width="300"] Fiódor Dostoiévski: retratista da alma humana[/caption]
"Crime e Castigo" é um dos melhores livros já escritos na história da literatura; é, sem dúvida, uma obra brilhante de Dostoiévski, que com uma narrativa única passa por vários temas, da angústia à filosofia da ideia pelo homem e não do homem pela ideia. Porém, a história de Raskólnikov, que mata para provar uma ideia, é sobretudo sobre redenção, que no romance é representada por Sônia, a jovem prostituta a quem Raskólnikov passa a amar.
A verdade é que "Crime e Castigo" é um retrato da alma humana. Não à toa, a obra de Dostoiévski é lida e relida desde o fim do século 19, quando foi publicada, sem nunca deixar de ser atual — e provavelmente nunca deixará, pois é este o grande mérito das obras brilhantes. E é por isso que não estranha o fato de "Crime e Castigo" estar entre os livros mais lidos por presos brasileiros que buscam abatimento de pena.
O levantamento foi feito pelo Ministério da Justiça nas penitenciárias de segurança máxima e mostra também livros como "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, e "Através do Espelho", de Jostein Gaarder. O ranking faz parte da "fiscalização" do Projeto Remição pela Leitura, que permite ao presidiário o abatimento de quatro dias de sua pena pela leitura de um livro, benefício alcançado com uma resenha escrita pelo preso.
Contudo, infelizmente, o detento não é livre para ler quantos livros quiser. Cada preso só pode participar do projeto até 12 vezes no ano, o que representa 48 dias a menos na prisão. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informa em sua coluna que, desde 2010, foram produzidas 6.004 resenhas nas penitenciárias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia.
Agora, por que escolher "Crime e Castigo"? Bem, podemos sempre falar também em catarse, não é mesmo? Mas isso não importa, na verdade. O importante é que, ao contrário de Raskólnikov, que tinha muita leitura, mas lia mal, os detentos que o escolherem estarão lendo bem. Ao menos, assim se espera.
Fiódor Dostoiévski: retratista da alma humana[/caption]
"Crime e Castigo" é um dos melhores livros já escritos na história da literatura; é, sem dúvida, uma obra brilhante de Dostoiévski, que com uma narrativa única passa por vários temas, da angústia à filosofia da ideia pelo homem e não do homem pela ideia. Porém, a história de Raskólnikov, que mata para provar uma ideia, é sobretudo sobre redenção, que no romance é representada por Sônia, a jovem prostituta a quem Raskólnikov passa a amar.
A verdade é que "Crime e Castigo" é um retrato da alma humana. Não à toa, a obra de Dostoiévski é lida e relida desde o fim do século 19, quando foi publicada, sem nunca deixar de ser atual — e provavelmente nunca deixará, pois é este o grande mérito das obras brilhantes. E é por isso que não estranha o fato de "Crime e Castigo" estar entre os livros mais lidos por presos brasileiros que buscam abatimento de pena.
O levantamento foi feito pelo Ministério da Justiça nas penitenciárias de segurança máxima e mostra também livros como "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, e "Através do Espelho", de Jostein Gaarder. O ranking faz parte da "fiscalização" do Projeto Remição pela Leitura, que permite ao presidiário o abatimento de quatro dias de sua pena pela leitura de um livro, benefício alcançado com uma resenha escrita pelo preso.
Contudo, infelizmente, o detento não é livre para ler quantos livros quiser. Cada preso só pode participar do projeto até 12 vezes no ano, o que representa 48 dias a menos na prisão. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informa em sua coluna que, desde 2010, foram produzidas 6.004 resenhas nas penitenciárias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Rondônia.
Agora, por que escolher "Crime e Castigo"? Bem, podemos sempre falar também em catarse, não é mesmo? Mas isso não importa, na verdade. O importante é que, ao contrário de Raskólnikov, que tinha muita leitura, mas lia mal, os detentos que o escolherem estarão lendo bem. Ao menos, assim se espera.

Livro que já foi publicado em 27 países terá nova edição pela Rocco lançada em maio
 Em 2017, “A hora da estrela”, último livro de Clarice Lispector, completa 40 anos e deve ganhar edição especial pela Rocco. As informações são de "O Globo".
Uma das grandes reclamações dos admiradores de Clarice é que a Rocco até hoje não publicou uma edição decente do livro, que é o mais conhecido da escritora.
Agora, esta promete ser uma boa edição, pois terá capa dura, sobrecapa e seis textos críticos assinados por nomes como a professora da USP Nadia Gotlib, o escritor e crítico Eduardo Portella, o crítico e escritor irlandês Colm Tóibín, e a crítica e poetisa francesa Hélène Cixous.
Além disso, a edição deverá ter ainda um caderno extra com reproduções em fac-símile do manuscrito original do livro e dos últimos bilhetes escritos por Clarice.
Em 2017, “A hora da estrela”, último livro de Clarice Lispector, completa 40 anos e deve ganhar edição especial pela Rocco. As informações são de "O Globo".
Uma das grandes reclamações dos admiradores de Clarice é que a Rocco até hoje não publicou uma edição decente do livro, que é o mais conhecido da escritora.
Agora, esta promete ser uma boa edição, pois terá capa dura, sobrecapa e seis textos críticos assinados por nomes como a professora da USP Nadia Gotlib, o escritor e crítico Eduardo Portella, o crítico e escritor irlandês Colm Tóibín, e a crítica e poetisa francesa Hélène Cixous.
Além disso, a edição deverá ter ainda um caderno extra com reproduções em fac-símile do manuscrito original do livro e dos últimos bilhetes escritos por Clarice.

Festival Internacional de Cinema é um festival de preocupações políticas e, por isso, filme de Aki Kaurismaki é um dos favoritos ao Urso de Ouro
[caption id="attachment_87227" align="aligncenter" width="620"] "O outro lado da esperança", filme de Aki Kaurismaki, assume o favoritismo ao Urso de Ouro ao defender os refugiados sírios na Europa com uma bela filmagem[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
O cineasta finlandês Aki Kaurismaki fez uma clara defesa dos refugiados no encontro com a crítica, chegando a elogiar a chanceler Angela Merkel, "a única política que se mostrou realmente interessada pelos refugiados", criticando a minoria finlandesa que insiste em estigmatizar os estrangeiros e mesmo a agredi-los fisicamente.
Pouco antes, seu novo filme, "O outro lado da esperança", tinha sido exibido para a crítica, sendo recebido com aplausos. O filme conta a história de duas pessoas diferentes, cujas vidas se cruzam num determinado momento.
A primeira é Khaled, refugiado sírio que consegue chegar à Europa, via Grécia, faz enormes caminhadas com outros refugiados, depois de a Hungria ter fechado suas fronteiras. Com a confusão gerada, acabou perdendo de vista sua irmã, que fugira com ele da Síria. Chega à Finlândia de navio, escondido no compartimento de carvão.
Vai rapidamente se apresentar à polícia para pedir o estatuto de refugiado. Entretanto, o serviço de imigração rejeita sua demanda sob o pretexto de não haver perigo e nem clima de guerra em Alepo, onde vivia. Por ironia da sorte, nesse mesmo dia o telejornal finlandês mostra Alepo sendo bombardeada com mortes de civis.
O outro personagem é um empresário finlandês deixando o ramo das confecções para homens para se dedicar ao setor de restaurantes. É quando encontra Khaled, imigrante clandestino, e o emprega no restaurante, pagando a um especialista a fabricação de um documento de residente provisório.
"Eu gostaria de poder mudar o mundo", disse Kaurismaki para a crítica. "Mas meus filmes são contribuições muito pequenas, por isso me contento em tentar mudar os finlandeses. A participação de todos é importante porque, se tivesse sido maior nos anos 30, poderia ter evitado a Segunda Guerra".
No ano de 1490, a região de Sevilha, na Espanha, vivia em paz até ser criada a lei para se expulsar árabes e judeus, disse Kaurismaki referindo-se à decretação da Inquisição. Até pouco tempo, havia na Europa uma posição clara em defesa dos valores humanitários, mas isso começa a desaparecer com o surgimento da intolerância".
Kaurismari informou também ter mudado seu projeto de uma trilogia sobre os portos. "Será uma trilogia sobre os refugiados". Diante da força das imagens do novo filme de Aki Kaurismaki, e levando-se em conta ser Berlim um Festival de preocupações políticas, "O outro lado da esperança" está entre os favoritos ao Urso de Ouro.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
"O outro lado da esperança", filme de Aki Kaurismaki, assume o favoritismo ao Urso de Ouro ao defender os refugiados sírios na Europa com uma bela filmagem[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
O cineasta finlandês Aki Kaurismaki fez uma clara defesa dos refugiados no encontro com a crítica, chegando a elogiar a chanceler Angela Merkel, "a única política que se mostrou realmente interessada pelos refugiados", criticando a minoria finlandesa que insiste em estigmatizar os estrangeiros e mesmo a agredi-los fisicamente.
Pouco antes, seu novo filme, "O outro lado da esperança", tinha sido exibido para a crítica, sendo recebido com aplausos. O filme conta a história de duas pessoas diferentes, cujas vidas se cruzam num determinado momento.
A primeira é Khaled, refugiado sírio que consegue chegar à Europa, via Grécia, faz enormes caminhadas com outros refugiados, depois de a Hungria ter fechado suas fronteiras. Com a confusão gerada, acabou perdendo de vista sua irmã, que fugira com ele da Síria. Chega à Finlândia de navio, escondido no compartimento de carvão.
Vai rapidamente se apresentar à polícia para pedir o estatuto de refugiado. Entretanto, o serviço de imigração rejeita sua demanda sob o pretexto de não haver perigo e nem clima de guerra em Alepo, onde vivia. Por ironia da sorte, nesse mesmo dia o telejornal finlandês mostra Alepo sendo bombardeada com mortes de civis.
O outro personagem é um empresário finlandês deixando o ramo das confecções para homens para se dedicar ao setor de restaurantes. É quando encontra Khaled, imigrante clandestino, e o emprega no restaurante, pagando a um especialista a fabricação de um documento de residente provisório.
"Eu gostaria de poder mudar o mundo", disse Kaurismaki para a crítica. "Mas meus filmes são contribuições muito pequenas, por isso me contento em tentar mudar os finlandeses. A participação de todos é importante porque, se tivesse sido maior nos anos 30, poderia ter evitado a Segunda Guerra".
No ano de 1490, a região de Sevilha, na Espanha, vivia em paz até ser criada a lei para se expulsar árabes e judeus, disse Kaurismaki referindo-se à decretação da Inquisição. Até pouco tempo, havia na Europa uma posição clara em defesa dos valores humanitários, mas isso começa a desaparecer com o surgimento da intolerância".
Kaurismari informou também ter mudado seu projeto de uma trilogia sobre os portos. "Será uma trilogia sobre os refugiados". Diante da força das imagens do novo filme de Aki Kaurismaki, e levando-se em conta ser Berlim um Festival de preocupações políticas, "O outro lado da esperança" está entre os favoritos ao Urso de Ouro.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

O dândi vê-se acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas
[caption id="attachment_87215" align="alignnone" width="620"] "I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
(“L’Albatros”, Charles Baudelaire )
Quando falamos da poética de Charles Baudelaire, logo nos vem à mente um apanhado de características marcantes: o requinte formal com ares de ruína, o simbolismo carregado de liturgia e revolta, o olhar de camarote à miséria humana e a coexistência do mármore e da carniça. Pode-se dizer que esse conjunto de elementos contraditórios compõe seu principal motivo: a expressão da modernidade, contraditória por excelência.
Mas o que se entende por modernidade e moderno no contexto de Baudelaire? Decerto todas as mudanças que as unidades social, econômica e política enfrentavam, com a decadência da monarquia e ascensão da burguesia e da classe operária, com o progresso industrial, que transformava as pequenas vilas em núcleos de calor e burburinho, e com um nova compreensão de sociedade: um coletivo de homens de morais díspares, guiados por propósitos individuais. Aos olhos daqueles que primavam pelo Belo e pelo Sublime, a modernidade era uma ameaça à pureza moral do homem e de suas ideias. Dessa aversão ao progresso, hastearam-se as bandeiras de escolas literárias como o Romantismo, que buscara a fuga sobretudo no exótico e no onírico, e o Parnasianismo, que propunha uma regressão ao passado e à harmonia grega. Baudelaire hasteara sua bandeira justamente contra esses ideais.
[caption id="attachment_87218" align="alignleft" width="300"]
"I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]
Pedro Mohallem
Especial para o Jornal Opção
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
(“L’Albatros”, Charles Baudelaire )
Quando falamos da poética de Charles Baudelaire, logo nos vem à mente um apanhado de características marcantes: o requinte formal com ares de ruína, o simbolismo carregado de liturgia e revolta, o olhar de camarote à miséria humana e a coexistência do mármore e da carniça. Pode-se dizer que esse conjunto de elementos contraditórios compõe seu principal motivo: a expressão da modernidade, contraditória por excelência.
Mas o que se entende por modernidade e moderno no contexto de Baudelaire? Decerto todas as mudanças que as unidades social, econômica e política enfrentavam, com a decadência da monarquia e ascensão da burguesia e da classe operária, com o progresso industrial, que transformava as pequenas vilas em núcleos de calor e burburinho, e com um nova compreensão de sociedade: um coletivo de homens de morais díspares, guiados por propósitos individuais. Aos olhos daqueles que primavam pelo Belo e pelo Sublime, a modernidade era uma ameaça à pureza moral do homem e de suas ideias. Dessa aversão ao progresso, hastearam-se as bandeiras de escolas literárias como o Romantismo, que buscara a fuga sobretudo no exótico e no onírico, e o Parnasianismo, que propunha uma regressão ao passado e à harmonia grega. Baudelaire hasteara sua bandeira justamente contra esses ideais.
[caption id="attachment_87218" align="alignleft" width="300"] Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Les Fleurs du Mal, seu maior legado, representa um marco na literatura, na poesia e na compreensão do homem moderno; não à toa, Otto Maria Carpeaux chama o poeta de “fundador da poesia lírica moderna”. “L’Albatros”, dentre os inaugurais do livro, é um poema emblemático tanto para a obra do francês quanto para toda uma geração decadentista que se levantava no ocidente contra a mesmice e a monotonia que se tornaram o Romantismo e o Parnasianismo (excetuando-se, claro, os grandes autores dessas escolas, que, a despeito das divergências ideológicas, permaneceriam exemplares ao gosto moderno). Escrito em alexandrinos franceses, seus quatro quartetos descrevem o sadismo de uma tripulação que captura albatrozes no alto-mar, torturando-os e rindo de seu desajeito; ao fim, tem-se a comparação que sela as imagens do poema: o poeta é como o albatroz que, exilado no chão, não pode andar devido à inconveniência das asas gigantescas.
Bem mais que um símbolo, esse poema é uma alegoria. O albatroz exilado no solo sangra a cada passo desferido contra o chão de pedra em meio ao caos da multidão latente – e assim é o poeta moderno que se afoga no escarcéu das cidades: perdida a capacidade de voar, perde também seu posto como príncipe das alturas. Semelhante argumento em símiles bem parecidos é apresentado no poema anterior, “Bênção”, no qual acerca do poeta lemos, pela tradução de Ivan Junqueira (As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p. 131), que:
Às nuvens ele fala, aos ventos desafia
E a via-sacra entre canções percorre em festa;
O Espírito que o segue em sua romaria
Chora ao vê-lo feliz como ave da floresta.
Os que ele quer amar o observam com receio,
Ou então, por desprezo à sua estranha paz,
Buscam quem saiba acometê-lo em pleno seio,
E empenham-se em sangrar a fera que ele traz.
Além de abordar alguns dos principais motivos dAs Flores do Mal, i.e., o Exílio, a Queda, a Multidão, o Spleen e o Sublime, “L’Albatros” prenuncia a nova identidade do Poeta ante a modernização do final do século: o dândi acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas.
Há que se perceber o avanço dessas ideias: como dito anteriormente, o que reinava no ocidente então era a ideologia emancipatória de românticos e parnasianos. Aqueles, fugindo ao progresso, voltavam-se ao exótico e ao esotérico; estes, inspirados pelo passado remoto da Grécia e pelos ícones artificiais que a representavam, promoviam o autoexílio na Beleza e a arte com o fim em si própria, sem interesse no engajamento social. De um, Baudelaire herdou o catolicismo e o satanismo; de outro, a mitologia e a perfeição formal. No entanto, se nele reencontramos a questão do Exílio, esta já é tratada de maneira completamente diversa: o poeta que se trancava em seu gabinete (a famosa torre de mármore), abrindo seus braços para o Etéreo e os ouvidos para a voz de Deus, é agora um transeunte privado desse posto de xamã. Sobre o tema do exílio em “L’Albatros”, diz Ivan Junqueira (Baudelaire, Eliot, Dylan Thomas: três visões da modernidade. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 71):
"[...] encontra, ao menos para nós, sua mais alta expressão poética na insólita imagem desse pássaro privado do espaço, dessa ave que se arrasta, “ridícula e sublime”, entre as vicissitudes de um mundo que não é o seu. Poder-se-ia conceber imagem mais tangível e tramática da Queda, da expulsão do Paraíso, do que a desse majestoso e todavia impotente albatroz lançado às tábuas de um convés?"
Desde o pecado original, o homem vive alheio aos desígnios divinos, e o poeta era o eleito dentre os homens para promover a correspondência entre o mundo visível e o mundo ideal; entretanto, não há mais consonância entre o que acontece no plano visível e no plano etéreo: o progresso e o ideal nunca se reencontrariam.
No Brasil, sabe-se que o Romantismo e o Parnasianismo (o segundo mais que o primeiro) por muito tempo ofuscaram o que viria a ser o Simbolismo de um Cruz e Souza, de um Alphonsus de Guimaraens e de um Pedro Kilkerry, o satanismo de um Teófilo Dias e de um Carvalho Júnior. O parnaso se instalou e sobreviveu por aqui mais que em qualquer outro lugar, de forma que tais poetas só seriam resgatados pelos modernistas e pós-modernistas. Esses autores, por muitas décadas marginalizados, foram os principais responsáveis pela chegada de Baudelaire à terra da santa cruz. Quanto a “L’Albatros”, ou “O Albatroz”, como o chamaríamos, tem-se uma contradição bastante curiosa: o poema-escudo de Olavo Bilac e emblema do Parnasianismo brasileiro, o soneto “Longe do estéril turbilhão” da rua seria publicado somente em 1919, mais de sessenta anos após Les Fleurs Du Mal perfurarem a Literatura com seus espinhos retorcidos.
Se custou para que o poeta decadente caísse ao gosto do público francês (sabe-se que, na época de sua publicação, fora duramente reprimido), ainda mais custou para que o príncipe da altura tombasse definitivamente ao turbilhão da rua, sobretudo em nossa pátria de vanguardas tardias. Entretanto, quase que paradoxalmente, temos para o português diversas traduções de “O Albatroz” – o poema, creio, mais traduzido de Baudelaire. Algumas datam antes mesmo do soneto de Bilac. Guilherme de Almeida (1944), Ivan Junqueira (Op.Cit.), Teófilo Dias (1878), Felix Pacheco(1932), Onestaldo de Pennafort (1931), Jamil Almansur Haddad (1958), entre outros, divulgaram por aqui a palavra do poeta-profeta francês. Pretendo ater-me às traduções aqui mencionadas e pôr um jugo analítico sobre algumas escolhas desses autores.
Algo já se conclui das primeiras leituras: dentre as selecionadas, a tradução de Guilherme de Almeida é uma das mais fluentes, ao passo que a tradução de Teófilo Dias apresenta os maiores arcaísmos; salvo por Felix Pacheco, todas traduzem des albatros, no plural, por um albatroz, no singular; algumas reprimem a liberdade transcriativa, outras lançam-lhe mão a bel prazer; todas, enfim, dão um sabor tropical ao oceano navegado.
Formalmente, todos os poetas mencionados mantiveram a correspondência métrica, traduzindo o alexandrino francês como alexandrino português, ambos com doze sílabas poéticas. Junqueira é o único que apresenta ocasionalmente versos sem a cesura na sexta sílaba do alexandrino clássico. Nenhum manteve o esquema rímico francês de oxítonas e paroxítonas alternadas, visto que se trata de um recurso idiomático que não caberia preservar em nossa língua. Comparando os resultados, percebemos muitas consonâncias, versos quase cristalizados e imutáveis por terem talvez atingido o ideal da tradução poética, como é o caso do último:
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
“Impedem-no de — andar — as asas de gigante!” (Teófilo Dias)
“As asas de gigante o impedem de marchar!” (Felix Pacheco)
“As asas de gigante impedem-no de andar.” (Ivan Junqueira, Guilherme de Almeida e Jamil Almansur Haddad)
“suas asas de gigante impedem-no de andar.” (Onestaldo de Pennafort)
O mesmo não se percebe em momentos mais narrativos, como o da primeira estrofe:
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
“O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.”
(Teófilo Dias)
“Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.”
(Felix Pacheco)
“Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.”
(Ivan Junqueira)
Perceba-se que Teófilo Dias recorre a um descritivismo inexistente no original ao mencionar uma “esteira de áurea espuma” (trecho cuja sonoridade atinge alto nível poético: os ditongos e encontros consonantais chegam a sugerir o oscilante voo da ave e até mesmo a ideia do navio cortando a esteira marinha). A propósito, dos que tomamos para análise, ele é o único que não traduz les hommes d’équipage por “os homens da equipagem”. Cada um pinta a figura dos gouffres amers de um jeito diferente: “vórtices amargos”, “abismos salgados”, “glaucos patamares”. Este último substitui a amargura pelo tom esverdeado, dando outro sentido ao verso. Entretanto, com mares-patamares Ivan mantém o jogo de palavras entre mers-amers, em que a segunda palavra engloba a primeira. Pour s’amuser apresenta soluções muito interessantes, sendo “por prazer” (Guilherme de Almeida, Ivan Junqueira) a mais próxima semântica e sonoramente; ademais, nos deparamos com “por brinquedo” (Felix Pacheco), “por diversão” (Teófilo Dias), “em recreio” (Onestaldo de Pennafort), “por folgar” (Jamil Almansur Haddad).
É importante notar como o poema trabalha com contraposições imagéticas do começo ao fim: primeiro, os marinheiros no chão e o albatroz no céu; em seguida, as tábuas do convés (rude, forjado) e as asas brancas (suave, natural); após, a lembrança de uma ave bela e o encontro de uma ave arruinada; por fim, o sumo da queda e o sumo do exílio no nefelibata. Os tradutores logram trabalhar de maneira própria esses contrastes:
“E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado”
(Jamil A. Haddad)
“Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!”
(Onestaldo de Pennafort)
“Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.”
(Guilherme de Almeida)
Alguns acréscimos e alterações visam somente a manutenção da métrica e da rima, como vemos em limbo-cachimbo, nimbo-cachimbo, costuma-espuma, ousados-salgados. Contudo, antes de criticá-las como afastamentos do poema original, devemos analisar se no conjunto final são alterações pífias, ou se realmente possuem significância, pois, como percebemos no “esteira de áurea espuma” de Teófilo dias, essa alteração representou um ganho sonoro para o poema. A meu ver, em todos esses casos, as alterações são válidas, pois não prejudicam a compreensão do original, e as traduções não se afastam formalmente do mesmo. No fim, são leituras condicionadas por pensamentos de épocas diversas. Temos, atualmente, projetos de tradução ainda mais ousados, como o de Mário Laranjeira, que traduziu As Flores do Mal com rimas toantes, e o de Álvaro Faleiros, que procura em seu projeto de tradução resgatar o prosaísmo baudelaireano em detrimento da perfeição dos alexandrinos e das rimas.
Entretanto, se a ideia é selecionar dentre as estudadas uma versão em que a proximidade ao conteúdo original se faz mais explícita, eu escolheria a de Guilherme de Almeida. Embora não atinja a todo momento os melhores resultados (perde-se, por exemplo, a caracterização dos abismos no quarto verso), ela apresenta uma unidade muito próxima do original, uma tentativa de recuperar ao máximo os recursos e vocábulos franceses sem transbordar de sentimentos próprios do tradutor.
Após esta breve análise que visava à exaltação do poema de Baudelaire e do ato tradutório executado por alguns de seus maiores seguidores, apresento minha tradução do poema, que não é nada mais que uma leitura pessoal de versos que tanto admiro, e para a qual busquei resultados diferentes dos apresentados aqui. Formalmente, mantive os versos alexandrinos com cesura na sexta sílaba e segui o mesmo esquema de rimas cruzadas do original. Como os demais, não logrei a transposição regular do esquema rímico francês. Só me ocorreu fazê-lo na última estrofe.
Concedi-me alguma liberdade na construção das sentenças, prezando sempre pela manutenção do sentido e das imagens; alguns termos, somente, foram acrescentados, suprimidos e alterados para fins métricos e sonoros, como é o caso sobretudo de “prince des nuées” tornado “nobre superno”, e “au milieu des huées” tornado “preso ao mundano inferno”. Essa última, eu creio que seja a transposição que mais se afasta do original, mas não acuso nela perda de sentido, tendo em mente a concepção de multidão na obra de Baudelaire como apontamos neste ensaio. Enfim, todas essas releituras foram pensadas tanto para o afastamento de minha tradução das demais quanto para não me tornar um fidus interpres da obra original, dando um pouco de mim ao poema na medida do inofensivo.
Tradução autoral
O ALBATROZ
No tédio, é bem comum que os marinheiros peguem
À força do alto-mar imensos albatrozes
Que, indolentes, a nau acompanhando, seguem
A deslizar por sobre os pélagos atrozes.
E basta que ao convés arremessados sejam
Para que os reis do azul, acanhados e mancos,
Deixem tombar consigo as vastas mãos que adejam
Qual se fossem um par de longos remos brancos.
Pobre alado viajor, como é canhestra e lassa
Sua figura outrora altiva e ora tão feia!
Um, tomando um cachimbo, irrita-o com a fumaça,
Outro, a zombar do enfermo órfão do céu, coxeia!
O Poeta é semelhante a esse nobre superno
Que, acima, ri do arqueiro e afronta os vendavais:
Exilado no chão, preso ao mundano inferno,
Vacila rastejando as asas colossais.
Traduções estudadas
Teófilo Dias (1854-1889)
O ALBATROZ
A Arthur de Oliveira
O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.
Mal se expõe do convés ás gargalhadas francas,
O herói, que aos céus vingava os páramos extremos,
Deixa piedosamente as grandes asas brancas
Colherem-se nos pés, como esquecidos remos.
Como a envergura audaz comicamente agita,
Sem o garbo, o primor, que altívolo ostentava!
Um, metendo-lhe ao bico um ferro em brasa, o irrita;
Outro — inválido — apupa o enfermo que voava!
O poeta é como o rei do etéreo azul profundo,
Que ama os tufões, e fita, em face, o sol radiante:
Da turba exposto ao rir no exílio deste mundo,
Impedem-no de — andar — as asas de gigante!
Felix Pacheco (1879-1935)
O ALBATROZ
Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.
E, mal no tombadilho assim os vão pousando,
como esses reis do azul se aviltam logo, esquerdos,
As asas sem medida e brancas semelhando
Dous remos laterais que se arrestassem lerdos!
Tão belo, não faz muito, e, ora, que cousa ignava!
O nauta audaz dos céus, como parece à toa!
Qual com um cachimbo aceso o bico lhe irritava,
E outro zomba, a coxear, do enfermo que não voa.
A seta e o raio entanto olhara com denodo,
E o Poeta é em tudo igual a esse príncipe do ar:
Exilado na terra, em meio a vaia e o apodo,
As asas de gigante o impedem de marchar!
Guilherme de Almeida (1890-1969)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens de equipagem
Pegam um albatroz, enorme ave marinha,
Que segue, companheiro indolente de viagem,
O navio que sobre os abismos caminha.
Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.
Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo!
Ave tão bela, como está cômica e feia!
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo,
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeia!
O poeta é semelhante ao príncipe da altura
Que busca a tempestade e ri da flecha no ar;
Exilado no chão, em meio à corja impura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Onestaldo de Pennafort (1902-1987)
O ALBATROZ
Às vezes, em recreio, os homens da equipagem
pegam um albatroz, enorme ave marinha
que segue, companheiro indolente de viagem,
o navio que sobre o atro abismo caminha.
Mal no convés se vê, todo desconjuntado,
logo esse rei do azul, em passos desiguais,
como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado,
desajeitadamente, as asas colossais.
Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!
O poeta é o albatroz que nas nuvens se espraia,
que ri dos vendavais e afronta as setas, no ar;
exilado no solo, em meio ao riso e à vaia,
suas asas de gigante impedem-no de andar.
Jamil Almansur Haddad (1914-1988)
O ALBATROZ
Às vezes, por folgar, os homens da equipagem
Pegam de um albatroz, enorme ave do mar,
Que segue — companheiro indolente de viagem —
O navio no abismo amargo a deslizar.
E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado.
O alado viajor tomba como num limbo!
Hoje é cômico e feio, ontem tanto agradava!
Um ao seu bico leva o irritante cachimbo,
Outro imita a coxear o enfermo que voava!
O Poeta é semelhante ao príncipe do céu
Que do arqueiro se ri e da tormenta no ar;
Exilado na terra e em meio do escarcéu,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Ivan Junqueira (1934-2014)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.
Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em que fulge um branco imaculado.
Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça,
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!
O Poeta se compara ao príncipe da altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Pedro Mohallem é graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)
Charles Baudelaire (1821-1867)[/caption]
Les Fleurs du Mal, seu maior legado, representa um marco na literatura, na poesia e na compreensão do homem moderno; não à toa, Otto Maria Carpeaux chama o poeta de “fundador da poesia lírica moderna”. “L’Albatros”, dentre os inaugurais do livro, é um poema emblemático tanto para a obra do francês quanto para toda uma geração decadentista que se levantava no ocidente contra a mesmice e a monotonia que se tornaram o Romantismo e o Parnasianismo (excetuando-se, claro, os grandes autores dessas escolas, que, a despeito das divergências ideológicas, permaneceriam exemplares ao gosto moderno). Escrito em alexandrinos franceses, seus quatro quartetos descrevem o sadismo de uma tripulação que captura albatrozes no alto-mar, torturando-os e rindo de seu desajeito; ao fim, tem-se a comparação que sela as imagens do poema: o poeta é como o albatroz que, exilado no chão, não pode andar devido à inconveniência das asas gigantescas.
Bem mais que um símbolo, esse poema é uma alegoria. O albatroz exilado no solo sangra a cada passo desferido contra o chão de pedra em meio ao caos da multidão latente – e assim é o poeta moderno que se afoga no escarcéu das cidades: perdida a capacidade de voar, perde também seu posto como príncipe das alturas. Semelhante argumento em símiles bem parecidos é apresentado no poema anterior, “Bênção”, no qual acerca do poeta lemos, pela tradução de Ivan Junqueira (As Flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. p. 131), que:
Às nuvens ele fala, aos ventos desafia
E a via-sacra entre canções percorre em festa;
O Espírito que o segue em sua romaria
Chora ao vê-lo feliz como ave da floresta.
Os que ele quer amar o observam com receio,
Ou então, por desprezo à sua estranha paz,
Buscam quem saiba acometê-lo em pleno seio,
E empenham-se em sangrar a fera que ele traz.
Além de abordar alguns dos principais motivos dAs Flores do Mal, i.e., o Exílio, a Queda, a Multidão, o Spleen e o Sublime, “L’Albatros” prenuncia a nova identidade do Poeta ante a modernização do final do século: o dândi acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas.
Há que se perceber o avanço dessas ideias: como dito anteriormente, o que reinava no ocidente então era a ideologia emancipatória de românticos e parnasianos. Aqueles, fugindo ao progresso, voltavam-se ao exótico e ao esotérico; estes, inspirados pelo passado remoto da Grécia e pelos ícones artificiais que a representavam, promoviam o autoexílio na Beleza e a arte com o fim em si própria, sem interesse no engajamento social. De um, Baudelaire herdou o catolicismo e o satanismo; de outro, a mitologia e a perfeição formal. No entanto, se nele reencontramos a questão do Exílio, esta já é tratada de maneira completamente diversa: o poeta que se trancava em seu gabinete (a famosa torre de mármore), abrindo seus braços para o Etéreo e os ouvidos para a voz de Deus, é agora um transeunte privado desse posto de xamã. Sobre o tema do exílio em “L’Albatros”, diz Ivan Junqueira (Baudelaire, Eliot, Dylan Thomas: três visões da modernidade. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 71):
"[...] encontra, ao menos para nós, sua mais alta expressão poética na insólita imagem desse pássaro privado do espaço, dessa ave que se arrasta, “ridícula e sublime”, entre as vicissitudes de um mundo que não é o seu. Poder-se-ia conceber imagem mais tangível e tramática da Queda, da expulsão do Paraíso, do que a desse majestoso e todavia impotente albatroz lançado às tábuas de um convés?"
Desde o pecado original, o homem vive alheio aos desígnios divinos, e o poeta era o eleito dentre os homens para promover a correspondência entre o mundo visível e o mundo ideal; entretanto, não há mais consonância entre o que acontece no plano visível e no plano etéreo: o progresso e o ideal nunca se reencontrariam.
No Brasil, sabe-se que o Romantismo e o Parnasianismo (o segundo mais que o primeiro) por muito tempo ofuscaram o que viria a ser o Simbolismo de um Cruz e Souza, de um Alphonsus de Guimaraens e de um Pedro Kilkerry, o satanismo de um Teófilo Dias e de um Carvalho Júnior. O parnaso se instalou e sobreviveu por aqui mais que em qualquer outro lugar, de forma que tais poetas só seriam resgatados pelos modernistas e pós-modernistas. Esses autores, por muitas décadas marginalizados, foram os principais responsáveis pela chegada de Baudelaire à terra da santa cruz. Quanto a “L’Albatros”, ou “O Albatroz”, como o chamaríamos, tem-se uma contradição bastante curiosa: o poema-escudo de Olavo Bilac e emblema do Parnasianismo brasileiro, o soneto “Longe do estéril turbilhão” da rua seria publicado somente em 1919, mais de sessenta anos após Les Fleurs Du Mal perfurarem a Literatura com seus espinhos retorcidos.
Se custou para que o poeta decadente caísse ao gosto do público francês (sabe-se que, na época de sua publicação, fora duramente reprimido), ainda mais custou para que o príncipe da altura tombasse definitivamente ao turbilhão da rua, sobretudo em nossa pátria de vanguardas tardias. Entretanto, quase que paradoxalmente, temos para o português diversas traduções de “O Albatroz” – o poema, creio, mais traduzido de Baudelaire. Algumas datam antes mesmo do soneto de Bilac. Guilherme de Almeida (1944), Ivan Junqueira (Op.Cit.), Teófilo Dias (1878), Felix Pacheco(1932), Onestaldo de Pennafort (1931), Jamil Almansur Haddad (1958), entre outros, divulgaram por aqui a palavra do poeta-profeta francês. Pretendo ater-me às traduções aqui mencionadas e pôr um jugo analítico sobre algumas escolhas desses autores.
Algo já se conclui das primeiras leituras: dentre as selecionadas, a tradução de Guilherme de Almeida é uma das mais fluentes, ao passo que a tradução de Teófilo Dias apresenta os maiores arcaísmos; salvo por Felix Pacheco, todas traduzem des albatros, no plural, por um albatroz, no singular; algumas reprimem a liberdade transcriativa, outras lançam-lhe mão a bel prazer; todas, enfim, dão um sabor tropical ao oceano navegado.
Formalmente, todos os poetas mencionados mantiveram a correspondência métrica, traduzindo o alexandrino francês como alexandrino português, ambos com doze sílabas poéticas. Junqueira é o único que apresenta ocasionalmente versos sem a cesura na sexta sílaba do alexandrino clássico. Nenhum manteve o esquema rímico francês de oxítonas e paroxítonas alternadas, visto que se trata de um recurso idiomático que não caberia preservar em nossa língua. Comparando os resultados, percebemos muitas consonâncias, versos quase cristalizados e imutáveis por terem talvez atingido o ideal da tradução poética, como é o caso do último:
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
“Impedem-no de — andar — as asas de gigante!” (Teófilo Dias)
“As asas de gigante o impedem de marchar!” (Felix Pacheco)
“As asas de gigante impedem-no de andar.” (Ivan Junqueira, Guilherme de Almeida e Jamil Almansur Haddad)
“suas asas de gigante impedem-no de andar.” (Onestaldo de Pennafort)
O mesmo não se percebe em momentos mais narrativos, como o da primeira estrofe:
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
“O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.”
(Teófilo Dias)
“Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.”
(Felix Pacheco)
“Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.”
(Ivan Junqueira)
Perceba-se que Teófilo Dias recorre a um descritivismo inexistente no original ao mencionar uma “esteira de áurea espuma” (trecho cuja sonoridade atinge alto nível poético: os ditongos e encontros consonantais chegam a sugerir o oscilante voo da ave e até mesmo a ideia do navio cortando a esteira marinha). A propósito, dos que tomamos para análise, ele é o único que não traduz les hommes d’équipage por “os homens da equipagem”. Cada um pinta a figura dos gouffres amers de um jeito diferente: “vórtices amargos”, “abismos salgados”, “glaucos patamares”. Este último substitui a amargura pelo tom esverdeado, dando outro sentido ao verso. Entretanto, com mares-patamares Ivan mantém o jogo de palavras entre mers-amers, em que a segunda palavra engloba a primeira. Pour s’amuser apresenta soluções muito interessantes, sendo “por prazer” (Guilherme de Almeida, Ivan Junqueira) a mais próxima semântica e sonoramente; ademais, nos deparamos com “por brinquedo” (Felix Pacheco), “por diversão” (Teófilo Dias), “em recreio” (Onestaldo de Pennafort), “por folgar” (Jamil Almansur Haddad).
É importante notar como o poema trabalha com contraposições imagéticas do começo ao fim: primeiro, os marinheiros no chão e o albatroz no céu; em seguida, as tábuas do convés (rude, forjado) e as asas brancas (suave, natural); após, a lembrança de uma ave bela e o encontro de uma ave arruinada; por fim, o sumo da queda e o sumo do exílio no nefelibata. Os tradutores logram trabalhar de maneira própria esses contrastes:
“E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado”
(Jamil A. Haddad)
“Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!”
(Onestaldo de Pennafort)
“Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.”
(Guilherme de Almeida)
Alguns acréscimos e alterações visam somente a manutenção da métrica e da rima, como vemos em limbo-cachimbo, nimbo-cachimbo, costuma-espuma, ousados-salgados. Contudo, antes de criticá-las como afastamentos do poema original, devemos analisar se no conjunto final são alterações pífias, ou se realmente possuem significância, pois, como percebemos no “esteira de áurea espuma” de Teófilo dias, essa alteração representou um ganho sonoro para o poema. A meu ver, em todos esses casos, as alterações são válidas, pois não prejudicam a compreensão do original, e as traduções não se afastam formalmente do mesmo. No fim, são leituras condicionadas por pensamentos de épocas diversas. Temos, atualmente, projetos de tradução ainda mais ousados, como o de Mário Laranjeira, que traduziu As Flores do Mal com rimas toantes, e o de Álvaro Faleiros, que procura em seu projeto de tradução resgatar o prosaísmo baudelaireano em detrimento da perfeição dos alexandrinos e das rimas.
Entretanto, se a ideia é selecionar dentre as estudadas uma versão em que a proximidade ao conteúdo original se faz mais explícita, eu escolheria a de Guilherme de Almeida. Embora não atinja a todo momento os melhores resultados (perde-se, por exemplo, a caracterização dos abismos no quarto verso), ela apresenta uma unidade muito próxima do original, uma tentativa de recuperar ao máximo os recursos e vocábulos franceses sem transbordar de sentimentos próprios do tradutor.
Após esta breve análise que visava à exaltação do poema de Baudelaire e do ato tradutório executado por alguns de seus maiores seguidores, apresento minha tradução do poema, que não é nada mais que uma leitura pessoal de versos que tanto admiro, e para a qual busquei resultados diferentes dos apresentados aqui. Formalmente, mantive os versos alexandrinos com cesura na sexta sílaba e segui o mesmo esquema de rimas cruzadas do original. Como os demais, não logrei a transposição regular do esquema rímico francês. Só me ocorreu fazê-lo na última estrofe.
Concedi-me alguma liberdade na construção das sentenças, prezando sempre pela manutenção do sentido e das imagens; alguns termos, somente, foram acrescentados, suprimidos e alterados para fins métricos e sonoros, como é o caso sobretudo de “prince des nuées” tornado “nobre superno”, e “au milieu des huées” tornado “preso ao mundano inferno”. Essa última, eu creio que seja a transposição que mais se afasta do original, mas não acuso nela perda de sentido, tendo em mente a concepção de multidão na obra de Baudelaire como apontamos neste ensaio. Enfim, todas essas releituras foram pensadas tanto para o afastamento de minha tradução das demais quanto para não me tornar um fidus interpres da obra original, dando um pouco de mim ao poema na medida do inofensivo.
Tradução autoral
O ALBATROZ
No tédio, é bem comum que os marinheiros peguem
À força do alto-mar imensos albatrozes
Que, indolentes, a nau acompanhando, seguem
A deslizar por sobre os pélagos atrozes.
E basta que ao convés arremessados sejam
Para que os reis do azul, acanhados e mancos,
Deixem tombar consigo as vastas mãos que adejam
Qual se fossem um par de longos remos brancos.
Pobre alado viajor, como é canhestra e lassa
Sua figura outrora altiva e ora tão feia!
Um, tomando um cachimbo, irrita-o com a fumaça,
Outro, a zombar do enfermo órfão do céu, coxeia!
O Poeta é semelhante a esse nobre superno
Que, acima, ri do arqueiro e afronta os vendavais:
Exilado no chão, preso ao mundano inferno,
Vacila rastejando as asas colossais.
Traduções estudadas
Teófilo Dias (1854-1889)
O ALBATROZ
A Arthur de Oliveira
O nauta, muita vez, por diversão, costuma
Apanhar o albatroz, águia dos mares largos,
Que segue desdenhoso a esteira de áurea espuma
Da nau que talha a onda em vórtices amargos.
Mal se expõe do convés ás gargalhadas francas,
O herói, que aos céus vingava os páramos extremos,
Deixa piedosamente as grandes asas brancas
Colherem-se nos pés, como esquecidos remos.
Como a envergura audaz comicamente agita,
Sem o garbo, o primor, que altívolo ostentava!
Um, metendo-lhe ao bico um ferro em brasa, o irrita;
Outro — inválido — apupa o enfermo que voava!
O poeta é como o rei do etéreo azul profundo,
Que ama os tufões, e fita, em face, o sol radiante:
Da turba exposto ao rir no exílio deste mundo,
Impedem-no de — andar — as asas de gigante!
Felix Pacheco (1879-1935)
O ALBATROZ
Muita vez, por brinquedo, os homens da equipagem
Deitam mão, no alto oceano, a albatrozes ousados,
que, num voo indolente, acompanhando a viagem,
seguem a nau que fende os abismos salgados.
E, mal no tombadilho assim os vão pousando,
como esses reis do azul se aviltam logo, esquerdos,
As asas sem medida e brancas semelhando
Dous remos laterais que se arrestassem lerdos!
Tão belo, não faz muito, e, ora, que cousa ignava!
O nauta audaz dos céus, como parece à toa!
Qual com um cachimbo aceso o bico lhe irritava,
E outro zomba, a coxear, do enfermo que não voa.
A seta e o raio entanto olhara com denodo,
E o Poeta é em tudo igual a esse príncipe do ar:
Exilado na terra, em meio a vaia e o apodo,
As asas de gigante o impedem de marchar!
Guilherme de Almeida (1890-1969)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens de equipagem
Pegam um albatroz, enorme ave marinha,
Que segue, companheiro indolente de viagem,
O navio que sobre os abismos caminha.
Mal o põem no convés por sobre as pranchas rasas,
Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado,
Deixa doridamente as grandes e alvas asas
Como remos cair e arrastar-se a seu lado.
Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo!
Ave tão bela, como está cômica e feia!
Um o irrita chegando ao seu bico um cachimbo,
Outro põe-se a imitar o enfermo que coxeia!
O poeta é semelhante ao príncipe da altura
Que busca a tempestade e ri da flecha no ar;
Exilado no chão, em meio à corja impura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Onestaldo de Pennafort (1902-1987)
O ALBATROZ
Às vezes, em recreio, os homens da equipagem
pegam um albatroz, enorme ave marinha
que segue, companheiro indolente de viagem,
o navio que sobre o atro abismo caminha.
Mal no convés se vê, todo desconjuntado,
logo esse rei do azul, em passos desiguais,
como dois remos, põe-se a arrastar a seu lado,
desajeitadamente, as asas colossais.
Esse alado viajor, como é grotesco andando!
Ei-lo horrível e inerme, ele que antes pairava!
Um chega-lhe o cachimbo ao bico, e outro, coxeando,
arremeda no andar o pobre que voava!
O poeta é o albatroz que nas nuvens se espraia,
que ri dos vendavais e afronta as setas, no ar;
exilado no solo, em meio ao riso e à vaia,
suas asas de gigante impedem-no de andar.
Jamil Almansur Haddad (1914-1988)
O ALBATROZ
Às vezes, por folgar, os homens da equipagem
Pegam de um albatroz, enorme ave do mar,
Que segue — companheiro indolente de viagem —
O navio no abismo amargo a deslizar.
E por sobre o convés, mal estendido apenas,
O imperador do azul, canhestro e envergonhado,
Asas que enchem de dó, grandes e de alvas penas,
Eis que deixa arrastar como remos ao lado.
O alado viajor tomba como num limbo!
Hoje é cômico e feio, ontem tanto agradava!
Um ao seu bico leva o irritante cachimbo,
Outro imita a coxear o enfermo que voava!
O Poeta é semelhante ao príncipe do céu
Que do arqueiro se ri e da tormenta no ar;
Exilado na terra e em meio do escarcéu,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Ivan Junqueira (1934-2014)
O ALBATROZ
Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.
Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em que fulge um branco imaculado.
Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça,
Outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado!
O Poeta se compara ao príncipe da altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar.
Pedro Mohallem é graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

Hitler e Stálin, os dois maiores assassinos da história, se mereciam, mas, em se tratando de assassinato em massa, o bigodão soviético ganha de 7 a 1 do bigodinho nazista
[caption id="attachment_87139" align="alignnone" width="620"] Vladimir Lenin, principal líder da Revolução Bolchevique de 1917[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
Este ano lembramos os cem anos da Revolução Russa, aquela que acabaria com a opressão dos czares e daria uma vida nova para os trabalhadores. Porém, o resultado foi a criação da União Soviética, um estado totalitário que tocou o terror na Europa Oriental e fez as cabeças de muitos ocidentais até 1991.
Vladmir Lênin, líder da revolução, disse que o futuro pertence a Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. No centenário da revolução, a gente percebe que o único futuro da Jovem Guarda foi o Roberto Carlos Especial.
Interessante que, no Brasil, a Jovem Guarda, que seria a avalanche revolucionária juvenil, tenha sido usada como nome de um grupo de cantores que tocavam guitarras elétricas, ou seja, símbolo maior do imperialismo ianque nos anos 1960. Provavelmente nem Lênin, nem Stálin e muitos menos Trotsky cantariam iê-iê-iê. Eles jogariam as guitarras no chão e brigariam com foice e martelo na mão.
O Brasil sempre acolhe de braços abertos as ideias feitas lá fora e que não deram muito certo. Os soviéticos baniram a religião da Rússia pós-revolucionária. Mas por aqui, os camaradas conseguem misturar cristianismo com marxismo e o resultado é Leonardo Boff e Frei Betto, dois ex - religiosos que são mais fiéis ao Partido do que ao Criador.
Josef Stálin, outro líder soviético, fez uma aliança com Adolf Hitler pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Os dois maiores assassinos da história deram as mãos. Eles se mereciam, mas, em se tratando de assassinato em massa, o bigodão soviético ganha de 7 a 1 do bigodinho nazista.
Intelectuais do Ocidente simpatizantes das ideias revolucionárias visitaram a União Soviética com o intuito de mostrar que as notícias negativas contra Moscou eram coisas feitas pela CIA ou por alguma alma pessimamente informada, alienada, comprometida com o capital internacional e que queria desfazer as maravilhas ocorridas na Rússia pós-1917. Ao escreverem sobre o mundo soviético, nenhuma palavra sobre os Gulags construídos por Stálin para prender, torturar e matar seus inimigos.
[relacionadas artigos="86066"]
Jean Paul Sartre foi um dos intelectuais que visitaram a URSS. Ele não é Caetano Veloso, mas disse que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Para o pai do Existencialismo, não existia nenhum pecado na União Soviética. O inferno são os outros e não a URSS. Muitos intelectuais vão a Cuba, outro paraíso comunista depois da URSS, mostrar que tudo está lindo, tudo está maravilhoso também. Eles odeiam as ditaduras que barbarizaram a América Latina no século passado, mas louvam a ditadura do proletariado.
2017 não é apenas o centenário da Revolução Russa, mas também os quarenta anos de morte de Elvis Presley. O Pravda, jornal oficial do Partido Comunista Soviético, escreveu que o Rei do Rock morreu vítima da exploração do capitalismo. Tudo o que sai no jornal oficial de qualquer partido comunista deve ser lido com Suspicious Mind, ou seja, mentes desconfiadas, clássico de Elvis do comecinho dos anos 1970.
E já que falamos de música, vamos concluir dizendo que Back to the USSR só se for a música dos Beatles.
Carlos César Higa é mestre em história e professor das redes estadual e particular de ensino, em Goiânia.
Vladimir Lenin, principal líder da Revolução Bolchevique de 1917[/caption]
Carlos César Higa
Especial para o Jornal Opção
Este ano lembramos os cem anos da Revolução Russa, aquela que acabaria com a opressão dos czares e daria uma vida nova para os trabalhadores. Porém, o resultado foi a criação da União Soviética, um estado totalitário que tocou o terror na Europa Oriental e fez as cabeças de muitos ocidentais até 1991.
Vladmir Lênin, líder da revolução, disse que o futuro pertence a Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. No centenário da revolução, a gente percebe que o único futuro da Jovem Guarda foi o Roberto Carlos Especial.
Interessante que, no Brasil, a Jovem Guarda, que seria a avalanche revolucionária juvenil, tenha sido usada como nome de um grupo de cantores que tocavam guitarras elétricas, ou seja, símbolo maior do imperialismo ianque nos anos 1960. Provavelmente nem Lênin, nem Stálin e muitos menos Trotsky cantariam iê-iê-iê. Eles jogariam as guitarras no chão e brigariam com foice e martelo na mão.
O Brasil sempre acolhe de braços abertos as ideias feitas lá fora e que não deram muito certo. Os soviéticos baniram a religião da Rússia pós-revolucionária. Mas por aqui, os camaradas conseguem misturar cristianismo com marxismo e o resultado é Leonardo Boff e Frei Betto, dois ex - religiosos que são mais fiéis ao Partido do que ao Criador.
Josef Stálin, outro líder soviético, fez uma aliança com Adolf Hitler pouco antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Os dois maiores assassinos da história deram as mãos. Eles se mereciam, mas, em se tratando de assassinato em massa, o bigodão soviético ganha de 7 a 1 do bigodinho nazista.
Intelectuais do Ocidente simpatizantes das ideias revolucionárias visitaram a União Soviética com o intuito de mostrar que as notícias negativas contra Moscou eram coisas feitas pela CIA ou por alguma alma pessimamente informada, alienada, comprometida com o capital internacional e que queria desfazer as maravilhas ocorridas na Rússia pós-1917. Ao escreverem sobre o mundo soviético, nenhuma palavra sobre os Gulags construídos por Stálin para prender, torturar e matar seus inimigos.
[relacionadas artigos="86066"]
Jean Paul Sartre foi um dos intelectuais que visitaram a URSS. Ele não é Caetano Veloso, mas disse que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Para o pai do Existencialismo, não existia nenhum pecado na União Soviética. O inferno são os outros e não a URSS. Muitos intelectuais vão a Cuba, outro paraíso comunista depois da URSS, mostrar que tudo está lindo, tudo está maravilhoso também. Eles odeiam as ditaduras que barbarizaram a América Latina no século passado, mas louvam a ditadura do proletariado.
2017 não é apenas o centenário da Revolução Russa, mas também os quarenta anos de morte de Elvis Presley. O Pravda, jornal oficial do Partido Comunista Soviético, escreveu que o Rei do Rock morreu vítima da exploração do capitalismo. Tudo o que sai no jornal oficial de qualquer partido comunista deve ser lido com Suspicious Mind, ou seja, mentes desconfiadas, clássico de Elvis do comecinho dos anos 1970.
E já que falamos de música, vamos concluir dizendo que Back to the USSR só se for a música dos Beatles.
Carlos César Higa é mestre em história e professor das redes estadual e particular de ensino, em Goiânia.

"Uma Mulher Fantástica", filme do diretor chileno Sebastián Lelio, traz à tona novamente a discussão sobre o preconceito ao mostrar a história de uma transsexual
[caption id="attachment_87129" align="aligncenter" width="620"] Marina, personagem da atriz transsexual Daniela Vega, traz à tona no Festival de Berlim o debate sobre preconceito e sobre os tempos conservadores vividos pelo mundo atualmente[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
"Será que os espectadores estão preparados para ver um filme com transsexual? Eu acho que não", diz o cineasta chileno Sebastián Lelio, realizador do filme que é uma provocação até no título: "Uma Mulher Fantástica". A mulher do filme, que é amante de um empresário que morre subitamente de um aneurisma, é interpretada colombiana Daniela Vega, transsexual.
Sebastián Lelio é conhecido em Berlim, pois ganhou o Urso de Prata de melhor interpretação feminina com seu terceiro filme, "Glória". Para ele, fazer filme com personagem principal feminino é alguma coisa intuitiva, fora a fascinação e a atração provocada por filmar alguém diferente de sua condição masculina.
[relacionadas artigos="87068, 86888, 86807"]
Assim como em "Glória", a mulher fantástica Marina é do gênero forte, marcante e autossuficiente, como definiu a atriz Daniela Vega. No filme, a personagem é vítima de acusações e perseguições da família do amante falecido, por ser algo diferente dentro dos conceitos admitidos, visto que, tendo nascido homem, se transformara numa mulher, bela mulher por sinal. Marina é uma transsexual, fazendo parte, portanto, do catálogo de rejeições dos conservadores. E isso inclui não apenas pessoas, como religiões e mesmo países.
Durante a entrevista com a crítica, o cineasta Sebastián Lelio aproveitou para se pronunciar em favor das diferenças sexuais. "Nosso mundo ocidental parece ser mais civilizado e defende uma bandeira humanista que aceita nossas diferenças inclusive sexuais, mas as famílias conservadoras talvez não estejam preparadas para aceitar a inclusão dos transsexuais dentro da família".
E, diante do ressurgimento do populismo, mesmo sem citar Donald Trump, Sebastián Lelio coloca uma questão atual: "Como sociedade global, vivemos um momento delicado, diante da contracorrente que ameaça fazer recuar todos os avanços por nós obtidos nos últimos tempos. Que mundo estamos construindo: um mundo de muralhas e guetos ou um mundo de inclusão e vida comum? Assistimos atualmente ao choque dessa colisão de forças e de energias. E o resultado dirá para onde iremos, não só no Chile mas no mundo inteiro, sobre os amores possíveis e impossíveis. Meu filme não pretende dar uma resposta para tudo, mas quer saber qual será a reação dos espectadores".
Na linha das provocações, a atriz Daniela Vega, respondendo a uma resposta sobre qual seu próximo papel, responde: "Gostaria de viver o papel de uma mulher grávida".
Qual a história do filme "Uma Mulher Fantástica", que irá provocar reações e escândalos? Um empresário de 57 anos, Orlando, tem um caso de amor com Marina, mulher transsexual, com quem vive e pela qual rompeu o casamento legal. No aniversário de Marina, bem mais nova, depois de uma comemoração no restaurante e de terem se amado, Orlando acorda de noite se sentindo mal, acaba rolando pela escada e, embora levado ao hospital com urgência, morre.
Marina não é aceita como uma normal amante de Orlando, cuja família lhe impede mesmo de ir à cerimônia do enterro. Num encontro no qual Marina entrega a chave do carro de Orlando à esposa legal, esta lhe fala que a opção de Orlando poderia ser considerada uma perversão. Mesmo a polícia considera Marina suspeita pela morte do amante.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema
Marina, personagem da atriz transsexual Daniela Vega, traz à tona no Festival de Berlim o debate sobre preconceito e sobre os tempos conservadores vividos pelo mundo atualmente[/caption]
Rui Martins
Especial para o Jornal Opção, de Berlim
"Será que os espectadores estão preparados para ver um filme com transsexual? Eu acho que não", diz o cineasta chileno Sebastián Lelio, realizador do filme que é uma provocação até no título: "Uma Mulher Fantástica". A mulher do filme, que é amante de um empresário que morre subitamente de um aneurisma, é interpretada colombiana Daniela Vega, transsexual.
Sebastián Lelio é conhecido em Berlim, pois ganhou o Urso de Prata de melhor interpretação feminina com seu terceiro filme, "Glória". Para ele, fazer filme com personagem principal feminino é alguma coisa intuitiva, fora a fascinação e a atração provocada por filmar alguém diferente de sua condição masculina.
[relacionadas artigos="87068, 86888, 86807"]
Assim como em "Glória", a mulher fantástica Marina é do gênero forte, marcante e autossuficiente, como definiu a atriz Daniela Vega. No filme, a personagem é vítima de acusações e perseguições da família do amante falecido, por ser algo diferente dentro dos conceitos admitidos, visto que, tendo nascido homem, se transformara numa mulher, bela mulher por sinal. Marina é uma transsexual, fazendo parte, portanto, do catálogo de rejeições dos conservadores. E isso inclui não apenas pessoas, como religiões e mesmo países.
Durante a entrevista com a crítica, o cineasta Sebastián Lelio aproveitou para se pronunciar em favor das diferenças sexuais. "Nosso mundo ocidental parece ser mais civilizado e defende uma bandeira humanista que aceita nossas diferenças inclusive sexuais, mas as famílias conservadoras talvez não estejam preparadas para aceitar a inclusão dos transsexuais dentro da família".
E, diante do ressurgimento do populismo, mesmo sem citar Donald Trump, Sebastián Lelio coloca uma questão atual: "Como sociedade global, vivemos um momento delicado, diante da contracorrente que ameaça fazer recuar todos os avanços por nós obtidos nos últimos tempos. Que mundo estamos construindo: um mundo de muralhas e guetos ou um mundo de inclusão e vida comum? Assistimos atualmente ao choque dessa colisão de forças e de energias. E o resultado dirá para onde iremos, não só no Chile mas no mundo inteiro, sobre os amores possíveis e impossíveis. Meu filme não pretende dar uma resposta para tudo, mas quer saber qual será a reação dos espectadores".
Na linha das provocações, a atriz Daniela Vega, respondendo a uma resposta sobre qual seu próximo papel, responde: "Gostaria de viver o papel de uma mulher grávida".
Qual a história do filme "Uma Mulher Fantástica", que irá provocar reações e escândalos? Um empresário de 57 anos, Orlando, tem um caso de amor com Marina, mulher transsexual, com quem vive e pela qual rompeu o casamento legal. No aniversário de Marina, bem mais nova, depois de uma comemoração no restaurante e de terem se amado, Orlando acorda de noite se sentindo mal, acaba rolando pela escada e, embora levado ao hospital com urgência, morre.
Marina não é aceita como uma normal amante de Orlando, cuja família lhe impede mesmo de ir à cerimônia do enterro. Num encontro no qual Marina entrega a chave do carro de Orlando à esposa legal, esta lhe fala que a opção de Orlando poderia ser considerada uma perversão. Mesmo a polícia considera Marina suspeita pela morte do amante.
Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema




