Opção cultural

[caption id="attachment_27681" align="alignnone" width="620"] Foto: Reprodução[/caption]
Paulo Lima
Tinha esse hábito estranho. Acho que nasci tarado. Desde menino, sempre fui louco por leituras e livros. Um degenerado do tipo incorrigível.
Queria porque queria compartilhar meu desejo incontido. Tinha uma queda particular por adolescentes, masculinos ou femininos — que importa? — mas saía pegando o que aparecesse: adultos, idosos, negros, nisseis... Crianças não. Eram mais difíceis de aliciar, porque estavam sempre acompanhadas de pessoas puras, que reprovavam aquelas coisas abomináveis feitas de papel e tinta.
Agia furtivamente assim: num dia qualquer, eu deixava um livro dentro de um ônibus, aleatoriamente, num assento vazio logo no início da viagem. Eu ia lá pra frente e ficava espiando, de rabo de olho, a reação de quem encontrava a preciosidade. Sim, eu era um voyeur...
O cara — ou a moça, o velho, seja lá quem fosse —, quando ia se sentar levava um susto, olhava pros lados, pra trás e pra frente, procurando o dono que certamente o tinha esquecido ali, mas o ônibus quase vazio indicava que o possível dono já tinha descido. Pegava o presente, sem saber que era um presente, começava a folhear e o resto era com ele ou ela. Eu guardava como troféu, pelo crime cometido, a imagem do rosto iluminado daquela vítima indefesa.
Lascivo, eu descia no ponto seguinte, com a sensação de dever cumprido, e entrava no próximo busão, para atacar de novo. Uma vez, quase me pegaram. Consegui disfarçar e esconder minha obscenidade. Saí de fininho.
Aquilo se tornou um vício — ou seria um fetiche? — que durante anos eu alimentei compulsivamente. Eu sonhava com o resultado que nunca viria a conhecer.
Aqueles seres teriam gostado de Machado de Assis, de Herman Hesse e Augusto dos Anjos, de Cecília Meirelles, Stanislaw Ponte Preta e Rachel de Queiroz? E suas vidas, teriam mudado depois que as toquei?
Enfim, envelheci. Adquiri carro próprio e abandonei o povaréu à própria sorte, ciente de que um dia seria julgado e condenado por mais essa transgressão.
Ainda sonho com o dia qualquer em que eu volte a entrar num ônibus qualquer, em busca da velha e prazerosa prática imoral, para não dizer imperdoável, de compartilhar minha loucura por livros e leituras.
Paulo Lima é redator publicitário desde 1988, caminhando para 26 anos de atividades ininterruptas. Contista por natureza, vocação ou sina, escreve desde mini contos a contos maiores. Nesse balaio, inclui algumas crônicas.
Foto: Reprodução[/caption]
Paulo Lima
Tinha esse hábito estranho. Acho que nasci tarado. Desde menino, sempre fui louco por leituras e livros. Um degenerado do tipo incorrigível.
Queria porque queria compartilhar meu desejo incontido. Tinha uma queda particular por adolescentes, masculinos ou femininos — que importa? — mas saía pegando o que aparecesse: adultos, idosos, negros, nisseis... Crianças não. Eram mais difíceis de aliciar, porque estavam sempre acompanhadas de pessoas puras, que reprovavam aquelas coisas abomináveis feitas de papel e tinta.
Agia furtivamente assim: num dia qualquer, eu deixava um livro dentro de um ônibus, aleatoriamente, num assento vazio logo no início da viagem. Eu ia lá pra frente e ficava espiando, de rabo de olho, a reação de quem encontrava a preciosidade. Sim, eu era um voyeur...
O cara — ou a moça, o velho, seja lá quem fosse —, quando ia se sentar levava um susto, olhava pros lados, pra trás e pra frente, procurando o dono que certamente o tinha esquecido ali, mas o ônibus quase vazio indicava que o possível dono já tinha descido. Pegava o presente, sem saber que era um presente, começava a folhear e o resto era com ele ou ela. Eu guardava como troféu, pelo crime cometido, a imagem do rosto iluminado daquela vítima indefesa.
Lascivo, eu descia no ponto seguinte, com a sensação de dever cumprido, e entrava no próximo busão, para atacar de novo. Uma vez, quase me pegaram. Consegui disfarçar e esconder minha obscenidade. Saí de fininho.
Aquilo se tornou um vício — ou seria um fetiche? — que durante anos eu alimentei compulsivamente. Eu sonhava com o resultado que nunca viria a conhecer.
Aqueles seres teriam gostado de Machado de Assis, de Herman Hesse e Augusto dos Anjos, de Cecília Meirelles, Stanislaw Ponte Preta e Rachel de Queiroz? E suas vidas, teriam mudado depois que as toquei?
Enfim, envelheci. Adquiri carro próprio e abandonei o povaréu à própria sorte, ciente de que um dia seria julgado e condenado por mais essa transgressão.
Ainda sonho com o dia qualquer em que eu volte a entrar num ônibus qualquer, em busca da velha e prazerosa prática imoral, para não dizer imperdoável, de compartilhar minha loucura por livros e leituras.
Paulo Lima é redator publicitário desde 1988, caminhando para 26 anos de atividades ininterruptas. Contista por natureza, vocação ou sina, escreve desde mini contos a contos maiores. Nesse balaio, inclui algumas crônicas.

Os contos de “Petaluma”, de Tiago Velasco, centram-se em momentos de transições absurdas e irreversíveis
[caption id="attachment_27675" align="alignright" width="300"] Em seus contos, Tiago Velasco conduz a realidade e a ficção a um efeito transformador Foto: Guilherme Lima[/caption]
Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
Há uma desnaturação recorrente nos contos de “Petaluma”, de Tiago Velasco. Personagens e lugares que se divorciam de suas características originais, transfazendo-se, coisificando-se. A única exceção fica por conta da narrativa que fecha e dá nome ao livro. Nela, o autor remonta um curto período de angústias e de incertezas, oferecendo ao leitor um relato cortante, no qual a realidade se impregna de ficção para ocultar nomes e traduzir sentimentos.
Tiago, o narrador-personagem em intercâmbio num país de língua inglesa, vai trabalhar como busboy no restaurante Petaluma. Atacado pelo desterro, pela condição de latino em meio a outros latinos que extraem de subempregos uma chance de redirecionar a vida, ele se vê escudado pela ideia redentora de ser jornalista e escritor. Chega a colaborar com sites e revistas sobre música, porém, gradualmente, a experiência se torna um trauma, cujo efeito irá ruir o relacionamento com uma namorada que viajou consigo e, ao contrário dele, não fraquejou e foi “engolida pela cidade”.
Ainda assim, o fato de o conto existir mostra que, a despeito do ressaibo, o autor-personagem cumpriu seu objetivo. Talvez, ele tenha diluído sua identidade por um momento, mas, logo à frente, a reconsolidou –– diferentemente dos demais textos em que a transformação é fatal e irreversível. Se em “Petaluma”, o conto, o autor lida com a verdade, o restante da antologia flerta com o absurdo. Um estranhamento penetrante, um não pertencimento que anula.
“A morta de São José”, cuja premissa se aparenta a do conto “A cabeça”, de Luiz Vilela, situa-se neste terreno movediço. Ali, igualmente estão “Em pedaços”, sobre um homem que acorda desmemoriado num hospital e sai pelas ruas à cata de si, e “Reflexo”, um retrato hedonista de como quebrar o ócio pode ser aterrador.
[caption id="attachment_27673" align="alignright" width="300"]
Em seus contos, Tiago Velasco conduz a realidade e a ficção a um efeito transformador Foto: Guilherme Lima[/caption]
Sérgio Tavares
Especial para o Jornal Opção
Há uma desnaturação recorrente nos contos de “Petaluma”, de Tiago Velasco. Personagens e lugares que se divorciam de suas características originais, transfazendo-se, coisificando-se. A única exceção fica por conta da narrativa que fecha e dá nome ao livro. Nela, o autor remonta um curto período de angústias e de incertezas, oferecendo ao leitor um relato cortante, no qual a realidade se impregna de ficção para ocultar nomes e traduzir sentimentos.
Tiago, o narrador-personagem em intercâmbio num país de língua inglesa, vai trabalhar como busboy no restaurante Petaluma. Atacado pelo desterro, pela condição de latino em meio a outros latinos que extraem de subempregos uma chance de redirecionar a vida, ele se vê escudado pela ideia redentora de ser jornalista e escritor. Chega a colaborar com sites e revistas sobre música, porém, gradualmente, a experiência se torna um trauma, cujo efeito irá ruir o relacionamento com uma namorada que viajou consigo e, ao contrário dele, não fraquejou e foi “engolida pela cidade”.
Ainda assim, o fato de o conto existir mostra que, a despeito do ressaibo, o autor-personagem cumpriu seu objetivo. Talvez, ele tenha diluído sua identidade por um momento, mas, logo à frente, a reconsolidou –– diferentemente dos demais textos em que a transformação é fatal e irreversível. Se em “Petaluma”, o conto, o autor lida com a verdade, o restante da antologia flerta com o absurdo. Um estranhamento penetrante, um não pertencimento que anula.
“A morta de São José”, cuja premissa se aparenta a do conto “A cabeça”, de Luiz Vilela, situa-se neste terreno movediço. Ali, igualmente estão “Em pedaços”, sobre um homem que acorda desmemoriado num hospital e sai pelas ruas à cata de si, e “Reflexo”, um retrato hedonista de como quebrar o ócio pode ser aterrador.
[caption id="attachment_27673" align="alignright" width="300"] Os contos de “Petaluma” guardam o compromisso de defender uma proposta e se saem tão bem quanto o autor, seguro na construção e na condução de sua prosa Foto: Reprodução[/caption]
Velasco adiciona doses sutis de um tipo rascante de humor em seus textos. É o que pode ser conferido no surreal “... a dois”, sobre um casal que, ao completar 40 anos de matrimônio, desperta com as pontas dos dedos da mão de um coladas nas do outro. O final é surpreendente e divertido, num estilo Monty Python de diversão.
“Estrangeiro” e “Ernesto/Andrezza” são os pontos altos, sobretudo se o leitor morar ou conhecer bem o Rio de Janeiro. O primeiro satiriza os roteiros turísticos pela cidade na pele de um carioca que, sem perceber, começa a estrangeirar. Já o segundo segue a rotina de um travesti que sonha em encontrar, entre os clientes, um “Brad Pitt para lhe sustentar”. Quando o acha, porém, o amor confronta-se à condição de ser uma mulher no corpo de um homem.
Apesar de não estabelecerem uma unidade temática, os contos de “Petaluma” guardam o compromisso de defender uma proposta e se saem tão bem quanto o autor, seguro na construção e na condução de sua prosa.
Leia um trecho de “Petaluma”, conto presente no livro de mesmo nome, do escritor Tiago Velasco:
"Hoje, nove ou dez anos depois, vejo Petaluma como a reunião das minhas neuroses. Não percebia naquele período. Não percebi durante esse tempo todo. Agora enxergo. Estou mais claro. Concreto. Não mais um fantasma. Aquele ser que passou por Petaluma.
*
1.
Acordei com o alarme polifônico do celular pré-pago compartilhado com Ela. Oito da manhã. Dormi já era mais de uma. Dois períodos de trabalho no dia anterior. Normal em Petaluma. Motivo de satisfação pra maior parte dos colegas de trabalho: money, plata, grana.
Enrolar mais um pouco na cama era impensável. Após despertar, uma energia dolorida e incômoda perpassava o corpo inteiro. Joelhos, cotovelos, calcanhares, nódulos dos dedos, as articulações existentes em mim concentravam a dor e a replicava. Ossos e veias, highways. A consciência do corpo, traumática e premonitória.
Uma hora para o banho, o café da manhã — uma fatia de pão integral com margarina I can’t believe it’s not butter e queijo, um copo de leite com chocolate em pó —, a roupa mais quente que tivesse no armário azul claro, a caminhada até o metrô suburbano, a espera pela composição da linha R, as três estações, o ônibus, uns quarteirões a pé. Menos quinze graus Celsius lá fora. E aqui, nos seis metros quadrados que divido com Ela, dentro de um apartamento de dois quartos de paredes de papel, o heater tornava o ambiente menos hostil.
A culpa, o medo, o fracasso iminente, a distância da pátria, a ausência eram reforçados toda vez que adentrava a porta de vidro de Petaluma. Ser um vencedor, como a cultura local solicitava, estava a léguas de mim, ali, no salão, rodeado de mesas e recém-colegas que dividiam tips, propinas, gorjetas.
Good morning, busboy. An expresso, please, dizia a manager russa quando não havia sonhado com Stalin e acordava de bom humor.
Good morning.
2.
Ao deixar todos pra trás, ainda no aeroporto, qualquer sensação de acolhimento se foi. O sujeito punk, ao encontro da terra punk, perdeu o moicano na apresentação da passagem à funcionária da companhia aérea. As primeiras lágrimas apareceram logo que eu e Ela saímos da vista dos nossos familiares. Não teria forças praqueles quatro ou cinco meses. A certeza veio antes de sacar o passaporte. E me apoiei n’Ela como gostaria de me apoiar agora. Deve ter visto o medo. Ainda não a sobrecarregava. Questão de tempo. Ela não suspeitava que ia cuidar de mim. Eu tinha certeza. Calei-me.
OBS 1:
Cheguei quase tão cedo quanto àquele dia, nove ou dez anos atrás. Sol fraco. Frio menos repulsivo. Em meio ao monóxido de carbono que saía dos escapamentos de táxis
e ônibus, um cheiro de não-sei-de-quê me trouxe aquele tempo de neuroses. Diferente. Os anos. Eu. O momento. Onde estará Ela?"
Título: Petaluma
Autor: Tiago Velasco
Editora: Oito e Meio
Valor: R$ 35,00
Os contos de “Petaluma” guardam o compromisso de defender uma proposta e se saem tão bem quanto o autor, seguro na construção e na condução de sua prosa Foto: Reprodução[/caption]
Velasco adiciona doses sutis de um tipo rascante de humor em seus textos. É o que pode ser conferido no surreal “... a dois”, sobre um casal que, ao completar 40 anos de matrimônio, desperta com as pontas dos dedos da mão de um coladas nas do outro. O final é surpreendente e divertido, num estilo Monty Python de diversão.
“Estrangeiro” e “Ernesto/Andrezza” são os pontos altos, sobretudo se o leitor morar ou conhecer bem o Rio de Janeiro. O primeiro satiriza os roteiros turísticos pela cidade na pele de um carioca que, sem perceber, começa a estrangeirar. Já o segundo segue a rotina de um travesti que sonha em encontrar, entre os clientes, um “Brad Pitt para lhe sustentar”. Quando o acha, porém, o amor confronta-se à condição de ser uma mulher no corpo de um homem.
Apesar de não estabelecerem uma unidade temática, os contos de “Petaluma” guardam o compromisso de defender uma proposta e se saem tão bem quanto o autor, seguro na construção e na condução de sua prosa.
Leia um trecho de “Petaluma”, conto presente no livro de mesmo nome, do escritor Tiago Velasco:
"Hoje, nove ou dez anos depois, vejo Petaluma como a reunião das minhas neuroses. Não percebia naquele período. Não percebi durante esse tempo todo. Agora enxergo. Estou mais claro. Concreto. Não mais um fantasma. Aquele ser que passou por Petaluma.
*
1.
Acordei com o alarme polifônico do celular pré-pago compartilhado com Ela. Oito da manhã. Dormi já era mais de uma. Dois períodos de trabalho no dia anterior. Normal em Petaluma. Motivo de satisfação pra maior parte dos colegas de trabalho: money, plata, grana.
Enrolar mais um pouco na cama era impensável. Após despertar, uma energia dolorida e incômoda perpassava o corpo inteiro. Joelhos, cotovelos, calcanhares, nódulos dos dedos, as articulações existentes em mim concentravam a dor e a replicava. Ossos e veias, highways. A consciência do corpo, traumática e premonitória.
Uma hora para o banho, o café da manhã — uma fatia de pão integral com margarina I can’t believe it’s not butter e queijo, um copo de leite com chocolate em pó —, a roupa mais quente que tivesse no armário azul claro, a caminhada até o metrô suburbano, a espera pela composição da linha R, as três estações, o ônibus, uns quarteirões a pé. Menos quinze graus Celsius lá fora. E aqui, nos seis metros quadrados que divido com Ela, dentro de um apartamento de dois quartos de paredes de papel, o heater tornava o ambiente menos hostil.
A culpa, o medo, o fracasso iminente, a distância da pátria, a ausência eram reforçados toda vez que adentrava a porta de vidro de Petaluma. Ser um vencedor, como a cultura local solicitava, estava a léguas de mim, ali, no salão, rodeado de mesas e recém-colegas que dividiam tips, propinas, gorjetas.
Good morning, busboy. An expresso, please, dizia a manager russa quando não havia sonhado com Stalin e acordava de bom humor.
Good morning.
2.
Ao deixar todos pra trás, ainda no aeroporto, qualquer sensação de acolhimento se foi. O sujeito punk, ao encontro da terra punk, perdeu o moicano na apresentação da passagem à funcionária da companhia aérea. As primeiras lágrimas apareceram logo que eu e Ela saímos da vista dos nossos familiares. Não teria forças praqueles quatro ou cinco meses. A certeza veio antes de sacar o passaporte. E me apoiei n’Ela como gostaria de me apoiar agora. Deve ter visto o medo. Ainda não a sobrecarregava. Questão de tempo. Ela não suspeitava que ia cuidar de mim. Eu tinha certeza. Calei-me.
OBS 1:
Cheguei quase tão cedo quanto àquele dia, nove ou dez anos atrás. Sol fraco. Frio menos repulsivo. Em meio ao monóxido de carbono que saía dos escapamentos de táxis
e ônibus, um cheiro de não-sei-de-quê me trouxe aquele tempo de neuroses. Diferente. Os anos. Eu. O momento. Onde estará Ela?"
Título: Petaluma
Autor: Tiago Velasco
Editora: Oito e Meio
Valor: R$ 35,00

Nascido em 2 de fevereiro de 1915, José J. Veiga se fez eterno com suas obras; tanto que a Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país, publicará o conjunto completo de seus escritos. A entrevista, abaixo, traz um pouco desse grande literato
[caption id="attachment_27630" align="aligncenter" width="520"] Se todos cantam a sua ferra, o escritor goiano José J. Veiga optou por cantar a terra de todos, inventando mundos que moram na imaginação, mas teimam em ser um poético espelho a refletir as estranhezas que a realidade disfarça. Foto: Reprodução[/caption]
José Maria e Silva
Atravessia do Paranaíba é um sonho comum à maioria dos escritores goianos. Concretizar a travessia do Atlântico foi a ousadia de José J. Veiga. Um dos escritores brasileiros mais traduzidos no exterior, Veiga, às vésperas dos 80 anos, que completa em fevereiro, continua produtivo — dedica-se a traduções e escreve seu novo romance, do qual procura fazer todo segredo possível, como é de seu feitio. O livro deve ser publicado ainda este ano, com o selo da Difel, o mesmo das outras obras do escritor.
Desde que se aposentou como redator na Fundação Getúlio Vargas, Veiga passou a escrever todos os dias, religiosamente. “Escrevo durante várias horas por dia", conta ele. Antes, sua produção se limitava às madrugadas e fins de semana, quando não estava trabalhando. Ele confessa que tem suas manias. Uma delas é não escrever em computador — prefere a velha máquina de escrever. "Não posso confiar em um aparelho que não conheço", brinca. Até a máquina às vezes o irrita: "Acho que ela está fazendo barulho demais, então passo para a caneta. Aí, a caneta pega a arranhar. Então, troco de caneta ou volto para a máquina".
José J. Veiga demorou a publicar seu primeiro livro. Tinha 44 anos quando estreou, em 1959, com “Os Cavalinhos de Platiplanto”. A crítica, capitaneada por Wilson Martins, fez festa. Martins considerou a obra como um novo veio ficcional aberto na literatura brasileira. Murilo Rubião, com os contos de O Ex-Mágico, havia inaugurado o fantástico na literatura brasileira, em 1947, mas Veiga recriaria o fantástico à sua maneira. Um fantástico sem intelectualismos, simples e profundo como a natureza.
O sucesso de crítica veio acompanhado do sucesso de público, como demonstram as sucessivas edições de “Os Cavalinhos de Platiplanto”, “A Hora dos Ruminantes” e “Sombras de Reis Barbudos”. Veiga tomou-se o principal autor da Difel, espécie de carro-chefe da editora. "Todo mês chegam convites de outras editoras que querem publicar meus livros. Mas não saio da Difel. Estou nela há muitos anos. Criei uma relação de afetividade com a casa", conta o escritor, que recebe cartas de leitores espalhados em todo o mundo. "Tenho cartas até de leitores tchecos", diz ele, que se confessa emocionado cada vez que descobre a emoção de um distante leitor em face de um livro seu.
[relacionadas artigos="27358"]
Casado com Clérida, a quem dedicou “A Hora dos Ruminantes” ("com amor", segundo reza a dedicatória na folha de rosto do livro), José J. Veiga conta que anda muito saudável. "Já fiz viagens recentes de carro a Goiás, eu mesmo dirigindo", conta. "Só não tenho ido mais a Goiás com a mesma disposição porque a Clérida anda meio adoentada." Clérida, ex-professora, tem 86 anos. Ela e Veiga, como Carolina Xavier de Novais e Machado de Assis, não tiveram filhos. “Mas não faço minhas as palavras finais das Memórias Póstumas de Brás Cubas. São muito pesadas", brinca Veiga. Mas, ao contrário de Machado de Assis, que nunca ficou à vontade com personagens crianças e preferiu quase que bani-los de sua obra, engendrando personagens sem filhos ou com filho único, Veiga é um especialista em falar de meninos. Poucos como ele conseguem penetrar com tanta pertinência no mundo das crianças. "Talvez porque a literatura que faço, cheia de indagações a respeito da vida, precise de crianças para protagonizar esse questionamento. O adulto pergunta menos, acha que sabe muita coisa", explica.
Veiga confessa que é um introvertido. Ao contrário do poeta João Cabral de Melo Neto, que considera "muito seco", ele adora música: "Gosto de praticamente todos os gêneros musicais, mas tenho predileção pela música de câmara". Diz que só não gosta de futebol e carnaval, porque (como Schopenhauer) detesta barulho.
Escreve sempre ouvindo música. "Gostava muito de ouvir a Opus 2, uma rádio aqui do Rio, mas ela acabou", conta.
Tudo que escreve costuma passar por umas quatro ou cinco versões, antes da publicação. "Da primeira vez, escrevo com mais fluência, sem me preocupar muito com detalhes. A primeira versão é mais ara ocupar papel, demarcar espaço. Se uma frase não me agrada, limito-me a sublinhá-la e toco para a frente. Depois, volto cortando, remendando, até chegar ao acabamento, depois de urnas cinco versões”, revela.
Nesta entrevista ao Jornal Opção, que concedeu por telefone na tarde de segunda-feira, 16, José J. Veiga também falou de política, Plano Real e da literatura goiana e disse que, se continuar com a mesma disposição de agora, quer entrar o terceiro milênio produzindo.
[caption id="attachment_27628" align="alignright" width="300"]
Se todos cantam a sua ferra, o escritor goiano José J. Veiga optou por cantar a terra de todos, inventando mundos que moram na imaginação, mas teimam em ser um poético espelho a refletir as estranhezas que a realidade disfarça. Foto: Reprodução[/caption]
José Maria e Silva
Atravessia do Paranaíba é um sonho comum à maioria dos escritores goianos. Concretizar a travessia do Atlântico foi a ousadia de José J. Veiga. Um dos escritores brasileiros mais traduzidos no exterior, Veiga, às vésperas dos 80 anos, que completa em fevereiro, continua produtivo — dedica-se a traduções e escreve seu novo romance, do qual procura fazer todo segredo possível, como é de seu feitio. O livro deve ser publicado ainda este ano, com o selo da Difel, o mesmo das outras obras do escritor.
Desde que se aposentou como redator na Fundação Getúlio Vargas, Veiga passou a escrever todos os dias, religiosamente. “Escrevo durante várias horas por dia", conta ele. Antes, sua produção se limitava às madrugadas e fins de semana, quando não estava trabalhando. Ele confessa que tem suas manias. Uma delas é não escrever em computador — prefere a velha máquina de escrever. "Não posso confiar em um aparelho que não conheço", brinca. Até a máquina às vezes o irrita: "Acho que ela está fazendo barulho demais, então passo para a caneta. Aí, a caneta pega a arranhar. Então, troco de caneta ou volto para a máquina".
José J. Veiga demorou a publicar seu primeiro livro. Tinha 44 anos quando estreou, em 1959, com “Os Cavalinhos de Platiplanto”. A crítica, capitaneada por Wilson Martins, fez festa. Martins considerou a obra como um novo veio ficcional aberto na literatura brasileira. Murilo Rubião, com os contos de O Ex-Mágico, havia inaugurado o fantástico na literatura brasileira, em 1947, mas Veiga recriaria o fantástico à sua maneira. Um fantástico sem intelectualismos, simples e profundo como a natureza.
O sucesso de crítica veio acompanhado do sucesso de público, como demonstram as sucessivas edições de “Os Cavalinhos de Platiplanto”, “A Hora dos Ruminantes” e “Sombras de Reis Barbudos”. Veiga tomou-se o principal autor da Difel, espécie de carro-chefe da editora. "Todo mês chegam convites de outras editoras que querem publicar meus livros. Mas não saio da Difel. Estou nela há muitos anos. Criei uma relação de afetividade com a casa", conta o escritor, que recebe cartas de leitores espalhados em todo o mundo. "Tenho cartas até de leitores tchecos", diz ele, que se confessa emocionado cada vez que descobre a emoção de um distante leitor em face de um livro seu.
[relacionadas artigos="27358"]
Casado com Clérida, a quem dedicou “A Hora dos Ruminantes” ("com amor", segundo reza a dedicatória na folha de rosto do livro), José J. Veiga conta que anda muito saudável. "Já fiz viagens recentes de carro a Goiás, eu mesmo dirigindo", conta. "Só não tenho ido mais a Goiás com a mesma disposição porque a Clérida anda meio adoentada." Clérida, ex-professora, tem 86 anos. Ela e Veiga, como Carolina Xavier de Novais e Machado de Assis, não tiveram filhos. “Mas não faço minhas as palavras finais das Memórias Póstumas de Brás Cubas. São muito pesadas", brinca Veiga. Mas, ao contrário de Machado de Assis, que nunca ficou à vontade com personagens crianças e preferiu quase que bani-los de sua obra, engendrando personagens sem filhos ou com filho único, Veiga é um especialista em falar de meninos. Poucos como ele conseguem penetrar com tanta pertinência no mundo das crianças. "Talvez porque a literatura que faço, cheia de indagações a respeito da vida, precise de crianças para protagonizar esse questionamento. O adulto pergunta menos, acha que sabe muita coisa", explica.
Veiga confessa que é um introvertido. Ao contrário do poeta João Cabral de Melo Neto, que considera "muito seco", ele adora música: "Gosto de praticamente todos os gêneros musicais, mas tenho predileção pela música de câmara". Diz que só não gosta de futebol e carnaval, porque (como Schopenhauer) detesta barulho.
Escreve sempre ouvindo música. "Gostava muito de ouvir a Opus 2, uma rádio aqui do Rio, mas ela acabou", conta.
Tudo que escreve costuma passar por umas quatro ou cinco versões, antes da publicação. "Da primeira vez, escrevo com mais fluência, sem me preocupar muito com detalhes. A primeira versão é mais ara ocupar papel, demarcar espaço. Se uma frase não me agrada, limito-me a sublinhá-la e toco para a frente. Depois, volto cortando, remendando, até chegar ao acabamento, depois de urnas cinco versões”, revela.
Nesta entrevista ao Jornal Opção, que concedeu por telefone na tarde de segunda-feira, 16, José J. Veiga também falou de política, Plano Real e da literatura goiana e disse que, se continuar com a mesma disposição de agora, quer entrar o terceiro milênio produzindo.
[caption id="attachment_27628" align="alignright" width="300"] Tinha 44 anos quando estreou na literatura, em 1959, com “Os Cavalinhos de Platiplanto”. Foto: Reprodução[/caption]
O que o senhor está escrevendo?
Estou escrevendo um novo romance, que será publicado pela Difel. Mas não gosto de falar sobre o que estou escrevendo. Inclusive nunca mostro a ninguém meus originais. A não ser para minha mulher, que lê e, às vezes, dá algum palpite.
O senhor tem acompanhado a literatura goiana, o que se tem feito mais recentemente?
Tenho acompanhado, sim, mas muito, porque estou envolvido com o acabamento do meu livro. Acabei de ler há pouco um livro de poemas de Maria Lúcia Félix, “A Vida Dividida”, que achei muito bom. Ela escreve bem. Para mim foi uma grande revelação.
O senhor parece que também gosta dos contos da jornalista e escritora Eloí Calage.
Gosto. Ela escreve bem. Seu livro de contos, que ganhou um concurso no Paraná, é muito bem escrito.
Em sua última entrevista ao Jornal Opção, o senhor disse que está lendo “Sete Léguas de Paraíso”, de Antônio José de Moura. O que achou do livro?
Gostei. É um bom livro, bem escrito. Só acho que ficou goiano demais. Um pouco difícil de ser entendido por quem não é de Goiás e não conhece a história de Santa Dica.
O senhor conhece a ficção de Edival Lourenço e Itamar Pires, que têm conquistado espaço dentro e fora de Goiás?
Ainda não conheço a obra deles, não. Não tive oportunidade de ler nenhum livro deles.
O que o senhor achou da indicação de Bernardo Elis para a Fundação Pedro Ludovico, que poderá ser transformada em Secretaria da Cultura?
Para mim é uma novidade. Não sabia. Mas acho bom, apesar de ser meio avesso a esse negócio de Secretaria de Cultura. Confesso que não sei se a cultura precisa mesmo de um órgão governamental para cuidar dela.
O senhor já foi sondado pela Rede Globo para transformar alguma de suas obras em minissérie ou caso especial?
Não. Parece que minha obra ainda não chegou à Rede Globo. Já fui sondado duas vezes por um diretor de cinema, o Luís Sérgio Terson. Ele queria filmar “A Hora dos Ruminantes”, fizemos um contrato, mas a produtora faliu antes que fossem iniciadas as filmagens. Com isso o contrato venceu. Mas ele renovou o contrato para fazer o filme. Só que morreu num acidente automobilístico antes de começar.
O senhor já foi traduzido para quantos idiomas?
De cabeça assim, eu não me lembro, Mas foram muitos idiomas –– inglês, russo, servo-croata, tcheco, italiano, espanhol, sueco. Só nunca fui traduzido para o francês, não sei porquê.
O senhor fala ou lê em outros Idiomas?
Leio em inglês, francês e espanhol. Quando pego urna tradução de um livro meu em outro idioma, fico me indagando o que está escrito. A edição sueca de um dos meus livros é muito boa. A capa é muito bonita.
Algum de seus livros tem a sua predileção?
Sempre me fazem essa pergunta, principalmente quando vou a universidades. Mas ainda não deixei de gostar de nenhum deles. Gosto de todos. Cada um deles tem uma história, foram importantes num dado momento da minha vida. Agora, o público, sim. Esse parece que tem predileção por três livros meus: “A Hora dos Ruminantes”, “Os Cavalinhos de Platiplanto” e “Sombra de Reis Barbudos”.
Somando todas as edições de seus livros, quantos exemplares o senhor já vendeu?
Há uns dez anos, fiz essa conta. Deu cerca de 500 mil exemplares. De lá para cá, só “A Hora dos Ruminantes” já ultrapassou 20 edições. Acho que, somando tudo, se eu não tiver vendido um milhão de exemplares, estou perto disso.
Se o senhor tivesse ficado em Goiás, como ficaram Bernardo Elis, Carmo Bernardes e Eli Brasiliense, o senhor teria conquistado o prestígio nacional e internacional que conquistou?
Acho que seria mais difícil. Não me considero melhor escritor que eles, no entanto obtive um reconhecimento maior.
Com quantos anos o senhor saiu de Goiás?
Fui para o Rio de Janeiro com 20 anos. Ingressei na antiga Faculdade Nacional de Direito, me formei e passei a atuar na imprensa.
O que motivou sua ida para a Inglaterra?
Vi um anúncio em jornal informando que a BBC de Londres precisava de redator e tradutor para seus programas transmitidos em português. Fiz o teste, passei e fui para Londres. Quando cheguei lá, a guerra estava quase acabando. Tinha planos de ficar apenas um ano. A princípio só pensava em voltar. A vida numa Europa recém-saída da guerra era muito difícil. Mas acabei ficando cinco anos em Londres. Voltei em 1949 e retomei meu trabalho de jornalista.
Em quais jornais o senhor trabalhou?
O Globo foi o primeiro jornal em que trabalhei depois da minha volta. Fui, em seguida, para a Tribuna da Imprensa e, depois, para Seleções do Reader's Diggest. Trabalhei em Seleções até 1971, quando sua edição em português deixou de ser feita no Brasil para ser feita em Portugal.
O senhor só publicou seu primeiro livro, “Os Cavalinhos de Platiplanto”, aos 44 anos. Quando que o senhor começou a escrever?
Desde muito jovem, quando ainda estudava no Lyceu, em Goiás. Na década de 50, cheguei a mandar três contos meus para uma revista. Eram contos regionalistas. Mas, depois que já tinha entregue os contos, me arrependi. Peguei os originais de volta, dizendo que precisava dar uns retoques importantes e destruí todos eles. Quando fui para o Rio, fiquei briquitando, como se diz aí em Goiás, lutando para ganhar a vida, e acabei adiando um pouco a literatura. Comecei a publicar só em 1958, num suplemento literário do Jornal do Brasil Publiquei alguns contos lá. No ano seguinte publiquei “Os Cavalinhos de Platiplanto”, pela Editora Nítida, que foi muito bem recebido pela crítica.
Quais os seus autores preferidos, principalmente durante seu período de formação?
Havia um gabinete literário em Goiás que me possibilitou travar contato com os clássicos da literatura. Li muito Machado de Assis. Entre os estrangeiros modernos, fiquei entusiasmado com J. D. Salinger. Li muito Guimarães Rosa, sem dúvida um grande criador, um gênio. Nem tanto por “Tutaméia”, que não me agrada muito, mas pelo “Grande Sertão: Veredas”, as novelas de “Corpo de Baile” e “Primeiras Estórias”.
Que avaliação o senhor faz da crítica literária no Brasil?
Acho que está faltando urna crítica atuante na imprensa. Quando comecei a escrever, havia grandes críticos que atuavam constantemente na imprensa, como Otto Maria Carpeaux, Agripino Grieco, Álvaro Lins, Antônio Candido. Hoje, a crítica está mais restrita aos meios acadêmicos.
Em relação à crítica que é feita por professores universitários, o senhor não acha que, às vezes, ela é técnica demais e acaba se transformando em uma crítica de iniciados?
Concordo. A crítica universitária costuma, de fato, ser muito hermética, escrita numa linguagem para iniciados. Muitos professores ficam obcecados com essa coisa de significante e significado e se esquecem que, na literatura, o prazer é um princípio.
Essa crítica não pode acabar surtindo um efeito indesejado, fazendo com que os alunos dos cursos de letras percam o gosto pela leitura?
Acho, às vezes, que essa crítica muito esquemática dos cursos de letras pode até afugentar o aluno do convívio com a literatura. Muitos professores que se debruçaram sobre a minha obra encontram significados que nunca foram sequer imaginados por mim. Claro que algumas dessas interpretações procedem, mesmo não tendo origem numa intencionalidade do autor. Mas há aquelas que não se encaixam na obra. Há umas doze teses de mestrado sobre minha obra, em todo o Brasil. Uma das análises mais sutis que já fizeram dela é a de José Fernandes. Sempre que sou convidado a dar algum depoimento em universidades, dou uma lida nelas para explicar minha obra com as palavras dele.
O senhor já escreveu poesia?
Nunca escrevi poesia. Gosto apenas de ler Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, Cecília Meireles e, principalmente, Jorge de Lima. Entre os estrangeiros, leio -muito W. H. Auden. De T. S. Eliot não gosto muito, o hermetismo dele, cheio de citações, não me agrada.
O senhor não citou João Cabral de Melo Neto entre seus poetas prediletos. Parte da crítica o coloca ate mesmo acima de Drummond em qualidade.
Não concordo. Acho sua poesia muito seca. Prefiro a musicalidade de Jorge de Lima, que, para mim, é um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Releio sempre “A Invenção de Orfeu”. É um grande livro.
Por que o senhor nunca quis entrar para a Academia Brasileira de Letras?
Não é do meu feitio. A Academia não me atrai. Entendo que há pessoas que gostam dela, respeito essas pessoas, já fui até sondado para entrar na Academia, mas nunca quis aceitar.
A vida literária não o agrada? O senhor não tem grandes amigos escritores?
Tenho grandes amigos que não são escritores. Entre os escritores, sou muito amigo de Autran Dourado, João Antônio e Antônio Callado. Nós nos encontramos sempre, para tomar um chope, conversar, mas literatura não é nosso assunto preferido. É um pouco chato falar de literatura. Preferimos comentar sobre política ou outros assuntos variados.
Em quem o senhor votou na última eleição?
Votei no Lula.
O senhor não acredita no Plano Real?
Tenho minhas desconfianças. E elas são alimentadas por pequenos detalhes. Por exemplo: as primeiras moedas de centavos que foram criadas eram praticamente idênticas às moedas antigas. Isso mostra que quem as criou não estava confiando no plano. Deve ter pensado: "Essa moeda vai ter o mesmo destino das outras, não vai durar muito. Então, não adianta eu me esforçar para criar uma moeda diferente".
O que o senhor achou do ministério de Fernando Henrique Cardoso?
Espero que ele consiga contornar as influências do PFL. Mas não gostei da criação desse Ministério dos Esportes e da nomeação de Pelé. Foi uma atitude populista, desnecessária. Ele queria ter um negro no ministério, mas acabou sendo preconceituoso do mesmo jeito –– colocou o negro no Ministério dos Esportes.
Tinha 44 anos quando estreou na literatura, em 1959, com “Os Cavalinhos de Platiplanto”. Foto: Reprodução[/caption]
O que o senhor está escrevendo?
Estou escrevendo um novo romance, que será publicado pela Difel. Mas não gosto de falar sobre o que estou escrevendo. Inclusive nunca mostro a ninguém meus originais. A não ser para minha mulher, que lê e, às vezes, dá algum palpite.
O senhor tem acompanhado a literatura goiana, o que se tem feito mais recentemente?
Tenho acompanhado, sim, mas muito, porque estou envolvido com o acabamento do meu livro. Acabei de ler há pouco um livro de poemas de Maria Lúcia Félix, “A Vida Dividida”, que achei muito bom. Ela escreve bem. Para mim foi uma grande revelação.
O senhor parece que também gosta dos contos da jornalista e escritora Eloí Calage.
Gosto. Ela escreve bem. Seu livro de contos, que ganhou um concurso no Paraná, é muito bem escrito.
Em sua última entrevista ao Jornal Opção, o senhor disse que está lendo “Sete Léguas de Paraíso”, de Antônio José de Moura. O que achou do livro?
Gostei. É um bom livro, bem escrito. Só acho que ficou goiano demais. Um pouco difícil de ser entendido por quem não é de Goiás e não conhece a história de Santa Dica.
O senhor conhece a ficção de Edival Lourenço e Itamar Pires, que têm conquistado espaço dentro e fora de Goiás?
Ainda não conheço a obra deles, não. Não tive oportunidade de ler nenhum livro deles.
O que o senhor achou da indicação de Bernardo Elis para a Fundação Pedro Ludovico, que poderá ser transformada em Secretaria da Cultura?
Para mim é uma novidade. Não sabia. Mas acho bom, apesar de ser meio avesso a esse negócio de Secretaria de Cultura. Confesso que não sei se a cultura precisa mesmo de um órgão governamental para cuidar dela.
O senhor já foi sondado pela Rede Globo para transformar alguma de suas obras em minissérie ou caso especial?
Não. Parece que minha obra ainda não chegou à Rede Globo. Já fui sondado duas vezes por um diretor de cinema, o Luís Sérgio Terson. Ele queria filmar “A Hora dos Ruminantes”, fizemos um contrato, mas a produtora faliu antes que fossem iniciadas as filmagens. Com isso o contrato venceu. Mas ele renovou o contrato para fazer o filme. Só que morreu num acidente automobilístico antes de começar.
O senhor já foi traduzido para quantos idiomas?
De cabeça assim, eu não me lembro, Mas foram muitos idiomas –– inglês, russo, servo-croata, tcheco, italiano, espanhol, sueco. Só nunca fui traduzido para o francês, não sei porquê.
O senhor fala ou lê em outros Idiomas?
Leio em inglês, francês e espanhol. Quando pego urna tradução de um livro meu em outro idioma, fico me indagando o que está escrito. A edição sueca de um dos meus livros é muito boa. A capa é muito bonita.
Algum de seus livros tem a sua predileção?
Sempre me fazem essa pergunta, principalmente quando vou a universidades. Mas ainda não deixei de gostar de nenhum deles. Gosto de todos. Cada um deles tem uma história, foram importantes num dado momento da minha vida. Agora, o público, sim. Esse parece que tem predileção por três livros meus: “A Hora dos Ruminantes”, “Os Cavalinhos de Platiplanto” e “Sombra de Reis Barbudos”.
Somando todas as edições de seus livros, quantos exemplares o senhor já vendeu?
Há uns dez anos, fiz essa conta. Deu cerca de 500 mil exemplares. De lá para cá, só “A Hora dos Ruminantes” já ultrapassou 20 edições. Acho que, somando tudo, se eu não tiver vendido um milhão de exemplares, estou perto disso.
Se o senhor tivesse ficado em Goiás, como ficaram Bernardo Elis, Carmo Bernardes e Eli Brasiliense, o senhor teria conquistado o prestígio nacional e internacional que conquistou?
Acho que seria mais difícil. Não me considero melhor escritor que eles, no entanto obtive um reconhecimento maior.
Com quantos anos o senhor saiu de Goiás?
Fui para o Rio de Janeiro com 20 anos. Ingressei na antiga Faculdade Nacional de Direito, me formei e passei a atuar na imprensa.
O que motivou sua ida para a Inglaterra?
Vi um anúncio em jornal informando que a BBC de Londres precisava de redator e tradutor para seus programas transmitidos em português. Fiz o teste, passei e fui para Londres. Quando cheguei lá, a guerra estava quase acabando. Tinha planos de ficar apenas um ano. A princípio só pensava em voltar. A vida numa Europa recém-saída da guerra era muito difícil. Mas acabei ficando cinco anos em Londres. Voltei em 1949 e retomei meu trabalho de jornalista.
Em quais jornais o senhor trabalhou?
O Globo foi o primeiro jornal em que trabalhei depois da minha volta. Fui, em seguida, para a Tribuna da Imprensa e, depois, para Seleções do Reader's Diggest. Trabalhei em Seleções até 1971, quando sua edição em português deixou de ser feita no Brasil para ser feita em Portugal.
O senhor só publicou seu primeiro livro, “Os Cavalinhos de Platiplanto”, aos 44 anos. Quando que o senhor começou a escrever?
Desde muito jovem, quando ainda estudava no Lyceu, em Goiás. Na década de 50, cheguei a mandar três contos meus para uma revista. Eram contos regionalistas. Mas, depois que já tinha entregue os contos, me arrependi. Peguei os originais de volta, dizendo que precisava dar uns retoques importantes e destruí todos eles. Quando fui para o Rio, fiquei briquitando, como se diz aí em Goiás, lutando para ganhar a vida, e acabei adiando um pouco a literatura. Comecei a publicar só em 1958, num suplemento literário do Jornal do Brasil Publiquei alguns contos lá. No ano seguinte publiquei “Os Cavalinhos de Platiplanto”, pela Editora Nítida, que foi muito bem recebido pela crítica.
Quais os seus autores preferidos, principalmente durante seu período de formação?
Havia um gabinete literário em Goiás que me possibilitou travar contato com os clássicos da literatura. Li muito Machado de Assis. Entre os estrangeiros modernos, fiquei entusiasmado com J. D. Salinger. Li muito Guimarães Rosa, sem dúvida um grande criador, um gênio. Nem tanto por “Tutaméia”, que não me agrada muito, mas pelo “Grande Sertão: Veredas”, as novelas de “Corpo de Baile” e “Primeiras Estórias”.
Que avaliação o senhor faz da crítica literária no Brasil?
Acho que está faltando urna crítica atuante na imprensa. Quando comecei a escrever, havia grandes críticos que atuavam constantemente na imprensa, como Otto Maria Carpeaux, Agripino Grieco, Álvaro Lins, Antônio Candido. Hoje, a crítica está mais restrita aos meios acadêmicos.
Em relação à crítica que é feita por professores universitários, o senhor não acha que, às vezes, ela é técnica demais e acaba se transformando em uma crítica de iniciados?
Concordo. A crítica universitária costuma, de fato, ser muito hermética, escrita numa linguagem para iniciados. Muitos professores ficam obcecados com essa coisa de significante e significado e se esquecem que, na literatura, o prazer é um princípio.
Essa crítica não pode acabar surtindo um efeito indesejado, fazendo com que os alunos dos cursos de letras percam o gosto pela leitura?
Acho, às vezes, que essa crítica muito esquemática dos cursos de letras pode até afugentar o aluno do convívio com a literatura. Muitos professores que se debruçaram sobre a minha obra encontram significados que nunca foram sequer imaginados por mim. Claro que algumas dessas interpretações procedem, mesmo não tendo origem numa intencionalidade do autor. Mas há aquelas que não se encaixam na obra. Há umas doze teses de mestrado sobre minha obra, em todo o Brasil. Uma das análises mais sutis que já fizeram dela é a de José Fernandes. Sempre que sou convidado a dar algum depoimento em universidades, dou uma lida nelas para explicar minha obra com as palavras dele.
O senhor já escreveu poesia?
Nunca escrevi poesia. Gosto apenas de ler Carlos Drummond de Andrade, Henriqueta Lisboa, Cecília Meireles e, principalmente, Jorge de Lima. Entre os estrangeiros, leio -muito W. H. Auden. De T. S. Eliot não gosto muito, o hermetismo dele, cheio de citações, não me agrada.
O senhor não citou João Cabral de Melo Neto entre seus poetas prediletos. Parte da crítica o coloca ate mesmo acima de Drummond em qualidade.
Não concordo. Acho sua poesia muito seca. Prefiro a musicalidade de Jorge de Lima, que, para mim, é um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Releio sempre “A Invenção de Orfeu”. É um grande livro.
Por que o senhor nunca quis entrar para a Academia Brasileira de Letras?
Não é do meu feitio. A Academia não me atrai. Entendo que há pessoas que gostam dela, respeito essas pessoas, já fui até sondado para entrar na Academia, mas nunca quis aceitar.
A vida literária não o agrada? O senhor não tem grandes amigos escritores?
Tenho grandes amigos que não são escritores. Entre os escritores, sou muito amigo de Autran Dourado, João Antônio e Antônio Callado. Nós nos encontramos sempre, para tomar um chope, conversar, mas literatura não é nosso assunto preferido. É um pouco chato falar de literatura. Preferimos comentar sobre política ou outros assuntos variados.
Em quem o senhor votou na última eleição?
Votei no Lula.
O senhor não acredita no Plano Real?
Tenho minhas desconfianças. E elas são alimentadas por pequenos detalhes. Por exemplo: as primeiras moedas de centavos que foram criadas eram praticamente idênticas às moedas antigas. Isso mostra que quem as criou não estava confiando no plano. Deve ter pensado: "Essa moeda vai ter o mesmo destino das outras, não vai durar muito. Então, não adianta eu me esforçar para criar uma moeda diferente".
O que o senhor achou do ministério de Fernando Henrique Cardoso?
Espero que ele consiga contornar as influências do PFL. Mas não gostei da criação desse Ministério dos Esportes e da nomeação de Pelé. Foi uma atitude populista, desnecessária. Ele queria ter um negro no ministério, mas acabou sendo preconceituoso do mesmo jeito –– colocou o negro no Ministério dos Esportes.

A equipe do Jornal Opção revela, mais uma vez, as músicas que mais têm tocado no nosso radinho. Aumenta o som, Dj! Chitãozinho & Xororó (Participação Especial Fafá de Belém) –– Nuvem de Lágrimas Foals –– Inhaler Gilberto Gil –– Procissão Joao Donato –– Ahie Sam Smith ––Money On My Mind Jeff Beck –– Sleepwalk William Elliott Whitmore –– Johnny Law
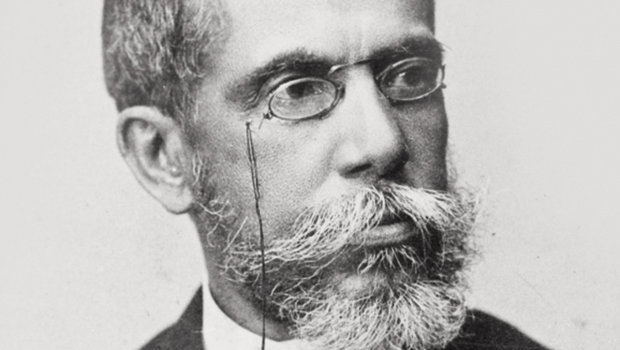
A língua é um ente vivo, logo muda. Dessa forma, aquilo que foi escrito há mais um século se torna estranho ao olhar de um leitor já não acostumado com a linguagem empregada na obra em questão. Certo? Sim e, por isso, a pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) Marta de Senna desenvolveu, desde 2008, um projeto para rever a obra do glorioso Machado de Assis (1839-1908). O projeto chamado “Edição dos Romances e Contos de Machado de Assis como Hipertexto”, visa aumentar a compreensão — não apenas linguística como também cultural — das obras de um dos maiores autores brasileiros para os leitores do século 21. Graças a esse trabalho, toda a ficção de Machado está acessível a todos no portal www.machadodeassis.net. Nunca leu? Está esperando o quê?!
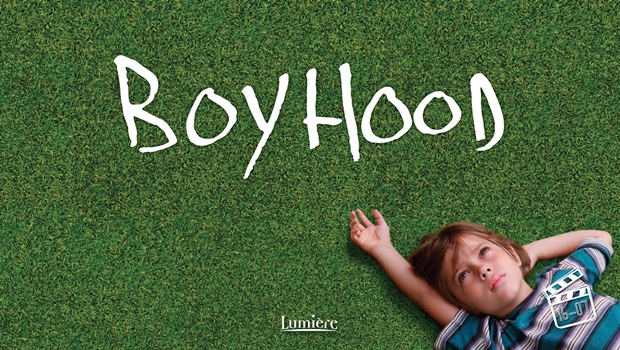
Acontece de 11 a 25 de fevereiro a edição 2015 da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Neste ano, a mostra traz 93 filmes, entre eles os indicados ao Oscar de melhor filme: A Teoria de Tudo; Boyhood - Da Infância à Juventude; O Grande Hotel Budapeste; O Jogo da Imitação; Selma - Uma Luta pela Igualdade; e Sniper Americano, além do indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o russo Leviatã, um dos destaques da mostra. O filme tem causado polêmica na Rússia de Vladimir Putin, dado as críticas ao governo do país. O ministro da Cultura, Vladimir Medinsky, chegou a acusar o diretor do longa, Andrei Zvyagintsev, de “sujar a imagem do país para ganhar elogios no Ocidente”. É importante dizer que Leviatã foi financiado pelo Ministério da Cultura russo. Uma grande parte dos filmes é inédita em Goiás — 84 —, sendo 21 inéditos no Brasil. A mostra acontecerá no Cine Lumière do Shopping Bougainville.
Inhumas, cidade a pouco mais de 50 quilômetros de Goiânia, realizará seu primeiro circuito cultural. A série de eventos acontecerá entre abril e setembro deste ano e contará com shows, apresentações, performances, espetáculos, exposições, mostras, encontros e várias outras atividades artístico-culturais. O projeto deverá apimentar o setor cultural da cidade, que, como dizem, ainda tenta alçar seu lugar ao sol. Só não poderão participar membros das secretarias estadual e municipal de cultura, assim como parentes de 1º grau e os membros da comissão técnica de análise dos projetos. O circuito será só em abril, mas as inscrições já estão quase abrindo e poderão ser realizadas nas áreas de artes visuais, audiovisual, cultura popular, dança, literatura, música e teatro.

Em comemoração ao centenário no próximo dia 2 de fevereiro, o Jornal Opção
traz um pequeno festejo de um escritor goiano que fez história escrevendo
sobre homens e suas relações de poder e sobre as coisas universais e indizíveis
[caption id="attachment_27362" align="alignleft" width="620"] Veiga estreou na literatura com “Os Cavalinhos de Platiplanto” e ganhou o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra / Reprodução/Arquivo Pessoal de Luiz de Aquino[/caption]
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu peladinho da silva como qualquer outro José. Só não era da Silva. O anjo safado o predestinou a ser da casa dos Veiga. E lá nasceu, numa beirada que não era Corumbá e tampouco Pirenópolis: Sítio do Morro Grande, que só serviu de primeiro berço. O menino perambulou por bonitezas rurais doutro sitiozinho, vendinha de polonês na pequena Goyaz, voo para Londres e enamorou bibliotecas do Rio de Janeiro. E para as bibliotecas, José J. Veiga, o “matuto pra burro”, deixou sua maior herança: a literatura.
Corumbópolis
Foi num dia 2 de fevereiro que nasceu filho do verão de 1915. Era só José da Veiga. O homem não tinha inventado, ainda, a ideia de pôr um “J” lá no meio. Ainda assim, o “J” estava na certidão. Vinha de raízes maternas, da dona Marciana Jacinto Veiga, que o ensinou a graça de juntar letras e brincar de palavrear. Era afeiçoada aos livros, diferentemente do marido, o pai de Veiga, senhorzinho Luís Pereira –– que se interessava em pôr tijolo em cima de tijolo e, assim, construir casa para quem vivia em Corumbá.
Lá tinha uma escolinha, que com seus frufrus atraía a criançada. Era encadernação vistosa, não a que canta Caetano, uma outra que também enfeitava palavras. Os livros ficavam sob a guarda dum padre que, vez ou outra, abria as portas e as páginas para quem quisesse ler. Veiga era o primeiro da fila. Ali, já se avistava a semente que foi sendo aguada noutras paisagens: a do sitiozinho, onde viveu quando a mãe viu que o céu era mais azulinho que a Terra. De lá, seguiu para Goyaz. Trazia consigo seus poucos 12 anos de vida.
Em redomas literárias, vulgas bibliotecas de padres dominicanos e gabinetes que existiam na vila de 1927, dispendeu horas sobre livros. Nos seus 18, conheceu um moço vindo doutra terra: o polonês Oscar Breitbarst, a quem lhe concedeu outros cuidados para que ele frutificasse. José J. Veiga foi se fazendo aos poucos, tropeçando nas pedras no meio da vida.
Breitbarst era uma delas. Em sua vendinha de refrescos avermelhados, sabor groselha, atraía crianças e prosas de quem se amigava. Numa delas, firmou história com Veiga. O homem botou-lhe a ideia –– não a do “J” –– de ir para outros cantos, São Paulo ou Rio. Rio de Janeiro, decidiu ele com seus 400 mil réis ganhados no bolso. Sabia que ali não era só capital federal: os intelectuais, da época, lá residiam.
O Rio
Na labuta de encontrar emprego, pendengou os anos de 1930. A fadiga vinha da censura, do cerceamento instaurado por Getúlio Vargas que levou Veiga a declarar: “Acho que 10 de novembro de 1937 foi o dia em que tive mais raiva na minha vida”. Não era só espinhos, a época deu ao corumbaense bons botões profissionais. No auge de seus 30 anos, já graduado pela Faculdade Nacional de Direito, ele vivenciou as efervescentes ruas londrinas já com resquícios da 2° Guerra Mundial. Trabalhou como comentarista e tradutor de programas para o Brasil na BBC inglesa.
Na volta, conquistou bons postos do escalão jornalístico. E mais, conquistou a jovem Clérida Geada. Foi namoro digno de Biblioteca Nacional –– onde a moça o atendia gentil e charmosa. Nasceu, então, no hall literário e perdurou até o ínfimo segundo que assoprou a vida de Veiga. Estudiosa na Escola de Belas Artes, o acompanhou por 49 anos, abandonando o insosso e ocupado trabalho de vida pouco tempo depois da perda de Veiga.
Marinando os dias numa rotina de redação de jornal e passeios com a esposa, Veiga abandonou o oficio de catar feijões em obras literárias consagradas e “escrever para nada”, como dizia, e passou a “escrever a sério”. O caso é que Veiga reescrevia, desde o ginásio, a literatura de quem admirava. A prática tirou-lhe a frase: “Mais tarde descobri que isso me valeu muito”. As publicações, no entanto, se retinham à população das gavetas. No puir do tempo, decidiu aumentá-la, o que frutificou um conto gozado.
Além do real e regional
Foi numa tarde de quarta-feira, um pouco mais de quinze anos após o falecimento do “matuto pra burro” — é que ele se dizia assim; de Guimarães Rosa, seu amigo, a frase surtiu-lhe bem: “Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa”. No pormenor, a iguaria de Veiga acompanhava dose certa de ironia — não era nada de matuto e Agostinho Potenciano de Souza sabe bem disso.
Sua obra, “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, traz consigo o subtítulo “Uma Leitura da Obra de José J. da Veiga”. Leitura que, numa conversa da tarde quente de verão goiano, simplificou-se em epifania boba e maravilhosa, tal qualquer outra. O título de Agostinho diz sobre o olhar de Veiga sobre o que ele, então, vivia. O “crítico” não é mero adjetivo; está mais para substancial. A reflexão de Veiga quanto ao mundo era a obra-prima. A frase “as perguntas são mais importantes que as próprias respostas” vinha da sabedoria desconfiante (de muita coisa) do professor que debruçou seu mestrado a estudar sobre a literatura do “matuto”.
O “conto gozado” foi Agostinho quem narrou e o personagem não era de fabulação alguma de Veiga, e sim o próprio. Já com quase 40 anos, inventou –– calma, não é o “J” –– de ir ao Ministério da Educação, no Rio mesmo, com um punhado de escritos. A história da população? Sim, ele queria publicar seus textos, ter lá seus bons leitores – com todo respeito às gavetas. Deixou com o editor a bagatela de linhas escritas e, antes mesmo que o fim do dia seguinte chegasse, se aprumou numa jornada a fim de resgatar os bons merréis, que para ele já não valiam nada. Pois, ele cumpriu sua missão e tratou de jogá-la no cesto de lixo. “Foi minha salvação ter buscado aquele envelope”, disse o personagem sobre o episódio.
Bichanos
[caption id="attachment_27363" align="alignleft" width="620"]
Veiga estreou na literatura com “Os Cavalinhos de Platiplanto” e ganhou o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra / Reprodução/Arquivo Pessoal de Luiz de Aquino[/caption]
Yago Rodrigues Alvim
Nasceu peladinho da silva como qualquer outro José. Só não era da Silva. O anjo safado o predestinou a ser da casa dos Veiga. E lá nasceu, numa beirada que não era Corumbá e tampouco Pirenópolis: Sítio do Morro Grande, que só serviu de primeiro berço. O menino perambulou por bonitezas rurais doutro sitiozinho, vendinha de polonês na pequena Goyaz, voo para Londres e enamorou bibliotecas do Rio de Janeiro. E para as bibliotecas, José J. Veiga, o “matuto pra burro”, deixou sua maior herança: a literatura.
Corumbópolis
Foi num dia 2 de fevereiro que nasceu filho do verão de 1915. Era só José da Veiga. O homem não tinha inventado, ainda, a ideia de pôr um “J” lá no meio. Ainda assim, o “J” estava na certidão. Vinha de raízes maternas, da dona Marciana Jacinto Veiga, que o ensinou a graça de juntar letras e brincar de palavrear. Era afeiçoada aos livros, diferentemente do marido, o pai de Veiga, senhorzinho Luís Pereira –– que se interessava em pôr tijolo em cima de tijolo e, assim, construir casa para quem vivia em Corumbá.
Lá tinha uma escolinha, que com seus frufrus atraía a criançada. Era encadernação vistosa, não a que canta Caetano, uma outra que também enfeitava palavras. Os livros ficavam sob a guarda dum padre que, vez ou outra, abria as portas e as páginas para quem quisesse ler. Veiga era o primeiro da fila. Ali, já se avistava a semente que foi sendo aguada noutras paisagens: a do sitiozinho, onde viveu quando a mãe viu que o céu era mais azulinho que a Terra. De lá, seguiu para Goyaz. Trazia consigo seus poucos 12 anos de vida.
Em redomas literárias, vulgas bibliotecas de padres dominicanos e gabinetes que existiam na vila de 1927, dispendeu horas sobre livros. Nos seus 18, conheceu um moço vindo doutra terra: o polonês Oscar Breitbarst, a quem lhe concedeu outros cuidados para que ele frutificasse. José J. Veiga foi se fazendo aos poucos, tropeçando nas pedras no meio da vida.
Breitbarst era uma delas. Em sua vendinha de refrescos avermelhados, sabor groselha, atraía crianças e prosas de quem se amigava. Numa delas, firmou história com Veiga. O homem botou-lhe a ideia –– não a do “J” –– de ir para outros cantos, São Paulo ou Rio. Rio de Janeiro, decidiu ele com seus 400 mil réis ganhados no bolso. Sabia que ali não era só capital federal: os intelectuais, da época, lá residiam.
O Rio
Na labuta de encontrar emprego, pendengou os anos de 1930. A fadiga vinha da censura, do cerceamento instaurado por Getúlio Vargas que levou Veiga a declarar: “Acho que 10 de novembro de 1937 foi o dia em que tive mais raiva na minha vida”. Não era só espinhos, a época deu ao corumbaense bons botões profissionais. No auge de seus 30 anos, já graduado pela Faculdade Nacional de Direito, ele vivenciou as efervescentes ruas londrinas já com resquícios da 2° Guerra Mundial. Trabalhou como comentarista e tradutor de programas para o Brasil na BBC inglesa.
Na volta, conquistou bons postos do escalão jornalístico. E mais, conquistou a jovem Clérida Geada. Foi namoro digno de Biblioteca Nacional –– onde a moça o atendia gentil e charmosa. Nasceu, então, no hall literário e perdurou até o ínfimo segundo que assoprou a vida de Veiga. Estudiosa na Escola de Belas Artes, o acompanhou por 49 anos, abandonando o insosso e ocupado trabalho de vida pouco tempo depois da perda de Veiga.
Marinando os dias numa rotina de redação de jornal e passeios com a esposa, Veiga abandonou o oficio de catar feijões em obras literárias consagradas e “escrever para nada”, como dizia, e passou a “escrever a sério”. O caso é que Veiga reescrevia, desde o ginásio, a literatura de quem admirava. A prática tirou-lhe a frase: “Mais tarde descobri que isso me valeu muito”. As publicações, no entanto, se retinham à população das gavetas. No puir do tempo, decidiu aumentá-la, o que frutificou um conto gozado.
Além do real e regional
Foi numa tarde de quarta-feira, um pouco mais de quinze anos após o falecimento do “matuto pra burro” — é que ele se dizia assim; de Guimarães Rosa, seu amigo, a frase surtiu-lhe bem: “Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa”. No pormenor, a iguaria de Veiga acompanhava dose certa de ironia — não era nada de matuto e Agostinho Potenciano de Souza sabe bem disso.
Sua obra, “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, traz consigo o subtítulo “Uma Leitura da Obra de José J. da Veiga”. Leitura que, numa conversa da tarde quente de verão goiano, simplificou-se em epifania boba e maravilhosa, tal qualquer outra. O título de Agostinho diz sobre o olhar de Veiga sobre o que ele, então, vivia. O “crítico” não é mero adjetivo; está mais para substancial. A reflexão de Veiga quanto ao mundo era a obra-prima. A frase “as perguntas são mais importantes que as próprias respostas” vinha da sabedoria desconfiante (de muita coisa) do professor que debruçou seu mestrado a estudar sobre a literatura do “matuto”.
O “conto gozado” foi Agostinho quem narrou e o personagem não era de fabulação alguma de Veiga, e sim o próprio. Já com quase 40 anos, inventou –– calma, não é o “J” –– de ir ao Ministério da Educação, no Rio mesmo, com um punhado de escritos. A história da população? Sim, ele queria publicar seus textos, ter lá seus bons leitores – com todo respeito às gavetas. Deixou com o editor a bagatela de linhas escritas e, antes mesmo que o fim do dia seguinte chegasse, se aprumou numa jornada a fim de resgatar os bons merréis, que para ele já não valiam nada. Pois, ele cumpriu sua missão e tratou de jogá-la no cesto de lixo. “Foi minha salvação ter buscado aquele envelope”, disse o personagem sobre o episódio.
Bichanos
[caption id="attachment_27363" align="alignleft" width="620"] Quanto à análise da obra de José J. Veiga e qualquer especulação sobre o escritor, o professor Agostinho Potenciano diz, certeiro: “As perguntas são mais importantes que as próprias respostas” / Fernando Leite/Jornal Opção[/caption]
Era cheio deles, “recheado”, em melhor palavra. Num deles, o encontro com Rosa, o tal Guimarães. A paixão por biblioteca talvez se enciumasse pela que Veiga devotava aos bichanos bigodudos. Os gatinhos eram tão danados que, numa de adoecer, botou Veiga em prosa com Rosa, amigando-os por bons anos. Foram tão danados que, certamente, a culpa da história do “J” é toda dos adoentados.
Depois da aventura de busca, Veiga abandonou o papel de bom marido e trocou a esposa pela máquina de escrever –– ela logo compreendeu a situação. E ele varou noites amontoando novos escritos. Já tinha ali caule, copa e até frutos. Buscando as palavras do professor e também amigo de Veiga, o professor Agostinho, “se você visitar a obra de J. Veiga, certamente saberá que ‘Os Cavalinhos de Platiplanto’ é a entrada principal”. O amontoado ganhou o 2° lugar no “Prêmio Monteiro Lobato” de 1958.
Outra historieta contada na tarde de quarta é que o livro, tão aclamado pela crítica na época, só chegou às prateleiras muitos anos depois. É que a publicação pela Companhia Editora Nacional, prevista como premiação, nunca aconteceu. Foram só uns tais gatos pingados que saíram de uma primeira edição, um ano depois. E lá estava o tal “J”, todo pomposo na capa do livro. Quem contou o caso do “J” nem tinha voz alta ou coisa assim. Mas dá para imaginar que seja bem mansa e agradável, quase que com acentos de gracejos.
A voz é de Lêda Selma que pôs pompa na alegoria de Veiga. A escritora ou “simples curiosa” fez lá uma biografia da vida do escritor. A quase-epopeia foi publicada sob a edição de Hélio Moreira do livro “Memórias de Nossa Gente”, concebido pela Unicred Centro Brasileira, que traz a vida de literatos e médicos goianos. A paciência ressoa no timbre e em todas as peripécias do escritor que ambos foram encontrando em artigos, prosas com amigos próximos de Veiga — como Luiz de Aquino —, dando-lhes mais pano para manga de um homem que escapulia o real e regional.
Magia sem lugar
As perguntas, tão valorizadas pelo professor, traziam os dois “R”s no corpo do texto. Visto como escritor fantástico ou de realismo mágico, o goiano matuto viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele escapuliu do litoral brasileiro só trinta anos depois e atracou-se em Corumbá, revisitando sua infância.
Ainda que a morte o consagre “escritor goiano” e a certidão não nega –– não nega tampouco o “J” ––, Veiga escrevia de um lugar em que os homens esbravejavam mais. As relações de poder, muitas vezes revistas sob a perspectiva histórica de uma vida marcada por guerras, golpes de Estado, ditadura militar e outros conflitos, estão no cerne de suas obras. O professor autor de “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, que teve o prazer de tê-lo em sua defesa de mestrado, revela que o homenzinho lançava mais perguntas a si e aos homens de seu tempo. O lugar, a seu ver, existe; só não é o substancial. E a fantasia vinha, pois coisas indizíveis contam mais sobre a vida; a magia, no caso, era dona do substancial.
Ainda naquela quarta, dia comum de qualquer calendário, trazia consigo surpresa em capa amarela. Era encadernação de uma prova da Companhia das Letras. A editora publicará, em comemoração ao centenário de Veiga, a obra completa do escritor. Depois de lido um trecho do prefácio –– e vale lembrar o curioso fato que Veiga detestava prefácios ––, dava para jurar certo marejo nos olhos de Agostinho. Assinado por Antonio Arnoni Prado, orientador do mestrado de Agostinho, o trecho contava um detalhe do dia de defesa da dissertação.
“Ainda me lembro, a propósito, de uma manhã, ali pelo final dos anos 1980, em que fui buscá-lo num hotel de Campinas [São Paulo] para assistir a uma defesa de tese sobre sua própria obra. [...] ‘Ele saiu cedinho’, o homem foi logo me dizendo. ‘Foi andar pelas ruas do centro enquanto ainda não tem muita gente na cidade.’ E emendou: ‘Sujeito gozado aquele, não? Queria ver se encontrava cavalos e carroças circulando pelas ruas’”, escreveu Arnoni nas primeiras páginas do livro “A Hora dos Ruminantes” da Cia., que será lançado em breve.
A simplicidade estatela no ocorrido proseado e nas palavras de Agostinho sobre Veiga. Era um senhorzinho simples, que se dizia “pra burro”. Matuto, o homem desconfiava de muita coisa mesmo. Desconfiava tanto, como reconta Lêda, que meteu um “J” no nome de literato só “para equilibrá-lo”. Afinal de contas, a tal simples curiosa tem toda razão: “Tenho cá meu palpite: esse J foi cravejado entre José e Veiga também para dar-lhe ar de mistério e motivo de especulação. Eita, José J. Veiga!”.
O homem que disse ter ingressado “velho” na literatura, lá com seus 44 anos, deixou as letras de seu nome imbuídas de palavras, como a mãe bem lhe ensinara, para quem quisesse ler. Deixou num dia de domingo, já exausto de uma luta contra um câncer de pâncreas. E já era primavera toda florida de um 19 de setembro de 1999 quando foi-se o homem. Como põe Lêda, com a poesia de Rosa: José J. Veiga “ficou encantado”.
Leia um trecho do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto”, presente no livro de mesmo nome, publicado em 1959. E, para descobrir um pouco mais do universo literário e pessoal do escritor, visite o Memorial José J. Veiga, na Biblioteca Central do Sesc, em Goiânia.
O meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito criança. O meu avô Rubem havia me prometido um cavalinho de sua fazenda do Chove-Chuva se eu deixasse lancetarem o meu pé, arruinado com uma estrepada no brinquedo do pique.
Por duas vezes o farmacêutico Osmúsio estivera lá em casa com sua caixa de ferrinhos para o serviço, mas eu fiz tamanho escarcéu que ele não chegou a passar da porta do quarto. Da segunda vez meu pai pediu a seu Osmúsio que esperasse na varanda enquanto ele ia ter uma conversa comigo. Eu sabia bem que espécie de conversa seria; e aproveitando a vantagem da doença, mal ele caminhou para a cama eu comecei novamente a chorar e gritar, esperando atrair a simpatia de minha mãe e, se possível, também a de algum vizinho para reforçar. Por sorte vovô Rubem ia chegando justamente naquela hora. Quando vi a barba dele apontar na porta, compreendi que estava salvo pelo menos por aquela vez; era uma regra assentada lá em casa que ninguém devia contrariar vovô Rubem. Em todo caso chorei um pouco mais para consolidar minha vitória, e só sosseguei quando ele intimou meu pai a sair do quarto.
Vovô sentou-se na beira da cama, pôs o chapéu e a bengala ao meu lado e perguntou por que era que meu pai estava judiando comigo. Para impressioná-lo melhor eu disse que era porque eu não queria deixar seu Osmúsio cortar o meu pé.
— Cortar fora?
Não era exatamente isso o que eu tinha querido dizer, mas achei eficaz confirmar; e por prudência não falei, apenas bati a cabeça.
— Mas que malvados! Então isso se faz? Deixa eu ver.
Vovô tirou os óculos, assentou-os no nariz e começou a fazer um exame demorado de meu pé. Olhou-o por cima, por baixo, de lado, apalpou-o e perguntou se doía. Naturalmente eu não ia dizer que não, e até ainda dei uns gemidos calculados. Ele tirou os óculos, fez uma cara muito séria e disse:
— É exagero deles. Não é preciso cortar. Basta lancetar.
Ele deve ter notado o meu desapontamento, porque explicou depressa, fazendo cócega na sola do meu pé:
— Mas nessas coisas, mesmo sendo preciso, quem resolve é o dono da doença. Se você não disser que pode, eu não deixo ninguém mexer, nem o rei. Você não é mais desses menininhos de cueiro, que não têm querer. Na festa do Divino você já vai vestir um parelhinho de calça comprida que eu vou comprar, e vou lhe dar também um cavalinho pra você acompanhar a folia.
— Com arreio mexicano?
— Com arreio mexicano. Já encomendei ao Felipe. Mas tem uma coisa. Se você não ficar bom desse pé, não vai poder montar. Eu acho que o jeito é você mandar lancetar logo.
— E se doer?
— Doer? É capaz de doer um pouco, mas não chega aos pés da dor de cortar. Essa sim, é uma dor mantena. Uma vez no Chove-Chuva tivemos que cortar um dedo — só um dedo — de um vaqueiro que tinha apanhado panariz e ele urinou de dor. E era um homem forçoso, acostumado a derrubar boi pelo rabo.
Meu avô era um homem que sabia explicar tudo com clareza, sem ralhar e sem tirar a razão da gente. Foi ele mesmo que chamou seu Osmúsio, mas deixou que eu desse a ordem. Naturalmente eu chorei um pouco, não de dor, porque antes ele jogou bastante de lança-perfume, mas de conveniência, porque se eu mostrasse que não estava sentindo nada eles podiam rir de mim depois.
Quanto à análise da obra de José J. Veiga e qualquer especulação sobre o escritor, o professor Agostinho Potenciano diz, certeiro: “As perguntas são mais importantes que as próprias respostas” / Fernando Leite/Jornal Opção[/caption]
Era cheio deles, “recheado”, em melhor palavra. Num deles, o encontro com Rosa, o tal Guimarães. A paixão por biblioteca talvez se enciumasse pela que Veiga devotava aos bichanos bigodudos. Os gatinhos eram tão danados que, numa de adoecer, botou Veiga em prosa com Rosa, amigando-os por bons anos. Foram tão danados que, certamente, a culpa da história do “J” é toda dos adoentados.
Depois da aventura de busca, Veiga abandonou o papel de bom marido e trocou a esposa pela máquina de escrever –– ela logo compreendeu a situação. E ele varou noites amontoando novos escritos. Já tinha ali caule, copa e até frutos. Buscando as palavras do professor e também amigo de Veiga, o professor Agostinho, “se você visitar a obra de J. Veiga, certamente saberá que ‘Os Cavalinhos de Platiplanto’ é a entrada principal”. O amontoado ganhou o 2° lugar no “Prêmio Monteiro Lobato” de 1958.
Outra historieta contada na tarde de quarta é que o livro, tão aclamado pela crítica na época, só chegou às prateleiras muitos anos depois. É que a publicação pela Companhia Editora Nacional, prevista como premiação, nunca aconteceu. Foram só uns tais gatos pingados que saíram de uma primeira edição, um ano depois. E lá estava o tal “J”, todo pomposo na capa do livro. Quem contou o caso do “J” nem tinha voz alta ou coisa assim. Mas dá para imaginar que seja bem mansa e agradável, quase que com acentos de gracejos.
A voz é de Lêda Selma que pôs pompa na alegoria de Veiga. A escritora ou “simples curiosa” fez lá uma biografia da vida do escritor. A quase-epopeia foi publicada sob a edição de Hélio Moreira do livro “Memórias de Nossa Gente”, concebido pela Unicred Centro Brasileira, que traz a vida de literatos e médicos goianos. A paciência ressoa no timbre e em todas as peripécias do escritor que ambos foram encontrando em artigos, prosas com amigos próximos de Veiga — como Luiz de Aquino —, dando-lhes mais pano para manga de um homem que escapulia o real e regional.
Magia sem lugar
As perguntas, tão valorizadas pelo professor, traziam os dois “R”s no corpo do texto. Visto como escritor fantástico ou de realismo mágico, o goiano matuto viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele escapuliu do litoral brasileiro só trinta anos depois e atracou-se em Corumbá, revisitando sua infância.
Ainda que a morte o consagre “escritor goiano” e a certidão não nega –– não nega tampouco o “J” ––, Veiga escrevia de um lugar em que os homens esbravejavam mais. As relações de poder, muitas vezes revistas sob a perspectiva histórica de uma vida marcada por guerras, golpes de Estado, ditadura militar e outros conflitos, estão no cerne de suas obras. O professor autor de “Um Olhar Crítico Sobre o Nosso Tempo”, que teve o prazer de tê-lo em sua defesa de mestrado, revela que o homenzinho lançava mais perguntas a si e aos homens de seu tempo. O lugar, a seu ver, existe; só não é o substancial. E a fantasia vinha, pois coisas indizíveis contam mais sobre a vida; a magia, no caso, era dona do substancial.
Ainda naquela quarta, dia comum de qualquer calendário, trazia consigo surpresa em capa amarela. Era encadernação de uma prova da Companhia das Letras. A editora publicará, em comemoração ao centenário de Veiga, a obra completa do escritor. Depois de lido um trecho do prefácio –– e vale lembrar o curioso fato que Veiga detestava prefácios ––, dava para jurar certo marejo nos olhos de Agostinho. Assinado por Antonio Arnoni Prado, orientador do mestrado de Agostinho, o trecho contava um detalhe do dia de defesa da dissertação.
“Ainda me lembro, a propósito, de uma manhã, ali pelo final dos anos 1980, em que fui buscá-lo num hotel de Campinas [São Paulo] para assistir a uma defesa de tese sobre sua própria obra. [...] ‘Ele saiu cedinho’, o homem foi logo me dizendo. ‘Foi andar pelas ruas do centro enquanto ainda não tem muita gente na cidade.’ E emendou: ‘Sujeito gozado aquele, não? Queria ver se encontrava cavalos e carroças circulando pelas ruas’”, escreveu Arnoni nas primeiras páginas do livro “A Hora dos Ruminantes” da Cia., que será lançado em breve.
A simplicidade estatela no ocorrido proseado e nas palavras de Agostinho sobre Veiga. Era um senhorzinho simples, que se dizia “pra burro”. Matuto, o homem desconfiava de muita coisa mesmo. Desconfiava tanto, como reconta Lêda, que meteu um “J” no nome de literato só “para equilibrá-lo”. Afinal de contas, a tal simples curiosa tem toda razão: “Tenho cá meu palpite: esse J foi cravejado entre José e Veiga também para dar-lhe ar de mistério e motivo de especulação. Eita, José J. Veiga!”.
O homem que disse ter ingressado “velho” na literatura, lá com seus 44 anos, deixou as letras de seu nome imbuídas de palavras, como a mãe bem lhe ensinara, para quem quisesse ler. Deixou num dia de domingo, já exausto de uma luta contra um câncer de pâncreas. E já era primavera toda florida de um 19 de setembro de 1999 quando foi-se o homem. Como põe Lêda, com a poesia de Rosa: José J. Veiga “ficou encantado”.
Leia um trecho do conto “Os Cavalinhos de Platiplanto”, presente no livro de mesmo nome, publicado em 1959. E, para descobrir um pouco mais do universo literário e pessoal do escritor, visite o Memorial José J. Veiga, na Biblioteca Central do Sesc, em Goiânia.
O meu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito criança. O meu avô Rubem havia me prometido um cavalinho de sua fazenda do Chove-Chuva se eu deixasse lancetarem o meu pé, arruinado com uma estrepada no brinquedo do pique.
Por duas vezes o farmacêutico Osmúsio estivera lá em casa com sua caixa de ferrinhos para o serviço, mas eu fiz tamanho escarcéu que ele não chegou a passar da porta do quarto. Da segunda vez meu pai pediu a seu Osmúsio que esperasse na varanda enquanto ele ia ter uma conversa comigo. Eu sabia bem que espécie de conversa seria; e aproveitando a vantagem da doença, mal ele caminhou para a cama eu comecei novamente a chorar e gritar, esperando atrair a simpatia de minha mãe e, se possível, também a de algum vizinho para reforçar. Por sorte vovô Rubem ia chegando justamente naquela hora. Quando vi a barba dele apontar na porta, compreendi que estava salvo pelo menos por aquela vez; era uma regra assentada lá em casa que ninguém devia contrariar vovô Rubem. Em todo caso chorei um pouco mais para consolidar minha vitória, e só sosseguei quando ele intimou meu pai a sair do quarto.
Vovô sentou-se na beira da cama, pôs o chapéu e a bengala ao meu lado e perguntou por que era que meu pai estava judiando comigo. Para impressioná-lo melhor eu disse que era porque eu não queria deixar seu Osmúsio cortar o meu pé.
— Cortar fora?
Não era exatamente isso o que eu tinha querido dizer, mas achei eficaz confirmar; e por prudência não falei, apenas bati a cabeça.
— Mas que malvados! Então isso se faz? Deixa eu ver.
Vovô tirou os óculos, assentou-os no nariz e começou a fazer um exame demorado de meu pé. Olhou-o por cima, por baixo, de lado, apalpou-o e perguntou se doía. Naturalmente eu não ia dizer que não, e até ainda dei uns gemidos calculados. Ele tirou os óculos, fez uma cara muito séria e disse:
— É exagero deles. Não é preciso cortar. Basta lancetar.
Ele deve ter notado o meu desapontamento, porque explicou depressa, fazendo cócega na sola do meu pé:
— Mas nessas coisas, mesmo sendo preciso, quem resolve é o dono da doença. Se você não disser que pode, eu não deixo ninguém mexer, nem o rei. Você não é mais desses menininhos de cueiro, que não têm querer. Na festa do Divino você já vai vestir um parelhinho de calça comprida que eu vou comprar, e vou lhe dar também um cavalinho pra você acompanhar a folia.
— Com arreio mexicano?
— Com arreio mexicano. Já encomendei ao Felipe. Mas tem uma coisa. Se você não ficar bom desse pé, não vai poder montar. Eu acho que o jeito é você mandar lancetar logo.
— E se doer?
— Doer? É capaz de doer um pouco, mas não chega aos pés da dor de cortar. Essa sim, é uma dor mantena. Uma vez no Chove-Chuva tivemos que cortar um dedo — só um dedo — de um vaqueiro que tinha apanhado panariz e ele urinou de dor. E era um homem forçoso, acostumado a derrubar boi pelo rabo.
Meu avô era um homem que sabia explicar tudo com clareza, sem ralhar e sem tirar a razão da gente. Foi ele mesmo que chamou seu Osmúsio, mas deixou que eu desse a ordem. Naturalmente eu chorei um pouco, não de dor, porque antes ele jogou bastante de lança-perfume, mas de conveniência, porque se eu mostrasse que não estava sentindo nada eles podiam rir de mim depois.

O Jornal Opção tem publicado a série literária “Quatro Estações”. Trata-se de quatro contos em que dois autores escrevem, a quatro mãos, uma breve narrativa inspirada em uma estação do ano. Nesta semana é a vez de “Verão”, obra de criação dos escritores Anderson Fonseca e Mariel Reis. O terceiro texto, “Outono”, de Mauricio de Almeida e Rafael Gallo, será publicado na próxima semana.
 Edgar parecia um gorila resolvido. Gozava de respeito na cidade. Um investigador particular com muito pouco trabalho. Os clientes haviam sumido. A polícia não o procurava mais. A monotonia tomou a rotina do investigador desde o último caso: O Assassinato da Rua Morgue. Talvez o mais intrincado de sua carreira. Um dos seres humanos do zoológico havia escapado e protagonizado um crime brutal. Edgar enfrentou a descrença das autoridades que se recusavam a atribuir o caso a um animal enfurecido, lhes parecendo trabalho de um assassino como das inúmeras séries televisivas veiculadas, em que a maioria dos psicopatas tinha um alto quociente de inteligência, além de beleza e força física.
Porém, o que o intrigava não era a apatia criminosa instalada na cidade, tampouco a falta de clientes ou a responsabilidade das séries de tevê pelo aumento da violência. A preocupação de Edgar era a existência de outro dele, além das fronteiras. Nenhum macaco ousava atravessá-la, ninguém sabia o que havia por lá. Inúmeras histórias eram contadas a todos, desde a infância, e a escola as reforçavam. Edgar pensava consigo mesmo que não eram mais do que fábulas terríveis com o intuito de admoestação moral. Nunca lhe passou pela cabeça que fossem verdadeiras. Viveu toda a juventude sem inquietação nenhuma sobre o que se passava além das fronteiras. No curso universitário, embora não tivesse aptidão para a vida estudantil, fora apresentado, nas diversas fraternidades que percorreu, às teorias de multiuniversos.
Escarafunchando as bibliotecas do campus, descobriu, em livros de autores duvidosos, a confirmação das informações obtidas nas conversas de fraternidades. No entanto, tudo aquilo parecia um mundo fantasioso, um escapismo juvenil. Agora, mais velho, quando tudo o que podia dar errado já havia ocorrido, quando já alcançara a notoriedade, resolvera reviver a tal fantasia.
O carro, aparelhado com o necessário, o esperava na garagem. Um mapa com as paradas para descanso, aberto à sua frente, mostrava parte do planejamento e em um bloco de notas, com mais de vinte folhas escritas, a estratégia se desdobrava. O objetivo era a captura de seu duplo. Edgar contava com armas tranquilizantes e letais; não contava ter que usá-las, mas sabia manejá-las, se preciso. Edgar, o gorila, sonhava com um homem com cabelos negros revoltos, testa alta, queixo curto, cujo nome, sobrenome e filiação fossem iguais aos seus. Virgínia, datilógrafa e namorada de Edgar, rogava para que ele tirasse da cabeça a maluquice. Ele parecia a ela obstinado –– em geral são assim os gorilas.
Partiria no dia seguinte, portanto, dormiria como um bebê. Retirou o carro da garagem, o estacionou em frente de casa, compraria alguns víveres no centro da cidade e voltaria para repousar. Ouviu o alarme de fuga de humanos, enquanto manobrava próximo ao supermercado, procurando vaga. A polícia não perdoaria quem lhe roubou a soneca do plantão. Edgar costuma deixar destrancada a viatura para as emergências, vício antigo, sem nenhuma serventia em tempos tão calmos. Levou consigo apenas as chaves e a carteira que estavam sobre o painel atulhado de quinquilharias, badulaques e um amontoado de multas vencidas. Entrou no mercado. Quando retornou, a rua estava tomada de policiais, os chimpanzés, agitados, segurando lanternas, reviravam os latões de lixo e observavam o interior dos automóveis largados ali. Edgar saudou o sargento Lerie, um velho conhecido.
–– Como está, meu velho?
–– Nada bem, Edgar. Parece que tivemos o perímetro da cidade violado por um humano...
–– Boa sorte.
–– Obrigado, companheiro.
Edgar entrou no carro, jogou as compras no banco traseiro. Deu a partida e pisou fundo. As luzes das viaturas policiais sumiram do retrovisor. Ele abriu o porta-luvas, com rapidez, e sacou a pistola. Apontou para o humano encolhido, perto da sacola de compras e rosnou:
–– Me dê um bom motivo para não estourar seus miolos...
O invasor estendeu a mão, timidamente, dedos longos e finos, a pele pálida, os olhinhos perturbados e penetrantes:
–– Boa noite. E me desculpe. Sou Edgar.
O detetive piscou duas vezes antes de perguntar:
–– Qual é seu nome?
–– Edgar.
O detetive passou as grossas mãos no rosto, manteve a arma apontada para o invasor, relaxou os ombros, balançou a cabeça negativamente e disse:
–– Você só pode estar brincando. Você tem sobrenome? Qual é?
–– Por que quer saber?
–– Responde a pergunta!
–– Alan Poe.
O investigador gargalhou escandalosamente. –– Alan Poe, repetiu aos risos.
O homem contraiu as sobrancelhas sem entender o porquê do riso. Edgar percebeu que o outro estranhou sua reação.
–– Ah, não me diga. Você não sabe por que estou a rir? Eu sou Edgar Alan Poe, você é Edgar Alan Poe. Você sou eu.
–– Ou você sou eu –– disse o homem.
–– Não, meu amigo. Eu sonhei com você, eu senti que você existia. Ei-lo aqui, diante de mim. Você é meu oposto em um universo paralelo.
–– E se estiver sonhando nesse exato momento?
Edgar aproximou-se do homem, encostou o cano da arma na cabeça dele e disse: –– Se eu atirar e você morrer e eu acordar, então era um sonho, se não, isso é real. O homem engoliu a saliva.
–– Mas se você não despertar, então terá a certeza de estar no Inferno.
–– Ou, se meus olhos permanecerem abertos, constatarei somente que você é minha versão em um universo paralelo que violou as leis da física aparecendo aqui.
–– Está assistindo muitos filmes ultimamente, detetive. Eu só fugi do zoológico e cometi um assassinato. Por que acredita tanto nisso?
–– Você já assistiu “O Confronto”, com Jet Li? Nesse filme o protagonista descobre que existem 12 versões dele em 12 universos paralelos e que uma dessas versões está eliminando todas as outras a fim de obter poder absoluto.
–– Você tem assistido muita porcaria. Sugiro lavagem cerebral com a intenção de curá-lo de suas paranoias.
–– Vá se ferrar! Você é ou não de um universo paralelo? Confirme a droga da minha hipótese.
–– Admito que sim e estou surpreso que você, detetive, seja um gorila. Aliás, que eu nesse mundo seja um gorila.
Edgar sentiu-se tão ofendido com a palavra “gorila” que desferiu um soco no rosto do homem. Isso bastou para que escolhesse bem as palavras.
–– De onde você é, seu desgraçado? –– O sangue já fervia no corpo de Edgar; por ele, teria matado o outro, mas o desejo de saber a verdade o detinha.
–– Eu sou de outra terra e creio que estou aqui graças a um abalo sísmico. Se minha teoria estiver certa, o abalo distorceu as ondas eletromagnéticas da terra criando um portal para essa versão alternativa. Estou aqui por um acidente.
–– E o que você é em sua terra?
–– Eu sou detetive e escritor. Mas isso importa agora? Só não posso deixar de rir da situação, lembra-me muito o filme “Planeta dos macacos”, um mundo governado por símios em que os humanos são escravizados. Se o diretor da porra daquele filme soubesse que a visão dele era tão real, acho que teria feito outra coisa. Agora estou aqui como um animal de zoológico diante de mim mesmo numa versão primitiva.
–– Você é de fato um desgraçado. Merece outra porrada, mas desta vez não receberá. Em meu mundo, o filme teve outro nome “Planeta dos humanos”. E você parece um animal. Responda-me, quem você matou?
–– Não acreditaria, toda uma família que me olhou como um animal de estimação.
–– Você não estaria aqui se não fosse o conceito de simetria que rege o universo, mas deveria haver alguma lei inviolável que proibisse a ruptura da simetria, senão você já teria desaparecido. Além disso, se sou de fato sua outra versão cósmica, por que ainda estou aqui? Por que não houve uma fusão entre nossos corpos e o desaparecimento de ambas as versões?
–– Isso é claro, se desaparecermos, os dois universos também desaparecem. A questão é como fazer com que eu volte.
–– Se continuar aqui, eu tenho certeza que matará mais gente. Você não tem respeito pela minha espécie e nem pela minha realidade, seu escritor de bosta.
–– Tenha certeza que matarei, sou um homem e você um gorila.
–– Tenho certeza que sim, por isso não tiro o gatilho da sua cabeça.
–– Mas até agora não apertou.
— Se eu apertar, quem irá morrer, eu com você ou esta realidade? Como não sei a resposta, não é hora de estourar seus miolos. No filme “O confronto”, a morte de um não afeta os outros universos. E se isso valer para nós dois? Se você morrer talvez eu morra, mas não esta realidade.
–– Dê logo a droga desse tiro.
–– Tens razão, é hora de dar o tiro.
Edgar afasta a arma da cabeça do humano, coloca-a na própria boca e aperta o gatilho. O corpo do gorila cai em peso sobre o chão. O humano –– o outro Edgar –– observa a queda, estarrecido. O gorila estava morto, foi o que pensou. Mas não foi bem o que aconteceu. No instante após o tiro, a mente de Edgar sofreu um violento colapso, as luzes que o atingiam se desfizeram e um clarão mais intenso que o sol tomou seus olhos. Em uma fração de segundos, o universo desapareceu e outro emergiu do oceano de energia e, como uma porta que é aberta por dentro, a mente de Edgar atravessou incontáveis dimensões. Quando esse instante passou, ele viu a si mesmo de joelho diante de um homem. Ele continuava um gorila, mas não era um detetive, era um animal. Suas mãos estavam ensanguentadas, ele as olhou com pesar, tinha matado não um, mas toda uma família, assim como seu eu do universo paralelo. Ergueu o rosto para ver o homem que o prendera. Não estava surpreso, era o outro Edgar. Assim que o viu, Edgar entendeu o que é o Universo, um infinito labirinto de portas. Não importa por qual delas atravessemos, as situações serão idênticas ainda que a posição dos personagens tenha se alterado.
[caption id="attachment_27350" align="alignleft" width="300"]
Edgar parecia um gorila resolvido. Gozava de respeito na cidade. Um investigador particular com muito pouco trabalho. Os clientes haviam sumido. A polícia não o procurava mais. A monotonia tomou a rotina do investigador desde o último caso: O Assassinato da Rua Morgue. Talvez o mais intrincado de sua carreira. Um dos seres humanos do zoológico havia escapado e protagonizado um crime brutal. Edgar enfrentou a descrença das autoridades que se recusavam a atribuir o caso a um animal enfurecido, lhes parecendo trabalho de um assassino como das inúmeras séries televisivas veiculadas, em que a maioria dos psicopatas tinha um alto quociente de inteligência, além de beleza e força física.
Porém, o que o intrigava não era a apatia criminosa instalada na cidade, tampouco a falta de clientes ou a responsabilidade das séries de tevê pelo aumento da violência. A preocupação de Edgar era a existência de outro dele, além das fronteiras. Nenhum macaco ousava atravessá-la, ninguém sabia o que havia por lá. Inúmeras histórias eram contadas a todos, desde a infância, e a escola as reforçavam. Edgar pensava consigo mesmo que não eram mais do que fábulas terríveis com o intuito de admoestação moral. Nunca lhe passou pela cabeça que fossem verdadeiras. Viveu toda a juventude sem inquietação nenhuma sobre o que se passava além das fronteiras. No curso universitário, embora não tivesse aptidão para a vida estudantil, fora apresentado, nas diversas fraternidades que percorreu, às teorias de multiuniversos.
Escarafunchando as bibliotecas do campus, descobriu, em livros de autores duvidosos, a confirmação das informações obtidas nas conversas de fraternidades. No entanto, tudo aquilo parecia um mundo fantasioso, um escapismo juvenil. Agora, mais velho, quando tudo o que podia dar errado já havia ocorrido, quando já alcançara a notoriedade, resolvera reviver a tal fantasia.
O carro, aparelhado com o necessário, o esperava na garagem. Um mapa com as paradas para descanso, aberto à sua frente, mostrava parte do planejamento e em um bloco de notas, com mais de vinte folhas escritas, a estratégia se desdobrava. O objetivo era a captura de seu duplo. Edgar contava com armas tranquilizantes e letais; não contava ter que usá-las, mas sabia manejá-las, se preciso. Edgar, o gorila, sonhava com um homem com cabelos negros revoltos, testa alta, queixo curto, cujo nome, sobrenome e filiação fossem iguais aos seus. Virgínia, datilógrafa e namorada de Edgar, rogava para que ele tirasse da cabeça a maluquice. Ele parecia a ela obstinado –– em geral são assim os gorilas.
Partiria no dia seguinte, portanto, dormiria como um bebê. Retirou o carro da garagem, o estacionou em frente de casa, compraria alguns víveres no centro da cidade e voltaria para repousar. Ouviu o alarme de fuga de humanos, enquanto manobrava próximo ao supermercado, procurando vaga. A polícia não perdoaria quem lhe roubou a soneca do plantão. Edgar costuma deixar destrancada a viatura para as emergências, vício antigo, sem nenhuma serventia em tempos tão calmos. Levou consigo apenas as chaves e a carteira que estavam sobre o painel atulhado de quinquilharias, badulaques e um amontoado de multas vencidas. Entrou no mercado. Quando retornou, a rua estava tomada de policiais, os chimpanzés, agitados, segurando lanternas, reviravam os latões de lixo e observavam o interior dos automóveis largados ali. Edgar saudou o sargento Lerie, um velho conhecido.
–– Como está, meu velho?
–– Nada bem, Edgar. Parece que tivemos o perímetro da cidade violado por um humano...
–– Boa sorte.
–– Obrigado, companheiro.
Edgar entrou no carro, jogou as compras no banco traseiro. Deu a partida e pisou fundo. As luzes das viaturas policiais sumiram do retrovisor. Ele abriu o porta-luvas, com rapidez, e sacou a pistola. Apontou para o humano encolhido, perto da sacola de compras e rosnou:
–– Me dê um bom motivo para não estourar seus miolos...
O invasor estendeu a mão, timidamente, dedos longos e finos, a pele pálida, os olhinhos perturbados e penetrantes:
–– Boa noite. E me desculpe. Sou Edgar.
O detetive piscou duas vezes antes de perguntar:
–– Qual é seu nome?
–– Edgar.
O detetive passou as grossas mãos no rosto, manteve a arma apontada para o invasor, relaxou os ombros, balançou a cabeça negativamente e disse:
–– Você só pode estar brincando. Você tem sobrenome? Qual é?
–– Por que quer saber?
–– Responde a pergunta!
–– Alan Poe.
O investigador gargalhou escandalosamente. –– Alan Poe, repetiu aos risos.
O homem contraiu as sobrancelhas sem entender o porquê do riso. Edgar percebeu que o outro estranhou sua reação.
–– Ah, não me diga. Você não sabe por que estou a rir? Eu sou Edgar Alan Poe, você é Edgar Alan Poe. Você sou eu.
–– Ou você sou eu –– disse o homem.
–– Não, meu amigo. Eu sonhei com você, eu senti que você existia. Ei-lo aqui, diante de mim. Você é meu oposto em um universo paralelo.
–– E se estiver sonhando nesse exato momento?
Edgar aproximou-se do homem, encostou o cano da arma na cabeça dele e disse: –– Se eu atirar e você morrer e eu acordar, então era um sonho, se não, isso é real. O homem engoliu a saliva.
–– Mas se você não despertar, então terá a certeza de estar no Inferno.
–– Ou, se meus olhos permanecerem abertos, constatarei somente que você é minha versão em um universo paralelo que violou as leis da física aparecendo aqui.
–– Está assistindo muitos filmes ultimamente, detetive. Eu só fugi do zoológico e cometi um assassinato. Por que acredita tanto nisso?
–– Você já assistiu “O Confronto”, com Jet Li? Nesse filme o protagonista descobre que existem 12 versões dele em 12 universos paralelos e que uma dessas versões está eliminando todas as outras a fim de obter poder absoluto.
–– Você tem assistido muita porcaria. Sugiro lavagem cerebral com a intenção de curá-lo de suas paranoias.
–– Vá se ferrar! Você é ou não de um universo paralelo? Confirme a droga da minha hipótese.
–– Admito que sim e estou surpreso que você, detetive, seja um gorila. Aliás, que eu nesse mundo seja um gorila.
Edgar sentiu-se tão ofendido com a palavra “gorila” que desferiu um soco no rosto do homem. Isso bastou para que escolhesse bem as palavras.
–– De onde você é, seu desgraçado? –– O sangue já fervia no corpo de Edgar; por ele, teria matado o outro, mas o desejo de saber a verdade o detinha.
–– Eu sou de outra terra e creio que estou aqui graças a um abalo sísmico. Se minha teoria estiver certa, o abalo distorceu as ondas eletromagnéticas da terra criando um portal para essa versão alternativa. Estou aqui por um acidente.
–– E o que você é em sua terra?
–– Eu sou detetive e escritor. Mas isso importa agora? Só não posso deixar de rir da situação, lembra-me muito o filme “Planeta dos macacos”, um mundo governado por símios em que os humanos são escravizados. Se o diretor da porra daquele filme soubesse que a visão dele era tão real, acho que teria feito outra coisa. Agora estou aqui como um animal de zoológico diante de mim mesmo numa versão primitiva.
–– Você é de fato um desgraçado. Merece outra porrada, mas desta vez não receberá. Em meu mundo, o filme teve outro nome “Planeta dos humanos”. E você parece um animal. Responda-me, quem você matou?
–– Não acreditaria, toda uma família que me olhou como um animal de estimação.
–– Você não estaria aqui se não fosse o conceito de simetria que rege o universo, mas deveria haver alguma lei inviolável que proibisse a ruptura da simetria, senão você já teria desaparecido. Além disso, se sou de fato sua outra versão cósmica, por que ainda estou aqui? Por que não houve uma fusão entre nossos corpos e o desaparecimento de ambas as versões?
–– Isso é claro, se desaparecermos, os dois universos também desaparecem. A questão é como fazer com que eu volte.
–– Se continuar aqui, eu tenho certeza que matará mais gente. Você não tem respeito pela minha espécie e nem pela minha realidade, seu escritor de bosta.
–– Tenha certeza que matarei, sou um homem e você um gorila.
–– Tenho certeza que sim, por isso não tiro o gatilho da sua cabeça.
–– Mas até agora não apertou.
— Se eu apertar, quem irá morrer, eu com você ou esta realidade? Como não sei a resposta, não é hora de estourar seus miolos. No filme “O confronto”, a morte de um não afeta os outros universos. E se isso valer para nós dois? Se você morrer talvez eu morra, mas não esta realidade.
–– Dê logo a droga desse tiro.
–– Tens razão, é hora de dar o tiro.
Edgar afasta a arma da cabeça do humano, coloca-a na própria boca e aperta o gatilho. O corpo do gorila cai em peso sobre o chão. O humano –– o outro Edgar –– observa a queda, estarrecido. O gorila estava morto, foi o que pensou. Mas não foi bem o que aconteceu. No instante após o tiro, a mente de Edgar sofreu um violento colapso, as luzes que o atingiam se desfizeram e um clarão mais intenso que o sol tomou seus olhos. Em uma fração de segundos, o universo desapareceu e outro emergiu do oceano de energia e, como uma porta que é aberta por dentro, a mente de Edgar atravessou incontáveis dimensões. Quando esse instante passou, ele viu a si mesmo de joelho diante de um homem. Ele continuava um gorila, mas não era um detetive, era um animal. Suas mãos estavam ensanguentadas, ele as olhou com pesar, tinha matado não um, mas toda uma família, assim como seu eu do universo paralelo. Ergueu o rosto para ver o homem que o prendera. Não estava surpreso, era o outro Edgar. Assim que o viu, Edgar entendeu o que é o Universo, um infinito labirinto de portas. Não importa por qual delas atravessemos, as situações serão idênticas ainda que a posição dos personagens tenha se alterado.
[caption id="attachment_27350" align="alignleft" width="300"] Foto: Divulgação[/caption]
Mariel Reis é carioca, nascido em 1976. Cursou Letras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A partir da década de 1990, começou a publicar seus contos em diversas revistas eletrônicas, culminando a experiência com a extinta revista Paralelos. Publicou o último livro “A Arte de Afinar o Silêncio” (Ponteio Editora), em 2012. É um dos editores da revista eletrônica de contos Flaubert.
[caption id="attachment_27352" align="alignleft" width="300"]
Foto: Divulgação[/caption]
Mariel Reis é carioca, nascido em 1976. Cursou Letras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A partir da década de 1990, começou a publicar seus contos em diversas revistas eletrônicas, culminando a experiência com a extinta revista Paralelos. Publicou o último livro “A Arte de Afinar o Silêncio” (Ponteio Editora), em 2012. É um dos editores da revista eletrônica de contos Flaubert.
[caption id="attachment_27352" align="alignleft" width="300"] Foto: dvulgação[/caption]
Anderson Fonseca é escritor e professor. Autor dos livros de contos “Sr. Bergier & Outras Histórias” (Rubra Cartoneira, 2013) e “O que Eu Disse ao General” (Oitava Rima, 2014), Anderson escreve diariamente duas laudas de um livro novo de contos e, quando não escreve, está brincando com sua filha Ana Clara.
Foto: dvulgação[/caption]
Anderson Fonseca é escritor e professor. Autor dos livros de contos “Sr. Bergier & Outras Histórias” (Rubra Cartoneira, 2013) e “O que Eu Disse ao General” (Oitava Rima, 2014), Anderson escreve diariamente duas laudas de um livro novo de contos e, quando não escreve, está brincando com sua filha Ana Clara.
 Livro - Quando dizem que o presidente é um marqueteiro, não duvidem. A fala é comum nas bocas dos oposicionistas do PT. Mas quem é João Santana? Eis uma resposta.
Livro - Quando dizem que o presidente é um marqueteiro, não duvidem. A fala é comum nas bocas dos oposicionistas do PT. Mas quem é João Santana? Eis uma resposta.
 Música - Cee Lo Green causou alvoroço ao lançar seu novo álbum, que chegou a ser chamado de “estranho” pelos críticos. O CD está disponível, de graça, no Soundcloud.
Música - Cee Lo Green causou alvoroço ao lançar seu novo álbum, que chegou a ser chamado de “estranho” pelos críticos. O CD está disponível, de graça, no Soundcloud.
 Filme - Bastante comentado neste início de ano, Garota Exemplar entra em pré-venda, no dia 4, em DVD. O longa concorre uma estatueta do Oscar na caterogoria melhor atriz.
Filme - Bastante comentado neste início de ano, Garota Exemplar entra em pré-venda, no dia 4, em DVD. O longa concorre uma estatueta do Oscar na caterogoria melhor atriz.
-- Pré-Grito Rock, que começa no dia 14 e vai até o dia 16, o Centro Cultural Martim Cererê recebe o Old School Rock Gyn, no dia 6. É sexta agora! Quem vamos? -- Já no Teatro Goiânia... na quinta-feira, 5, tem espetáculo de dança e no dia seguinte, além de uma peça de teatro ainda vai rolar lançamento de livro. -- "Res-Pública: Conclamação para uma alternativa global". Parece nome de filme, mas é o título da exposição do artista alemão Joseph Beuys, que termina no próximo dia 9, no Museu Nacional, em Brasília.
Brasília mantém sua forte agenda cultural. No dia 5 terá início a exposição com fotos inéditas de Bauhaus, escola alemã que exerceu uma alta influência na arquitetura e design ocidentais e foi fechada em 1933, com a ascenção do governo nazista. A fotografia só foi considerada uma matéria da escola a partir de 1929, porém as câmeras fotográficas e atividades áudio visuais já faziam parte de seu cotidiano. A exposição na capital federal acontece no Museu Nacional até o dia 16 de março. Entrada franca.
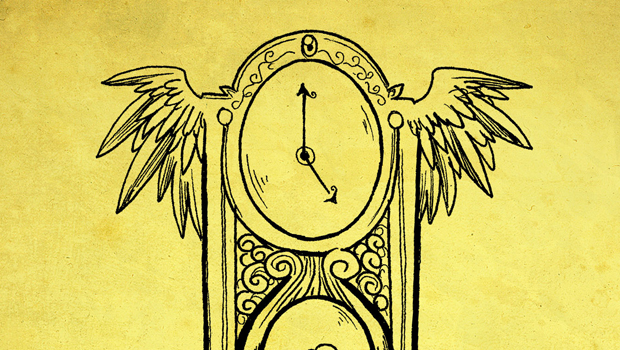
Por Duanny Gumesson
Era ela, a aspirante a escritora. A escritora dos momentos de desabafo. Sentava na dura cadeira de madeira, lia alguns textos diversos, esvaía aquela breve inspiração e desistia. Precisava de bem mais que inspiração. Precisava de fatos, de gente, de sentimento, vida pra transformar tudo em um misto de palavras. Era quase um diário da menina. Digo, da pseudoescritora. O que não permite que os críticos ferrenhos digam que não há vida, ou verdade. Porque ela é toda verdade, toda vida, toda movimento, encanto, marcação.
Precisava de um start pra iniciar a sessão de textos do novo ano. E a melhor forma de iniciar escrevendo em um novo ano é falando sobre ele, claro. Teste, início, formas... Chegaram! Um dos encantadores da menina aspirante à escritora forneceu a matéria-prima pra brincadeira de palavras que ela queria elaborar. Era um texto sobre 2015. Um ótimo texto. Ela, então, saiu da crise criativa em que estava e produziu algo que era mais ou menos assim:
[caption id="attachment_27299" align="alignright" width="620"] Reprodução[/caption]
"Sem saber o que falar, não posso me dar ao luxo de não desejar um belíssimo ano aos meus companheiros fiéis. Andam dizendo por aí que 2015 será um bom ano. Concordo. Que será um ótimo ano. Concordo. Disseram que será o melhor ano. Discordo.
"O melhor ano da sua vida será 2015", ouviu de longe 2016, que contou para 2017, que repassou a informação pra 2018. Os três próximos anos ouviram e foram reclamar com as autoridades competentes (seriam os maias, talvez?). Chegaram, pegaram a senha e ficaram discutindo na sala de espera a pretensão de 2015. Se fosse 2015 o melhor ano de todos, era melhor que os próximos nem chegassem, porque 7 bilhões de pessoas iriam se lamentar pelo resto de suas vidas por não terem mais ótimos anos como aquele.
Chamaram a senha de número 15 e lá se foram os três anos revoltados, na ordem crescente. Chegaram à sala do Senhor Cronos –– coincidentemente (ou não), o mesmo nome do deus do tempo da mitologia grega. Explicaram a situação, Cronos os ouviu, atentamente, e silenciou. Os anos também calaram-se. O ruído calado incomodava aqueles elementos temporais todos.
Cronos levantou-se, acendeu um cigarro, olhou a vista da janela. Achou normal. Voltou-se para os três anos ali, revoltados. Apoiou seu cigarro no cinzeiro, desligou as luzes e ligou o datashow. Logo no começo apareceu o calendário maia. Perguntou aos presentes:
–– Sabem o que é isso?
–– Claro –– responderam em coro.
No próximo slide, os anos 2000 aparecem com a ilustração das panes nos sistemas informatizados. Cronos questiona:
–– Reconhecem? –– e eles responderam afirmativamente.
Cronos acelerou a velocidade de apresentação dos slides e mostrou, em sequência, o efeito Júpiter de 1974, a Ruptura de maio de 2011 e o Armagedon de 1914. Tragou mais uma vez seu cigarro, pousou-o no lugar apropriado, voltou-se para 2016, 2017 e 2018 e disse:
–– E então?
2015 disse, meio envergonhado, que achava não ter compreendido o que o responsável pelos tempos tentou transmitir.
Cronos sorriu e afirmou, conclusivamente, que estavam todos ali, discutindo acerca de um novo ano que iria acontecer de várias formas para várias pessoas. Podia ser que alguns aguardassem o fim, que outros alcançassem objetivos, que muitos iniciassem de forma otimista ou pessimista. Sonhos se realizariam em 2015, tragédias também. E assim seria em 2016, em 2017, em 2078. Porque não adiantaria os tempos se preocuparem, os personagens principais são humanos. Ou desumanos.
Os três anos subsequentes agradeceram a explicação de Cronos e deixaram a sala. Se olharam, sorriram. E perceberam que 2015 deixaria espaço e bons acontecimentos para todos os outros. Porque a vida é assim: expectativa, indecisão, decisão, sorte, amor, azar, companheirismo ou a falta dele, independentemente de quatro algarismos."
Assim sendo, a escritorazinha terminou. E esperou muito do 2015 dela, que, aliás, havia começado muitíssimo bem. E levava consigo muita esperança, amor, sonhos, alegrias pra viver aquele ano. E todos os outros. Queria tudo de bom pra quem amava, pra quem a fez se sentir bem nos anos anteriores e para quem ainda iria aparecer e colorir com diferentes motivos tudo aquilo.
Amazonense, Duanny Gumesson é escritora, formada em Letras, e pós-graduanda em Revisão de Texto e Educação a Distância
Reprodução[/caption]
"Sem saber o que falar, não posso me dar ao luxo de não desejar um belíssimo ano aos meus companheiros fiéis. Andam dizendo por aí que 2015 será um bom ano. Concordo. Que será um ótimo ano. Concordo. Disseram que será o melhor ano. Discordo.
"O melhor ano da sua vida será 2015", ouviu de longe 2016, que contou para 2017, que repassou a informação pra 2018. Os três próximos anos ouviram e foram reclamar com as autoridades competentes (seriam os maias, talvez?). Chegaram, pegaram a senha e ficaram discutindo na sala de espera a pretensão de 2015. Se fosse 2015 o melhor ano de todos, era melhor que os próximos nem chegassem, porque 7 bilhões de pessoas iriam se lamentar pelo resto de suas vidas por não terem mais ótimos anos como aquele.
Chamaram a senha de número 15 e lá se foram os três anos revoltados, na ordem crescente. Chegaram à sala do Senhor Cronos –– coincidentemente (ou não), o mesmo nome do deus do tempo da mitologia grega. Explicaram a situação, Cronos os ouviu, atentamente, e silenciou. Os anos também calaram-se. O ruído calado incomodava aqueles elementos temporais todos.
Cronos levantou-se, acendeu um cigarro, olhou a vista da janela. Achou normal. Voltou-se para os três anos ali, revoltados. Apoiou seu cigarro no cinzeiro, desligou as luzes e ligou o datashow. Logo no começo apareceu o calendário maia. Perguntou aos presentes:
–– Sabem o que é isso?
–– Claro –– responderam em coro.
No próximo slide, os anos 2000 aparecem com a ilustração das panes nos sistemas informatizados. Cronos questiona:
–– Reconhecem? –– e eles responderam afirmativamente.
Cronos acelerou a velocidade de apresentação dos slides e mostrou, em sequência, o efeito Júpiter de 1974, a Ruptura de maio de 2011 e o Armagedon de 1914. Tragou mais uma vez seu cigarro, pousou-o no lugar apropriado, voltou-se para 2016, 2017 e 2018 e disse:
–– E então?
2015 disse, meio envergonhado, que achava não ter compreendido o que o responsável pelos tempos tentou transmitir.
Cronos sorriu e afirmou, conclusivamente, que estavam todos ali, discutindo acerca de um novo ano que iria acontecer de várias formas para várias pessoas. Podia ser que alguns aguardassem o fim, que outros alcançassem objetivos, que muitos iniciassem de forma otimista ou pessimista. Sonhos se realizariam em 2015, tragédias também. E assim seria em 2016, em 2017, em 2078. Porque não adiantaria os tempos se preocuparem, os personagens principais são humanos. Ou desumanos.
Os três anos subsequentes agradeceram a explicação de Cronos e deixaram a sala. Se olharam, sorriram. E perceberam que 2015 deixaria espaço e bons acontecimentos para todos os outros. Porque a vida é assim: expectativa, indecisão, decisão, sorte, amor, azar, companheirismo ou a falta dele, independentemente de quatro algarismos."
Assim sendo, a escritorazinha terminou. E esperou muito do 2015 dela, que, aliás, havia começado muitíssimo bem. E levava consigo muita esperança, amor, sonhos, alegrias pra viver aquele ano. E todos os outros. Queria tudo de bom pra quem amava, pra quem a fez se sentir bem nos anos anteriores e para quem ainda iria aparecer e colorir com diferentes motivos tudo aquilo.
Amazonense, Duanny Gumesson é escritora, formada em Letras, e pós-graduanda em Revisão de Texto e Educação a Distância

 O Salão Santa Bárbara, em Pirenópolis, se enfeitará de guarda-chuvas e a culpa é toda de Conceição, uma senhorinha de 75 anos, que sobrevive na monotonia sem cor dos dias. Neste sábado, 31, ela descobre que “Quando se Abrem os Guarda-Chuvas”, a lembrança vem e lança aquelas perguntas todas sobre o amor, a vontade de viver, a esperança e, mais, lança aquela vontade de viver outra vez. Para clarear um pouco o céu ou, melhor, as coisas, “Quando se Abrem os Guarda-Chuvas” é um espetáculo do grupo teatral Farândola, que tem circulado Goiás, por meio do Fundo de Cultura do Estado. Às 20 horas, as portas do Salão se abrem a quem quiser ver os guarda-chuvas –– e, ó, vale dar um pulinho em Piri, se você vive aqui, em Goiânia e mais ainda se você vive em Anápolis ou próximo. “Basta estarmos vivos para suportar os obstáculos da vida”, diz Fernanda Pimenta, atriz que interpreta a Dona Conceição. É de graça, só entrar. E, para constar, Pirenópolis é a quarta das seis cidades escolhidas para a circulação –– o grupo já viajou com o espetáculo até para Portugal. No próximo mês, a galera do Farândola segue para Alto Paraíso e, depois, em abril, para Uruaçu.
Serviço
Espetáculo: "Quando se Abrem os Guarda-Chuvas" (Farândola Teatro)
Local: Salão Santa Bárbara, em Pirenópolis
Horário: 20h
Entrada: Franca
O Salão Santa Bárbara, em Pirenópolis, se enfeitará de guarda-chuvas e a culpa é toda de Conceição, uma senhorinha de 75 anos, que sobrevive na monotonia sem cor dos dias. Neste sábado, 31, ela descobre que “Quando se Abrem os Guarda-Chuvas”, a lembrança vem e lança aquelas perguntas todas sobre o amor, a vontade de viver, a esperança e, mais, lança aquela vontade de viver outra vez. Para clarear um pouco o céu ou, melhor, as coisas, “Quando se Abrem os Guarda-Chuvas” é um espetáculo do grupo teatral Farândola, que tem circulado Goiás, por meio do Fundo de Cultura do Estado. Às 20 horas, as portas do Salão se abrem a quem quiser ver os guarda-chuvas –– e, ó, vale dar um pulinho em Piri, se você vive aqui, em Goiânia e mais ainda se você vive em Anápolis ou próximo. “Basta estarmos vivos para suportar os obstáculos da vida”, diz Fernanda Pimenta, atriz que interpreta a Dona Conceição. É de graça, só entrar. E, para constar, Pirenópolis é a quarta das seis cidades escolhidas para a circulação –– o grupo já viajou com o espetáculo até para Portugal. No próximo mês, a galera do Farândola segue para Alto Paraíso e, depois, em abril, para Uruaçu.
Serviço
Espetáculo: "Quando se Abrem os Guarda-Chuvas" (Farândola Teatro)
Local: Salão Santa Bárbara, em Pirenópolis
Horário: 20h
Entrada: Franca

[caption id="attachment_27105" align="alignleft" width="200"] Divulgação[/caption]
O trailer da nova franquia de “Quarteto Fantástico” foi divulgado nesta terça-feira, 27. A Fox resolveu acabar com a espera e já mostrou muito do que será o reboot cinematográfico. E, olha, o tom é bem mais dramático. No novo elenco, Michael B. Jordan interpreta O Tocha, Miles Teller vive o Senhor Fantástico, Kate Mara é a Mulher Invisível e Jamie Bell dá vida a Ben Grimm, o Coisa. O diretor de “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”, Simon Kinberg, assina o roteiro do filme, que deve estar em cartaz em agosto.
https://www.youtube.com/watch?v=WdkzdYfnwlk
Divulgação[/caption]
O trailer da nova franquia de “Quarteto Fantástico” foi divulgado nesta terça-feira, 27. A Fox resolveu acabar com a espera e já mostrou muito do que será o reboot cinematográfico. E, olha, o tom é bem mais dramático. No novo elenco, Michael B. Jordan interpreta O Tocha, Miles Teller vive o Senhor Fantástico, Kate Mara é a Mulher Invisível e Jamie Bell dá vida a Ben Grimm, o Coisa. O diretor de “X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”, Simon Kinberg, assina o roteiro do filme, que deve estar em cartaz em agosto.
https://www.youtube.com/watch?v=WdkzdYfnwlk




