Os Barulhos do Duro: Ficção e Memória no Sertão de Goiás
18 abril 2025 às 11h28

COMPARTILHAR
Em setembro de 1991, fui recebido pelo professor Bernardo Élis em sua casa, onde hoje funciona o Instituto que leva seu nome. Na ocasião, recebi das mãos do escritor goiano a coleção Alma de Goiás, com uma dedicatória significativa: “Ao jovem Abílio Wolney Neto, portador do nome do seu avô, o herói de São José do Duro, a oferta cordial de Bernardo Élis – Goiânia, 03-09-91”.
Mais de 30 anos depois, após assumir uma das cadeiras do Instituto Cultural de Estudos Brasileiros do Estado de Goiás (ICEBE), retomo essa memória para refletir sobre a obra O Tronco. Neste artigo, analiso sua natureza ficcional, sua recepção crítica e sua importância como denúncia das injustiças sociais no antigo sertão de Goiás — comparável, sob alguns aspectos, à abordagem literária de Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas.
A obra de Bernardo Élis, embora baseada em eventos reais, foi concebida como ficção. O próprio autor esclarece isso em diversos momentos, como no prefácio ao livro 5. Feira Sangrenta:
“Foi assim que escrevi O Tronco, romance com base naqueles fatos, mas que nenhum compromisso tem com a História propriamente dita. É ficção tão somente, como explico em nota introdutória ao livro.”
Élis optou por uma estrutura narrativa linear, inspirada na oralidade das narrativas populares, com linguagem marcada pelo coloquial goiano e influências nordestinas. O livro, que já chegou à sexta edição, gerou debates intensos desde seu lançamento e contribuiu para que o Brasil voltasse os olhos para os acontecimentos em São José do Duro (atual Dianópolis).
Segundo o autor, os chamados “barulhos do Duro” refletem uma cultura de resistência típica de regiões nordestinas, onde episódios semelhantes ao cangaço, como a balaiada e a cabanada, foram registrados. Em Goiás, porém, tais ações armadas foram exceções, contrastando com o histórico de pacifismo da população goiana.
Na realidade dos fatos históricos, conforme relatado nos autos da intervenção federal em Goiás, a vila foi tomada por uma força paralimitar ligada ao governo estadual. Aproximadamente 140 jagunços foram incorporados à força pública, liderados pelo juiz Celso Calmon. A ação resultou na invasão da casa do ex-deputado Abílio Wolney, roubo de seu gado e prisão de seus familiares, usados como reféns para forçá-lo a se entregar.
Abílio Wolney — avô do autor deste artigo —, ex-presidente do Congresso Estadual em Goiás e indicado à presidência do Estado, escapou da morte ao se esconder numa estiva de farinha em 1919. Ele também foi responsável por impedir a execução de 72 mulheres e crianças detidas durante o conflito, após a chacina de nove homens em um tronco de madeira.
Essa repressão é analisada em detalhes nos livros da série O Barulho, atualmente disponíveis na Amazon. A confusão entre ficção e realidade na leitura de O Tronco levou à naturalização de erros históricos e à distorção da compreensão crítica sobre a repressão no norte goiano.
A nova edição de A Chacina Oficial (2013), originalmente intitulada A Chacina do Tronco, busca resgatar essa perspectiva histórica. Em paralelo, o historiador Voltaire Wolney Aires, da Academia Tocantinense de Letras, documenta esses eventos na obra História de Dianópolis – 1720-2020.
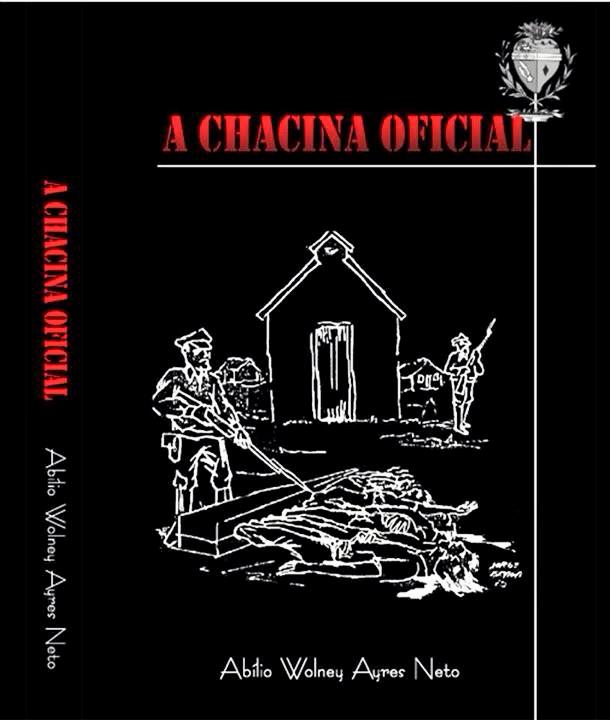
Bernardo Élis, que ocupou a Cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras, sempre deixou claro que não pretendia fazer historiografia. Ele mesmo questionava a fidelidade dos relatos individuais:
“Não sei até quando a emoção humana permite que um relato sobretudo individual ‘retrate fielmente o ocorrido’ (…) mas outra não é a meta que tão sedentamente perseguem todos os escritores.”
A reedição da obra e os eventos culturais em torno do tema representam um esforço coletivo de preservação da memória e de revisão crítica dos mecanismos


