Narcose Digital: a dependência tecnológica e a crise de sentido na era algorítmica
25 julho 2025 às 09h47
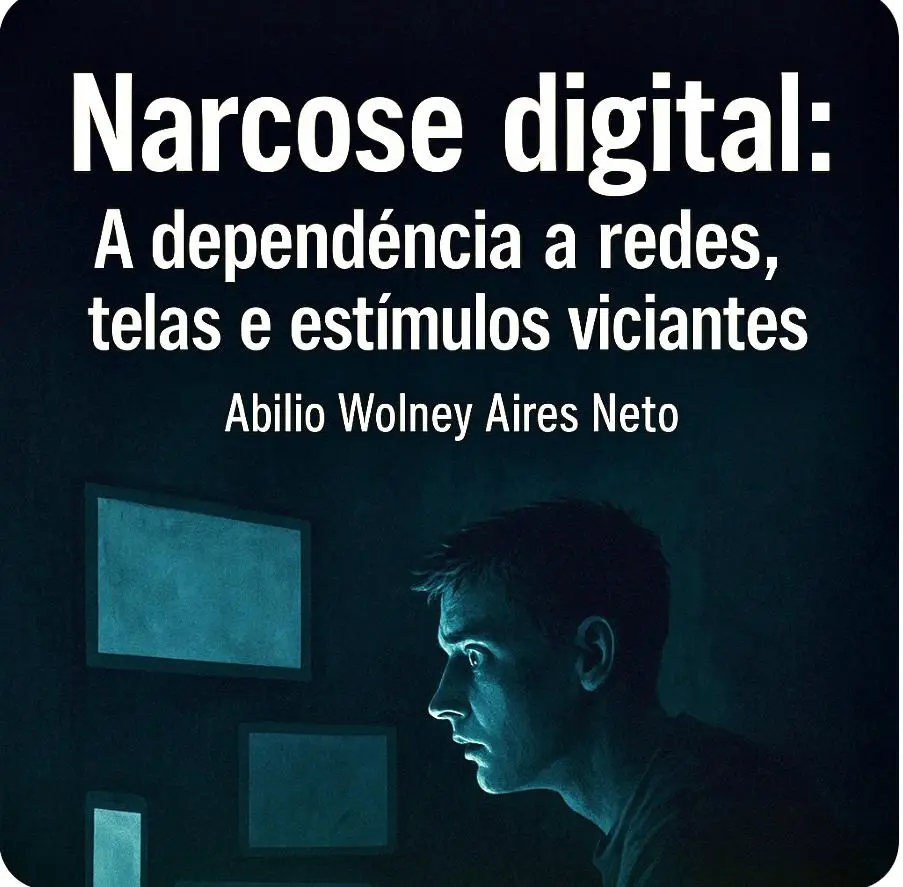
COMPARTILHAR
O filósofo e economista Eduardo Giannetti, em entrevista concedida à jornalista Mara Luquet no canal MyNews em 18 de julho de 2025, apresentou um diagnóstico contundente sobre os impactos psíquicos, sociais e existenciais da era digital. Segundo Giannetti, vivemos uma forma moderna de alienação que, embora disfarçada sob a promessa de conexão e liberdade, termina por gerar dependência, perda de sentido e crescente solidão humana¹.
O pensador afirma que a solidão humana tende a crescer em proporção direta ao desenvolvimento tecnológico. O paradoxo é evidente: nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão isolados. Redes que prometiam interações sociais se transformaram em simulacros de presença, diluindo a qualidade dos encontros reais. Giannetti denomina esse fenômeno de “cracolândia digital”, uma metáfora poderosa para descrever o uso compulsivo e crescente das tecnologias de tela, especialmente o consumo incessante de notificações, conteúdos e estímulos produzidos por redes sociais. A comparação com o vício em drogas pesadas não é retórica: trata-se de um alerta sobre o colapso de nossa capacidade de controle diante de sistemas cuidadosamente desenhados para capturar e manter a atenção.
O conceito de “narcose digital”, por sua vez, designa o estado de anestesia mental provocado pela superexposição a estímulos contínuos. Sob esse efeito, o discernimento crítico é suspenso, a introspecção se empobrece e a experiência da realidade é mediada por aparatos digitais que substituem o contato direto com o mundo. É nesse ponto que Giannetti se aproxima de reflexões clássicas que estudamos na faculdade de filosofia: Platão, em sua alegoria da caverna, já advertia sobre os perigos de uma percepção limitada a sombras projetadas na parede. De modo análogo, a narcose digital promove uma existência enclausurada em bolhas algorítmicas, onde os reflexos do real tomam o lugar da experiência autêntica.
O filósofo ressalta que “substituímos o estar presente pelo estar online”, uma transformação ontológica do tempo e da subjetividade que mina nossa capacidade de atenção, memória e presença plena. A técnica, como advertia Martin Heidegger, não é apenas uma ferramenta, mas uma forma de desvelamento do ser — e pode conduzir à dominação, caso não seja conscientemente manejada. O problema, segundo Giannetti, não está na tecnologia em si, mas no risco de tornarmo-nos seus servos. A liberdade prometida pela digitalização cede lugar a uma nova forma de servidão algorítmica: passamos a ser monitorados, perfilados e conduzidos por sistemas inteligentes que moldam desejos, escolhas e comportamentos.
Trata-se de uma alienação sutil, mas profundamente eficaz, pois não é imposta, mas aceita. O desafio contemporâneo não consiste, portanto, em rejeitar a tecnologia, mas em aprender a integrá-la com sabedoria, consciência e autocontrole. Giannetti defende a criação de zonas de silêncio, momentos de desconexão deliberada e resgate da lentidão como formas de resistência à lógica da aceleração contínua. A presença real — aquela que envolve escuta, atenção e sensibilidade — deve ser resgatada como valor fundamental diante da fragmentação digital.
A crítica proposta por Giannetti está longe do tecnofobismo. Ele reconhece os avanços trazidos pela digitalização, mas adverte para os riscos de sua apropriação desmedida e acrítica. A chave está no equilíbrio: usar a tecnologia como ferramenta de ampliação da consciência, e não como entorpecente existencial. Ao perguntar se estamos realmente vivendo mais ou apenas sobrevivendo em um tempo estendido por estímulos, mas empobrecido de sentido, o filósofo evoca uma questão essencial à filosofia clássica: o que é uma vida boa?
Autores como Epicuro, Aristóteles e Viktor Frankl oferecem chaves interpretativas valiosas. Epicuro falava da ataraxia, a tranquilidade da alma como bem maior. Aristóteles, por sua vez, concebia a eudaimonia como a realização plena da natureza humana. Já Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, afirmava que o homem é movido por um “desejo de sentido” — e que a perda desse sentido gera vazio existencial. A cultura digital, ao amplificar estímulos, pode empobrecer os conteúdos, minando a profundidade e o propósito da existência.
Eduardo Giannetti, ao propor uma crítica lúcida e sofisticada do presente, convida-nos a repensar nossas relações com os dispositivos, com o tempo e com os outros. A digitalização pode ser libertadora, mas apenas se for atravessada por vigilância ética, consciência crítica e humanidade. Do contrário, torna-se uma nova forma de narcose e solidão — ainda mais devastadora por sua sutileza.
Nesse contexto, cabe refletir sobre a natureza ambivalente das redes digitais. Elas funcionam simultaneamente como paliativo e sintoma do vazio contemporâneo — analgésicos digitais que mascaram a falta de sentido com uma overdose de distrações, mas também espelhos que revelam nossa incapacidade de lidar com a liberdade pós-moderna. Como observou Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço substituiu a transcendência por um excesso de opções superficiais, transformando o tédio existencial em commodity explorável.
Essa condição não emerge do nada. Se Nietzsche diagnosticou o niilismo como consequência da “morte de Deus”, hoje testemunhamos sua radicalização na era algorítmica: uma liberdade sem direção, onde as grandes narrativas foram substituídas por micro-estímulos viciantes. As plataformas digitais não criaram esse vazio, mas souberam otimizá-lo com precisão industrial, transformando nosso mal-estar existencial em engajamento mensurável.
A questão fundamental, portanto, não é tecnológica, mas essencialmente humana: que tipo de vida queremos cultivar nesse novo ambiente existencial? A resposta exigirá mais do que ajustes individuais — demandará uma reinvenção coletiva de nossos valores e prioridades. Pois no fim, como lembra Giannetti, a verdadeira medida do progresso não está na velocidade de nossos processadores, mas na profundidade de nossas experiências humanas compartilhadas.
Fontes:
GIANNETTI, Eduardo. Por que a humanidade está à beira do colapso digital?Canal MyNews, 2025.
NETO, Abílio Wolney Aires. Inteligência Artificial e o Tempo dos Algoritmos, 2025.
HAN, Byung-Chul. A Sociedade do Cansaço, Vozes, 2015.
FRANKL, Viktor. Em Busca de Sentido*. Vozes, 1985.
*Abilio Wolney é graduando em Filósofia, História e Jornalismo. Cadeiras na Academia Goiana de Letras-AGL, IHGG, UBE, Instituto Bernardo Elis-ICEBE, Academia Goianiense-AGnl, ALEA e ADL.


