Defeito de cor e significações do corpo negro
12 julho 2025 às 21h01
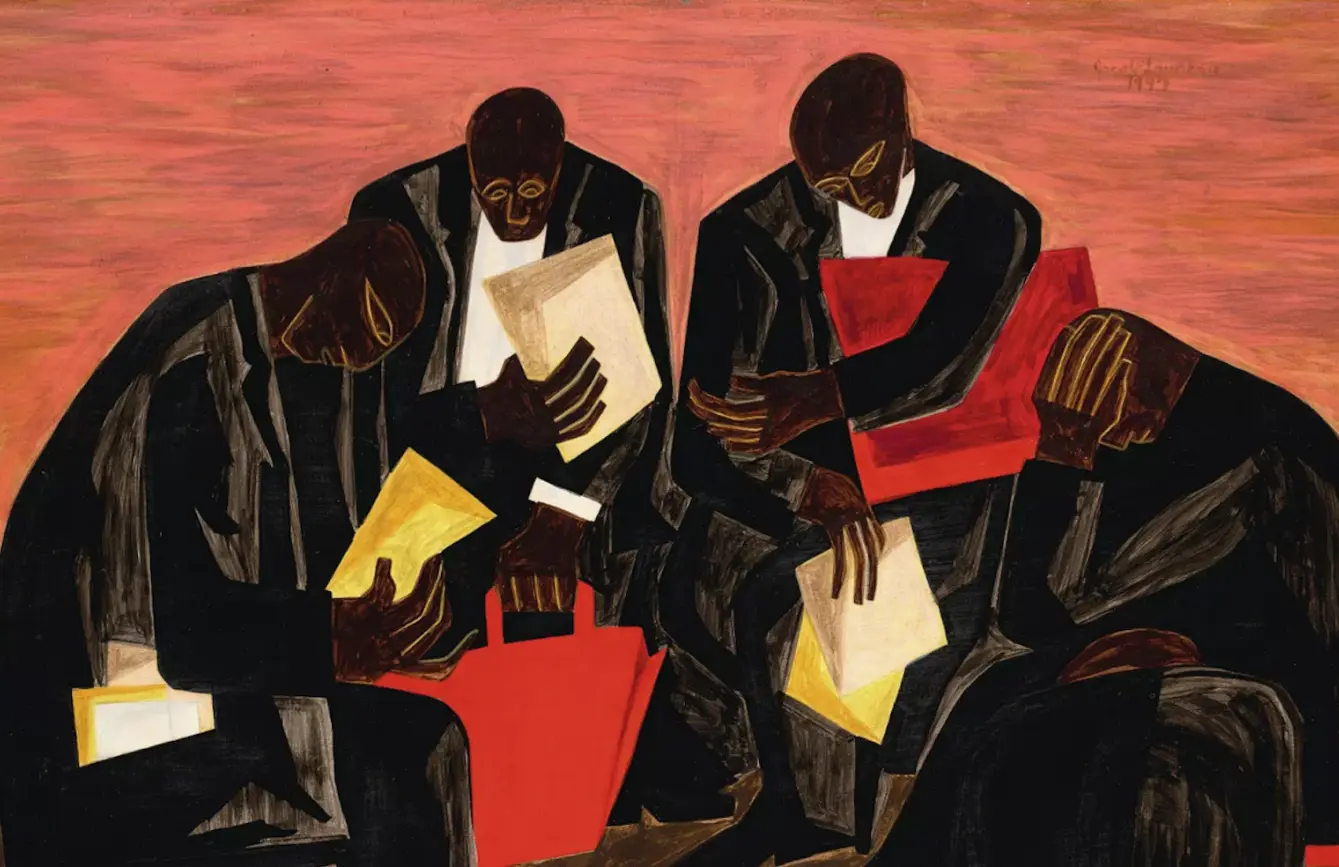
COMPARTILHAR
Marcos Antônio Ribeiro Moraes
Especial para o Jornal Opção
Um dia desses, estava eu num parque de Goiânia, quando de repente a polícia militar chegou, numa dessas rondas de rotina. No local havia muitas pessoas, umas sentadas outras em pé, conversando. Porém, de todos os que estavam ali presentes, apenas um homem foi abordado e revistado, era um homem negro. Tal situação, além de me causar indignação, me fez pensar em tantos outros cenários sociais, onde índios e sobretudo pessoas negras são tratadas assim, como suspeitas, por serem diferentes. Sim, não dá para negar que esta é uma cena cotidiana, em recepções de órgãos públicos, em filas de atendimento e entre outros espaços públicos. De antemão negros são culpados condenados, agredidos e colocados fora do jogo, apenas por existirem em condições tidas como defeituosas. Isto me fez pensar no que foi, mas ainda é denominado um “defeito de cor”.
Durante os séculos XVIII e XIX, o racismo científico e jurídico buscava formas de classificar e hierarquizar os seres humanos com base em características fenotípicas, principalmente a cor da pele. Em documentos oficiais, como registros de alforria, processos judiciais, editais de concursos públicos e petições para cargos públicos ou militares, ser “de cor” ou “ter defeito de cor” significava ser negro, pardo, ou mestiço, e isso era tratado como uma deficiência social, moral e até biológica. Em muitos casos, este critério foi utilizado formalmente para impedir o acesso de candidatos a determinados cargos públicos, funções religiosas ou militares. De tal forma muitos sujeitos eram barrados explicitamente por “defeito de cor”. Ou seja, por não serem brancos, o que os desqualificava legal ou moralmente segundo os critérios racistas da época. Expressões como “defeito de cor” ou “mácula de sangue, eram claramente relacionadas à origem africana ou indígena de uma pessoa. Eram argumentos recorrentes para impedir o acesso de pessoas negras e pardas a cargos de prestígio, mesmo quando libertas ou nascidas livres. Até mesmo nos processos de alforria, documentos podiam registrar que a pessoa tinha “defeito de cor” ou “sangue impuro”, como forma de limitar sua cidadania ou seus direitos civis. Este critério hoje não é registrado em documentos oficiais, mas segue inscrito em nosso imaginário coletivo, como uma forma de racismo estrutural, pautando a conduta cotidiana de muitos cidadãos de boa-fé, como por exemplo aquela dos policiais militares desta situação que eu testemunhei.
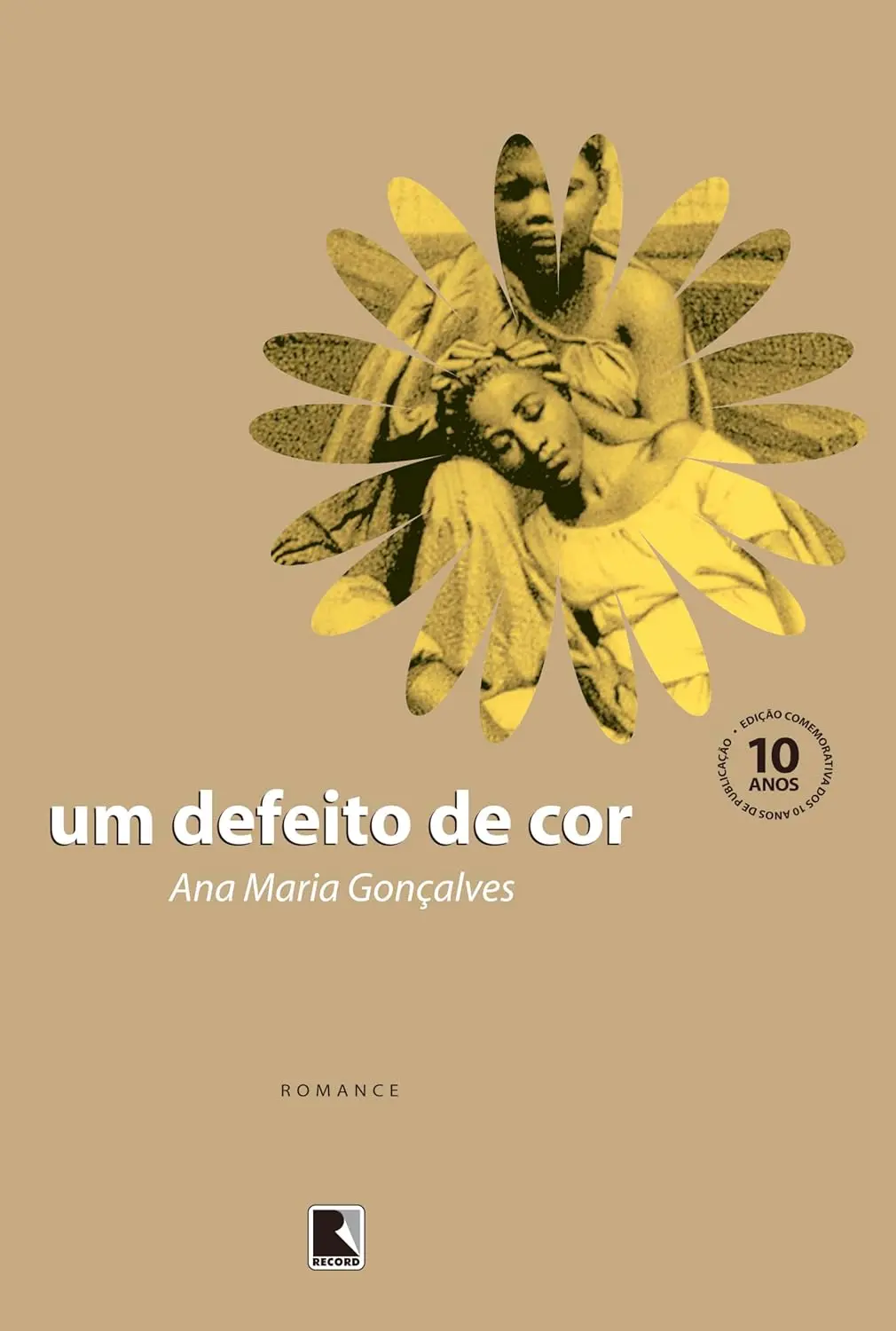
A escritora mineira Ana Maria Gonçalves se serve da expressão “defeito de cor” como título de seu livro “Um defeito de cor”. Best-seller, com várias premiações e na quadragésima edição. Nesta obra, a autora ironiza e denuncia o racismo estrutural que reduzia a cor da pele negra a uma falha, mostrando como essa marca social, imposta pelo colonizador europeu, é ressignificada pela protagonista Kehinde como uma força de identidade e resistência. Ana Maria transforma o que antes era um sinal de exclusão em matéria de memória, ancestralidade e protagonismo. Numa crítica profunda ao apagamento histórico e à ideologia do branqueamento que marca o Brasil durante, após a escravidão e inegavelmente até os dias atuais. Revela, em seu envolvente enredo, como a cor da pele negra foi historicamente percebida como uma marca negativa ou como uma “falha” no ideal eurocêntrico de humanidade. Sua narrativa condensa temáticas de grande relevância tais como, a experiência histórica da população negra no Brasil, o racismo estrutural, a busca por identidade, liberdade, pertencimento, superação da desumanidade e patologização de toda uma raça. Esta “página infeliz de nossa história”, como canta Chico Buarque, ainda hoje deixa marcas que sustentam este “pacto da branquitude”, como um modo de laço social que naturaliza ou nega a evidente existência do racismo em nossa sociedade. De tal modo, até hoje assistimos, de um lado as referidas atuações racista e do outro a marginalização e o adoecimento das vítimas deste racismo estrutural.
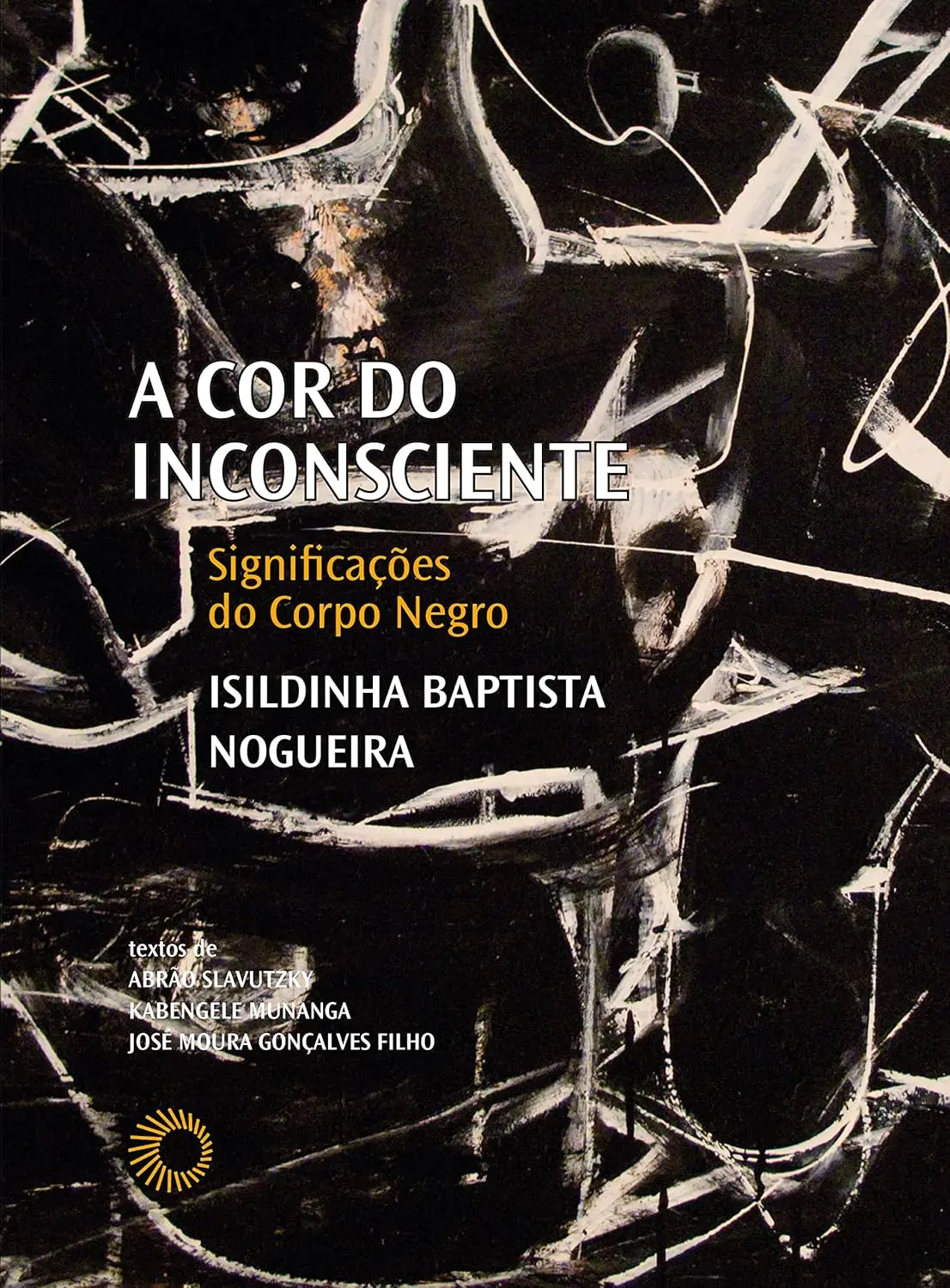
Isildinha Baptista Nogueira, psicanalista negra, em seu livro, “A Cor do Inconsciente: Significações do Corpo Negro”, investiga e demonstra como o racismo se inscreve no inconsciente e molda a subjetividade de pessoas negras. Determinando configurações psíquica com características e sofrimentos específicos para os negros. Influenciando a forma como o corpo negro é simbolizado, percebido e negado, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Utilizando o referencial teórico psicanalítico e sua grande experiência de escuta clínica, Isildinha explora as dimensões simbólicas e imaginárias do corpo negro, analisando como as significações racistas são introjetadas desde a infância e afetam a constituição psíquica do sujeito negro. Argumenta Ique o corpo negro é socialmente concebido como uma marca de exclusão, o que impede a plena inclusão do negro na sociedade, mesmo diante de conquistas políticas e sociais. Por sua vez, esta obra destaca que o sofrimento psicológico causado pelo racismo é uma das marcas mais dolorosas para os negros, levando à autodepreciação e a processos autodestrutivos, culturalmente introjetados. Condição esta que pode explicar o alto índice de pessoas negras privadas de liberdade nos presídios, bem como de suicídios de pessoas negras no Brasil, dentre estes, predominam adolescentes e jovens.
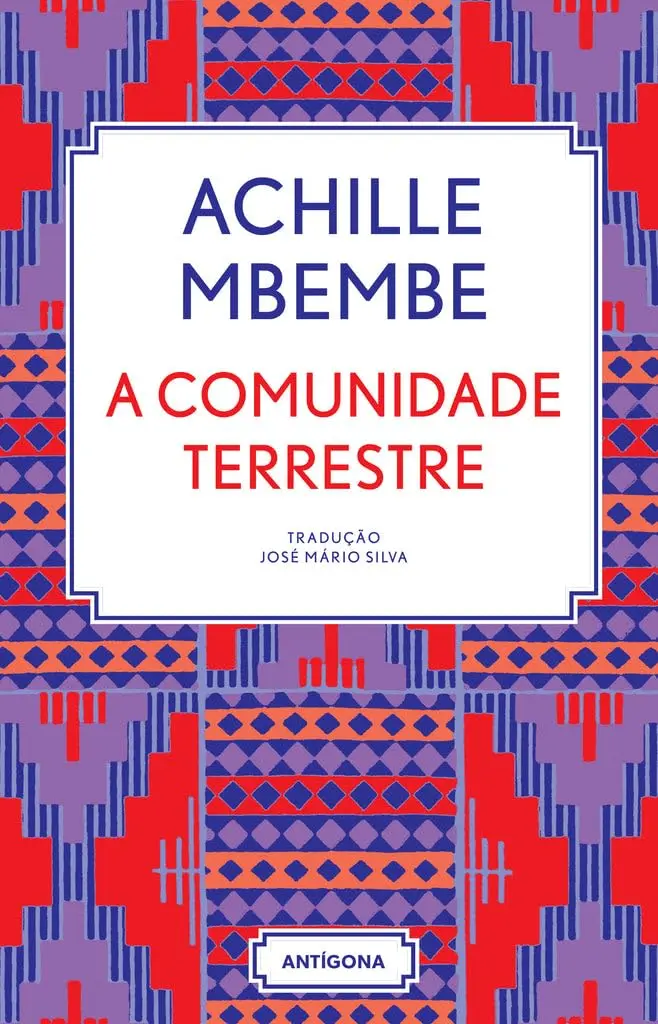
A partir do que nos apresenta estas duas autoras e tantas outras vozes que hoje nos interpelam, me parece ser possível pensar que a luta contra o racismo deve incluir não apenas ações políticas e sociais, mas também a elaboração das marcas psíquicas deixadas pelo racismo, que atravessam a estrutura dos sujeitos, tanto da vítima como do agressor. Estruturas que sustentam as diferentes cenas nais quais o negro segue numa condição permanente de vulnerabilidade. O negro sobretudo, mas também todos aqueles que portam diferenças e não se enquadram como semelhantes, na lógica que sustenta o pacto da branquitude, mas todavia convivem como próximos, na mesma comunidade.
Nesta esteira, Achille Mbembe, pensador africano, nos interpela em seu livro “A Comunidade Terrestre”: “Como permanecer fiel ao futuro enquanto promessa quando este não cessa de fugir e de se afastar? É preciso partir do florescimento da vida, dessas vidas consideradas minúsculas, as que são ameaçadas pelas forças da vulnerabilização”. Este autor nos leva a compreender que não é possível projetar um futuro dissociado da superação de atitudes discriminatórias e agressivas contra o diferente. E que inviabilizam o efetivo cuidado com a vida. Especialmente com as existências mais vulneráveis, humanas ou não. A noção de “comunidade terrestre” está diretamente ligada à responsabilidade ética compartilhada e à urgência de construir um futuro a partir da proteção do que é frágil, ameaçado e invisibilizado no presente.
Marcos Antônio Ribeiro Moraes, psicanalista, professor da PUC Goiás, membro da sociedade psicanalítica de Porto Alegre ( APPOA), é colaborador do Jornal Opção.


