Necropolítica: a soberania e o poder da morte
23 outubro 2025 às 11h32
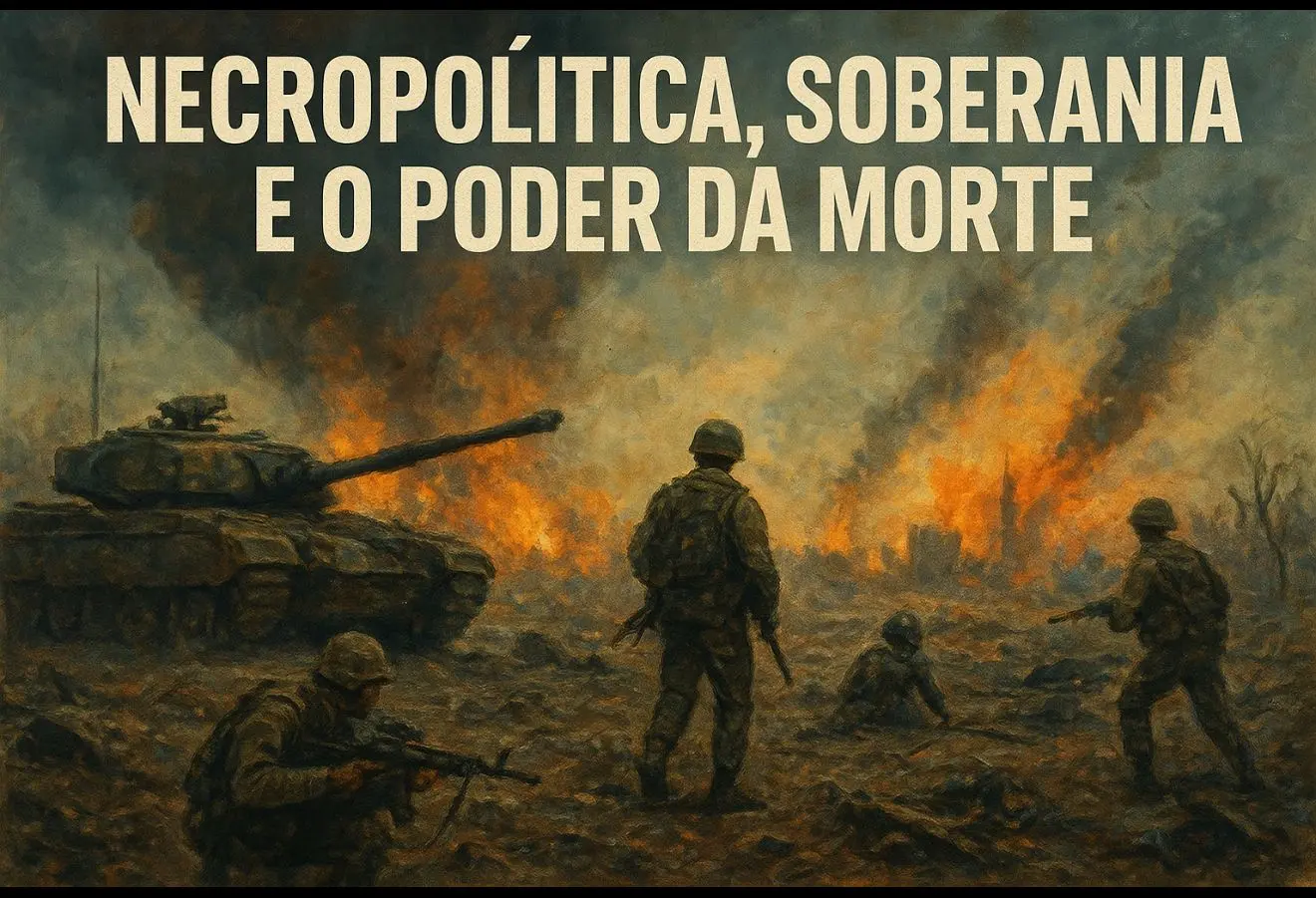
COMPARTILHAR
No início de mais um bimestre do Doutorado em Direito Constitucional em Brasília, ao debate acadêmico virá, dentre outros, o pensamento do clássico Achille Mbembe, em sua provocação inquietante sobre os limites da soberania e as formas contemporâneas do cíclico poder de matar no mundo. O resultado dessa investigação, que uniu reflexão filosófica, análise política e sensibilidade literária, é o texto que segue, fruto da minha inquietação rotineira em busca de mais respostas.
Há perguntas que não apenas abrem um texto, mas racham o próprio chão do pensamento. Assim começa o ensaio de Mbembe, com uma interrogação que, de tão simples, é quase insuportável: “sob quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte?” A clareza da pergunta contrasta com o abismo que ela convoca. A partir dela, o autor desloca o debate sobre soberania das abstrações confortáveis da teoria política para o terreno ardente da tanatopolítica — o domínio da morte como instrumento de poder.
Ele parte da noção foucaultiana de biopoder — esse campo em que o poder se apropria da vida, administrando-a, regulando-a, tornando-a útil —, mas percebe que algo mais sombrio atravessa as práticas políticas contemporâneas. Se Foucault falava de um poder que decide quem deve viver e quem pode morrer, Mbembe identifica algo mais radical: a instauração de um poder que não apenas regula a vida, mas a submete inteiramente à morte. Surge, assim, a categoria do necropoder e da necropolítica — o poder que governa pela aniquilação.
Do ponto de vista do direito constitucional, esse deslocamento é uma ferida aberta. As constituições modernas — especialmente depois da Segunda Guerra Mundial — foram edificadas sobre o pressuposto de que o Estado existe para proteger a vida e a dignidade humana. O constitucionalismo democrático se fundamenta na crença de que a soberania popular emana de sujeitos livres, capazes de autoconhecimento e representação. Mas Mbembe nos força a olhar para as zonas de sombra onde essa promessa se desfaz. Há espaços, ele nos lembra, em que o poder soberano se exerce precisamente pela suspensão do direito, transformando a exceção em regra e a morte em linguagem cotidiana. Nesses territórios — os campos, as colônias, as prisões, as favelas —, a distinção entre inimigo e cidadão, entre criminoso e corpo descartável, simplesmente não existe. A Constituição, ali, é apenas um texto ausente.
E, nessas fronteiras onde a vida se torna espera e a terra é poeira de escombros, há um povo que vive entre muros e ruínas, sem casa, sem terra, sem refúgio. São homens e mulheres que aprenderam a respirar sob bombardeios, a criar filhos sob o som metálico das sirenes. Vivem como colonos de um destino que não escolheram e como escravos de uma geografia que os nega. São eles os novos “habitantes da fronteira” — os que permanecem invisíveis para o direito, mas visíveis o bastante para o míssil. O Estado os chama de ameaça; a história os chama de sobreviventes. Neles, a necropolítica encontra sua imagem mais nua: a vida reduzida a resistência, o corpo transformado em fronteira.
É nesse ponto que ele convoca Hegel. O filósofo alemão via na morte o momento decisivo do “tornar-se sujeito”. Para Hegel, o ser humano se eleva à condição de sujeito quando encara a morte e a atravessa, afirmando sua liberdade na luta que põe em risco a própria vida. O espírito só alcança sua verdade quando descobre em si o desmembramento absoluto — quando reconhece que viver é sustentar o trabalho da morte. Essa dialética trágica define também o gesto político: o sujeito que se arrisca torna-se o portador da história. Daí a equivalência que Hegel estabelece entre o ato político e a experiência do sacrifício — política como “a morte que vive uma vida humana”.
Essa tem ressonâncias evidentes na ideia moderna de soberania: o Estado que exige de seus cidadãos o sacrifício da vida em defesa da comunidade, que invoca o dever patriótico de morrer pela pátria. Nessa lógica, o poder soberano é aquele que detém o monopólio legítimo do sacrifício. Ele decide quando e por que morrer é necessário.
Mas Bataille irrompe nesse campo com um gesto de dissolução. Se Hegel ainda via na morte um momento de sentido, uma etapa da consciência rumo à liberdade, George Bataille a encara como pura despesa, como excesso e vertigem. A soberania, para ele, não é domínio, mas transgressão. É o instante em que a vida explode os limites que a contêm e se confronta com sua própria aniquilação. A morte, em Bataille, não redime — ela consome.
Ao associar soberania e violência, ele revela o caráter orgiástico e destrutivo do poder. A soberania é a recusa em viver sob a lei da conservação — é o gesto do excesso, do desperdício, da violação. Nesse sentido, a política, longe de ser a racionalidade do contrato, é uma coreografia de transgressões.
Essa visão lança um desafio profundo ao constitucionalismo liberal, cuja missão histórica é conter o poder dentro de formas normativas. Como enquadrar a soberania — que por natureza é transgressiva — nas linhas de um texto jurídico? Como domesticar o excesso dentro das margens da norma? Talvez não se possa. Talvez o constitucionalismo, ao tentar limitar o soberano, apenas disfarce a pulsação de um poder que, em última instância, excede todas as suas formas.
É nesse ponto que o pensamento de Mbembe adquire sua força mais perturbadora. A necropolítica é o nome contemporâneo dessa soberania sem limite: um poder que não apenas administra a vida, mas fabrica a morte como política pública. Em um mundo em que fronteiras se tornam campos de concentração, em que drones decidem à distância quem deve morrer, em que povos inteiros são tornados descartáveis, a questão fundamental não é mais quem governa, mas quem pode ser morto com impunidade.
O constitucionalismo moderno, nascido da promessa de proteger a vida, vê-se confrontado com sua antítese: um Estado que normaliza a morte e faz da exceção o seu modo de ser. A pergunta de Mbembe, então, retorna como uma ferida que não cicatriza: sob quais condições o poder decide matar? E, mais ainda — o que resta do direito quando o poder de matar se torna rotina?
Nesse horizonte de cinzas, ecoa o sarcasmo e o desespero filosófico de Nietzsche, que escreveu em O Anticristo: “O único cristão que existiu morreu na cruz.” A frase, longe de mera provocação, revela a distância abissal entre o ideal e a realidade — entre o Cristo que encarnou a entrega total e o mundo que, em nome dele, institucionalizou o poder, a guerra e o sacrifício. A cruz, aqui, é a metáfora última da soberania que se faz morte, e também o testemunho de que toda redenção, quando convertida em ordem, torna-se poder.
A morte e a política voltam, então, a se encontrar. Talvez a humanidade ainda precise reaprender o sentido do sacrifício — não como imposição do Estado, mas como compaixão; não como necropolítica, mas como solidariedade diante da dor alheia. O poder que mata não é o fim inevitável da história, mas o espelho diante do qual toda civilização deve se perguntar o que resta de humano em sua própria lei.
E, diante desse espelho que perspectiva a guerra e a escravidão dos excluídos do mundo — os pequeninos do pastor galileu — só resta o lamento, que atravessa séculos e repúblicas, impérios e revoluções, como um grito ainda vivo sobre o campo devastado das consciências:
Ai de ti, toda e qualquer Jerusalém!
⸻
Referências
• MBEMBE, Achille. Necropolítica. Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 Edições, 2018.
• HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses. Petrópolis: Vozes, 1992.
• BATAILLE, Georges. A Parte Maldita. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.


