O itinerário da poética de Manuel Bandeira
12 setembro 2025 às 14h00
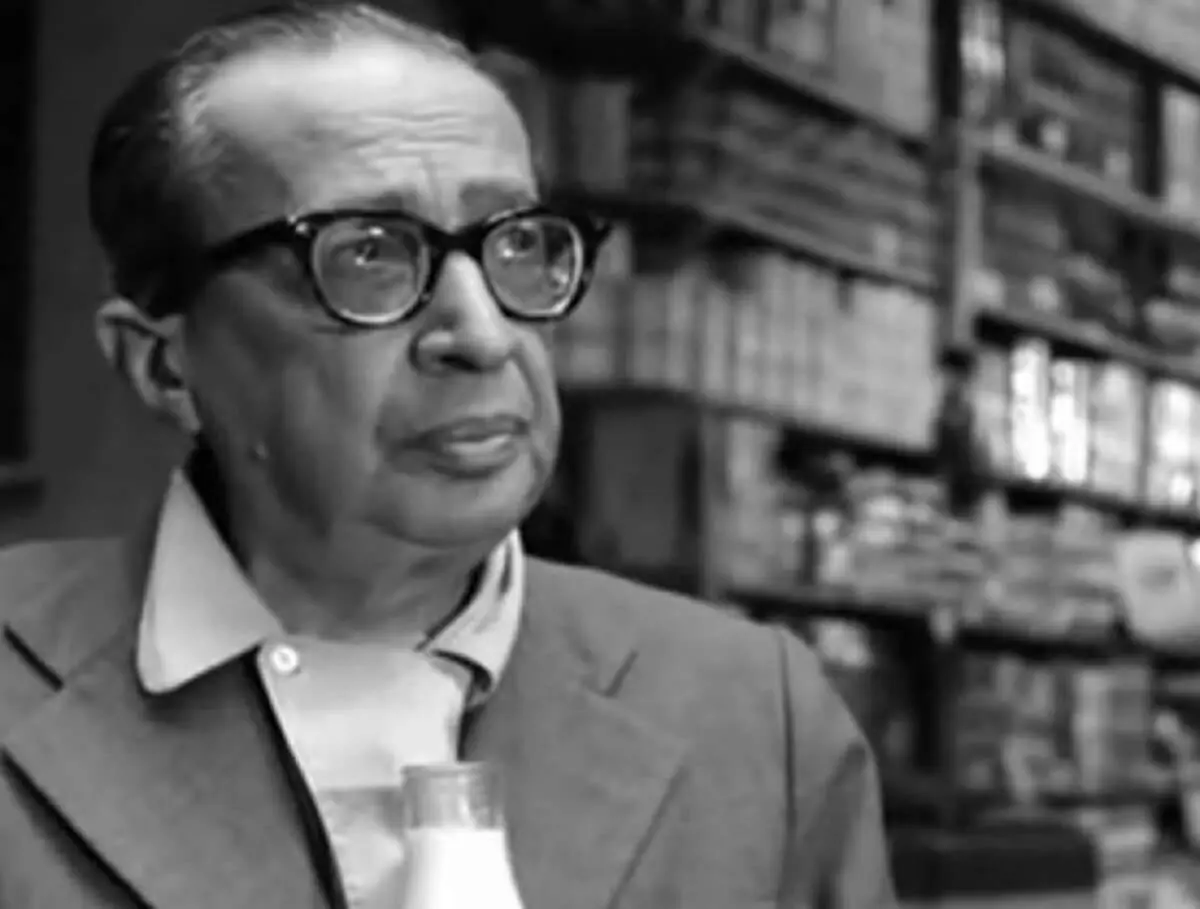
COMPARTILHAR
Maria de Fátima Gonçalves Lima
No dia 19 de abril de 1886, na Rua da Ventura, atual Joaquim Nabuco, nasce Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Seus pais, Manuel Carneiro de Souza Bandeira e Francelina de Souza Bandeira.
Em 1890, a família se transfere de Recife para o Rio de Janeiro e, a seguir, para Santos, São Paulo e, novamente, Rio de Janeiro. Depois de passar dois verões em Petrópolis, a família volta para Pernambuco. Manuel Bandeira frequenta o colégio das irmãs Barros Barreto, na Rua da Soledade e, como semi-interno, o de Virgílio Marques Carneiro Leão, na Rua da Matriz.
Em 1896, a família, mais uma vez muda-se de Recife para o Rio de Janeiro, onde reside na Travessa Piauí, na Rua Senador Furtado e depois em Laranjeiras. Manuel Bandeira cursa o Externato Ginásio Nacional (atual Colégio Pedro II).
A família muda-se para São Paulo em 1903, onde Manuel Bandeira matricula-se na Escola Politécnica, pretendendo tornar-se arquiteto. Estuda também, à noite, desenho e pintura com o arquiteto Domenico Rossi no Liceu de Artes e Ofícios. Começa ainda a trabalhar nos escritórios da Estrada de Ferro Sorocabana.
1. 1 Lastro subjetivo, autobiográfico: a tuberculose
No final de 1904, Manuel Bandeira fica sabendo que está tuberculoso. Abandona suas atividades e volta para o Rio de Janeiro. Em busca de melhores climas para sua saúde, passa temporadas em diversas cidades: Campanha, Teresópolis, Maranguape, Uruquê, Quixeramobim. Mas a doença não cedia e o pai decide, em 1913, enviá-lo para a Suíça, a Meca dos tuberculosos daquele tempo. Bandeira escolhe Clavadel, possivelmente inspirado por versos do poeta Antônio Nobre que ali estivera também pela mesma razão, e criador de um poema outonal denominado “Ao cair das folhas”, soneto predileto de Bandeira. É em Clavadel que ambos têm a trágica revelação da gravidade da doença. É o próprio Bandeira quem conta:
Quando caí doente em 1904, fiquei certo de morrer dentro de pouco tempo: a tuberculose era, ainda, “a moléstia que não perdoa”. Mas fui vivendo morre- não- morre, e em 1914 o Dr. Bodmer, médico-chefe do sanatório Clavadel, tendo-lhe eu perguntado quantos anos me restariam de vida me respondeu assim:
O Senhor tem lesões teoricamente incompatíveis com a vida; no entanto está sem bacilos, come bem, dorme bem, não apresenta, em suma nenhum sintoma alarmante. Pode viver cinco, dez, quinze anos… Quem poderá dizer?…
A tal declaração seca e precisa, Bandeira designaria como revelação brutal da doença. O poema “Pneumotórax” evidencia a presença do dado autobiográfico na obra de Manuel Bandeira.
Febre, hemoptise e suores noturnos.
A vida inteira que poderia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:
– Diga trinta e três.
– Trinta e três… trinta e três… trinta e três…
– Respire.
……………………………
– O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
– Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
– Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
Este poema tem como tema a doença – a tuberculose – que aumentava a expectativa da morte, acentuada pela perda de seus entes queridos: a mãe (1916), a irmã (1918), o pai (1920), o irmão (1922), e que marca toda a sua poesia. O poeta utiliza, em “Pneumotórax”, procedimentos técnicos inovadores na montagem desse poema, como a aplicação do diálogo, a linha inteira com reticências sugerindo a respiração, a associação de imagens, cenas, antilirismo e autoironia. Os versos em prosa (tendência modernista) intercalam causa e consequência: “Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos” – os sintomas da tuberculose “a doença que não perdoa” – e em seguida, o preço pago por ela: “A vida inteira que poderia ter sido e não foi”. Este verso revela pelo menos dois significados. O primeiro válido para o ocaso particular do poeta que é a questão da saúde que o impediu de viver sem receios. O segundo, que valeria para qualquer pessoa saudável que deixa a vida passar sem aproveitar o tempo e fazer algo útil.
O poema tem a marca do trágico, realçado pelo sarcasmo do eu lírico que apresenta como única esperança “tocar um tango Argentino”, querendo com esta frase afirmar que a medicina já não poderia fazer mais nada para ajudá-lo. Esse episódio é um exemplo de matéria antipoética na poesia moderna. “Tocar um tango Argentino” trata-se de uma retirada irônica diante do que poderia ser patético e sentimental perante o inevitável. Sim, tão inevitável que o poeta se vê na contingência de uma “Preparação para a morte”.
A vida é um milagre.
Cada flor,
Com sua forma, sua cor, seu aroma,
Cada flor é um milagre.
Cada pássaro,
Com sua plumagem, seu vôo, seu canto,
Cada pássaro é um milagre.
O espaço, infinito,
O espaço é um milagre.
O tempo, infinito,
O tempo é um milagre.
A consciência é um milagre.
Tudo é milagre.
Tudo, menos a morte.
– Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres
(Idem p. 147)
Bandeira, durante a vida inteira, esperou a morte chegar, todas as manhãs, tardes e noites, conforme afirma no Itinerário de Pasárgada:
Continuei esperando a morte para qualquer momento, vivendo sempre provisoriamente. Nos primeiros anos da doença me amargurava muito a ideia de morrer sem ter feito nada; depois forçada ociosidade.
Sua vida era mais frágil que uma flor, que um pássaro, mas o poeta como um milagre, continuava vivo e registrava este milagre em versos ardentes de vivência e espera para o fim de todos os milagres.
O poema “Consoada” (Idem p. 136), que analisaremos depois, é um outro exemplo dessa preparação e espera pela morte. Quando a “Iniludível” não aparece na obra de Bandeira, o poeta assume o mau destino e transforma-o em matéria de poesia como encontramos no poema “Epígrafe”, na obra A Cinza das Horas (1917).
Sou bem-nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.
Foi o tempo que forçou Manuel Bandeira a conformar-se, mas sua decepção será lembrada mais tarde naquele poema “Testamento”:
Criou-me, desde eu menino,
Para arquiteto meu pai.
Foi-se-me um dia a saúde…
Fiz-me arquiteto? Não pude!
Sou poeta menor, perdoai!
O poema “Testamento” (Idem p. 112) demonstra o lado intimista da poesia bandeiriana. No último verso, Bandeira classifica-se como “poeta menor”, o que significa que sua poesia trabalha com temas intimistas. Quando o poeta é qualificado como “poeta maior” (no caso, Carlos Drummond de Andrade) significa que este poeta trata de temas metafísicos ou políticos. Bandeira classifica-se ironicamente como “poeta menor” talvez porque sua obra, em certos momentos, busca situações muito pessoais, no caso, a tuberculose. Sobre esse tema o poeta afirmou:
Tomei consciência de que era um poeta menor; que me estaria para sempre fechado o mundo das grandes abstrações generosas; que não havia em mim aquela espécie de cadinho onde, pelo calor do sentimento, as emoções morais se transmutaram em emoções estéticas: metal preciosos eu teria que sacá-lo a duras penas, ou melhor, aduras esperas, do pobre minério das minhas pequenas dores e ainda menores alegrias.
O fato é que a tuberculose mudou o destino de Manuel Bandeira. Quando tudo lhe parecia fugir, restava-lhe a poesia, pois não sabia fazer outra coisa como ele próprio chegou a declarar.
Em junho de 1913 embarcou para Europa a fim de realizar o tratamento da tuberculose num sanatório Suíço. Duas pessoas foram seus companheiros marcantes, nesse espaço de cura. Um chamava-se Paul Eugène Grindel, um jovem poeta, de “de olhos azuis, grande cabeleira loura, gravata preta lavalliére. […] não tinha certeza de sua vocação poética e por isso pensava fazer-se editor” (Op cit p. 53). A outra foi era uma russa Mlle Diakonova, namorada do poeta de olhos azuis. O jovem era “Paul Éluard… Casou-se com Mlle Diakonova, a Gala que hoje é mulher de Salvador Dalí. Éluard tornou-se um grande dos poeta da França e do mundo”.
Foi em Cladavel que pela primeira vez Bandeira pensou em publicar um livro de versos. A guerra de 1914 obriga o poeta a voltar para o Brasil. As últimas recomendações do médico do sanatório é que deveria viver como um valetudinário” (este era o jargão dos sanatórios). O Sol lhe faria mal, sobretudo o terrível sol dos trópicos. Dançar, nem em sonhos. Bandeira seguia as prescrições religiosamente. Só saía de casa à tarde, à hora do sol-posto, para visitas, exposições, concertos e uma passada eventual no Bar Nacional, onde se restringia de bebida alcoólica.
No Rio de Janeiro, após paciente readaptação ao meio trepidante da cidade, publica em 1917 seu primeiro livro de versos, A Cinza das horas, edição de 200 exemplares por ele custeada. De acordo com o poeta:
A Cinza das horas não continha tudo que que eu havia escrito até 1917 […]. Fizera eu uma escolha, preferindo os poemas que me pareciam ligados pela mesma tonalidade de sentimento, pelas mesmas intenções de fatura. O sentimento ia resumido, programado por assim dizer, nos versos, já transcritos, de Maeterlinck. A fatura já não era de modelo parnasiano e sim simbolista, mas de um simbolismo não muito afastado do velho lirismo português. Os sonetos a Camões e a Antônio Nobre são claros indícios disto. Nada tenho para dizer desses versos, senão que ainda me parecem hoje, como me pareciam então, não transcender a minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico. No entanto, publiquei o livro, ainda que sem intenção de começar carreira literária: desejava apenas dar-me a ilusão de não viver inteiramente ocioso.
Neste livro, a tuberculose já está presente, dado o primeiro poema de 1912, no qual declara: “Eu faço versos como quem morre”. Vejamos:
Eu faço versos como quem chora
De desalento… de desencanto…
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue. Volúpia ardente…
Tristeza esperança… remorso vão…
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.
E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
– Eu faço versos como quem morre.
Teresópolis, 1912
(Idem p. 15)
Em “Desencanto”, o sentimento dominante, como o próprio título indica, tem a marca do desencanto, do desalento, da melancolia e da tristeza. Os versos de Bandeira, como afirmou Drummond, são gerados por nostalgias abissais, profundas, marcantes. Eles comovem porque são feitos de sangue, de dor, de sofrimento, caem “gota a gota, do coração”. São amargos, como o próprio poeta afirma, mas também são quentes porque tocantes, de “angústia rouca”: clamam e são ouvidos na dor e na emoção por qualquer pessoa sensível. Esse poema traduz uma tristeza que lembra o Romantismo e uma musicalidade influenciada pelo Simbolismo.
É importante observar que ainda na Suíça, Bandeira já entrara em convalescença, as palavras pessimistas do diretor do Sanatório não se confirmavam na prática. A tuberculose regredia e, pela primeira vez, o doente sentia a alegria da cura. Não importava que as radiografias mostrassem o pulmão esquerdo velado. Esses versos não mentem e, no caso de Bandeira, a poesia triunfava sobre o Raio X.
Nunca poeta algum exprimiu tão bem o que significava para um tuberculoso desenganado, em volta de uma vida que está sempre à espera de uma morte iminente. Bandeira escreveu:
Continuei esperando a morte para qualquer momento, vivendo sempre como que provisoriamente. Nos primeiros anos da doença me amargurava muito a idéia de morrer sem ter feito nada; depois a forçada ociosidade. Já disse como publiquei A Cinza das Horas para de certo modo iludir o meu sentimento de vazia inutilidade. Este só começou a se dissipar quando fui tomando consciência da ação dos meus versos sobre amigos e, principalmente, sobre desconhecidos. Uma tarde, voltei para casa seriamente impressionado de ter ouvido, na Livraria José Olympio, Rachel de Queiroz me dizer:
“Você não sabe o que a sua poesia representa para nós.”
Foi a força de testemunhos como esse, às vezes de gente quase de todo alheia à literatura, que principiei a aceitar sem amargura o meu destino. Hoje na verdade me sinto em paz com ele e pronto para o que der e vier.
Otto Maria Carpeaux, escrevendo uma vez a meu respeito, disse, com certeira intuição, que no livro ideal em que ele estruturaria a ordem da minha poesia, esta partia “da vida inteira que poderia ter sido e que não foi” para outra vida que viera ficando “cada vez mais cheia de tudo”. De fato, esse é o sentido profundo da “Canção do vento e da minha vida”.
De fato, cheguei ao apaziguamento das minhas insatisfações e das minhas revoltas pela descoberta de ter dado à angústia de muitos uma palavra fraterna. Agora a morte pode vir – essa morte que espero desde os dezoito anos: tenho a impressão que ela encontrará, como em “Consoada” está dito, “a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar”.
Bandeira continua a construção de versos em que o “Amor soluçante,/ se retesa e contempla a vida/”, como afirma Carlos Drummond de Andrade, no poema “Declaração a Manuel”, publicado em “Viola de Bolso”
Embora não estando nos Melhores Poemas de Manuel Bandeira,dessaseleçãoorganizada por Francisco de Assis Barbosa, o poema “Plenitude” do livro A Cinza das Horas,deve ser observado por traduzir o desejo de viver e a vontade da cura:
Vai alto o dia. O sol a pino ofusca e vibra.
O ar é como de forja. A força nova e pura
Da vida embriaga e exalta. E eu sinto, fibra a fibra,
Avassalar-me o ser a vontade da cura.
A energia vital que no ventre profundo
Da Terra estuante ofega e penetra as raízes,
Sobe no caule, faz todo galho fecundo
E estala na amplidão das ramadas felizes,
Clavadel, 1914
Este poema traduz literalmente a energia vital, a força interior, o desejo de plenitude, de realizações e de continuação dessa ardente vida-poesia. Composto por sete quadras, ele permite, considerando a numerologia do número 7, que a vida e arte possam se equivaler. Sete, um número cabalístico, é o “símbolo universal de uma totalidade, mas de uma totalidade em movimento”. (CHEVALIER & GHEERBRANT. 1990. p. 826). Simboliza também a conclusão, a plenitude dos tempos, os sete graus da perfeição e de muitas vidas. Representa o símbolo do homem perfeitamente realizado. Essa busca de realização, plenitude e vida longa é uma tradução da poesia de Bandeira.
A energia vital e a recordação de tantos anos de sofrimento não abandonariam o poeta. E a sentença fatal do médico suíço nunca se apagaria de sua mente. A morte está presente em toda poesia de Bandeira, embora ele se recuse bravamente a morrer. Essa atitude do poeta é a única na história da literatura:
O que não tenho e desejo
É que melhor me enriquece
Tive uns dinheiros – perdi-os…
Tive amores – esqueci-os.
Mas no maior desespero
Rezei: ganhei essa prece
(Idem p. 112)
Um fato insólito ocorreu: à medida que os anos passavam, o poeta ia sentindo cada vez mais confiança em sua sobrevivência e mudou sua atitude diante da morte. Passou simplesmente a esnobá-la, encarando-a, não mais como um predestinado a cedo entregar-se em seus braços. Se considerava agora um simples mortal, nascido em ventre de mulher, sem aquela marca de maldição que lhe fora posta no sanatório. Estava descompromissado do prognóstico fatal. E passou a tratar as Parcas, com ironia, a sua inconfundível ironia… O poema “Consoada” é um bom exemplo:
Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou coroável).
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
– Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios).
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa.
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar.
Observe que o substantivo morte e o verbo morrer não aparecem em nenhum momento no texto. O poeta parece aceitar a situação de esperar pela iniludível, como se esperasse uma visita com quem pudesse conversar, jantar e dizer que a sua vida foi boa, e que valeu a pena e que está pronto para o fim. O título “Consoada” remete à ideia de que o poeta recebe a Indesejada das gentes como se recebesse alguém, também “Indesejado”, com “I” maiúsculo (quer dizer próprio, singular, não aceito como algo comum). Esse alguém, com certeza, virá para o jantar e o poeta deverá recebê-lo com educação e compartilhar com a visita Indesejada uma refeição amistosa, sem nada de trágico ou doloroso. Pode ser verificado, nesse poema, uma visão serena sobre a morte.
No dia 13 de outubro de 1968, a Iniludível chegou numa tarde de domingo. Manuel Bandeira foi levado pela visita Indesejável, vítima de hemorragia gástrica. Nesse dia, o poeta José Paulo Paes escreveu o seguinte poema-epitáfio:
13 de outubro, morte de Manuel Bandeira
Epitáfio
poeta menormenormenormenormenormenor
menormenormenormenormenor enorme
1. 2 Recife, figuras da infância
Bandeira afirma que foi no Recife, aos seis anos, que entrou em contato com a poesia, através dos contos de fadas, das Histórias da Carochinha e das cantigas de roda:
O meu primeiro contato com a poesia sob a forma de versos terá sido provavelmente em contos de fadas, em histórias da carochinha. No Recife, depois dos seis anos. Pelo menos me lembro nitidamente do sobrosso que me causava a cantiga da menina enterrada viva no conto “A madrasta”:
Capineiro de meu pai,
Não me cortes meus cabelos.
Minha mãe me penteou,
Minha madrasta me enterrou
Pelo figo da figueira
Que o passarinho bicou.
Xô, passarinho!
Era assim que me recitavam os versos. E esse “Xô, passarinho!” me cortava o coração, me dava vontade de chorar. Aos versos dos contos da carochinha devo juntar os das cantigas de roda, algumas das quais sempre me encantaram, como “Roseira, dá-me uma rosa”, “O anel que tu me deste”, “Bão, balalão, senhor capitão”. Mas para que tanto sofrimento. Falo destas porque as utilizei em poemas. E, também, as trovas populares, coplas de zarzuelas, couplets de operetas francesas, enfim, versos de toda a sorte que me ensinava meu pai. Lembro-me de uns cujo autor até hoje ignoro. Ouviu-os meu pai de um sujeito que um dia, no alpendre de uma casinha do interior de Pernambuco, lhe veio pedir esmola. Meu pai, que gostava de brincar, disse-lhe: “Pois não! Mas você antes tem de me dizer uns versos.” Ora, o nosso homem não se fez de rogado e saiu-se com esta décima lapidar, cujo primeiro verso, estropiado, mostra que a estrofe não era de sua autoria:
Tive uma choça, se ardeu-se.
Tinha um só dente, caiu.
Tive uma arara, morreu.
Um papagaio, fugiu.
Dois tostões tinha de meu:
Tentou-me o diabo, joguei-os.
E fiquei sem ter mais meios
De sustentar os meus brios.
Tinha uns chinelos… Vendi-os.
Tinha uns amores… Deixei-os.
Assim, na companhia paterna, ia-me eu embebendo dessa ideia que a poesia está em tudo – tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas.
Em “Evocação do Recife”, o poeta expõe essa influência da cantiga de roda: “à distância, as vozes macias das meninas politonavam / Roseira dá-me uma rosa/ Craveiro dá-me um botão”
O pai e o tio João Carneiro desenvolveram o gosto e a sensibilidade poética no garoto. O próprio Bandeira confessa que foi com o pai que se embebeu “dessa ideia de que a poesia está em tudo – tanto nos amores como nos chinelos, tanto nas coisas lógicas como nas disparatadas” (Op. cit. p.34). O menino aprendeu a lição e conseguiu, num processo de pura sensibilidade, expor suas “nostalgias abissais”, como declara Carlos Drummond de Andrade no seguinte poema:
Teu verso límpido, liberto
de todo sentimento falso;
teu verso em que Amor, soluçante,
se retesa e contempla a morte
com a mesma lucidez
de quem soube enfrentar a vida;
teu verso em que deslizam sombras
que de fantasmas se tornaram
nossas amigas sorridentes,
teu verso de alumbramentos sábios
e nostalgias abissais,
hoje é nossa comum riqueza,
nosso pasto de sonho e cisma:
ele não te pertence mais.
A poesia de Manuel Bandeira é simples, acessível, quase sempre direta. Sua experiência pessoal de vida (os fatos cotidianos, perplexidades, medos e desejos) transfigura-se de tal modo num purismo (liberto de todo sentimento falso), num lirismo (verso em Amor), numa preocupação com a morte e com a presença constante de familiares e conhecidos (fantasmas sorridentes):
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincinê na ponta do nariz
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas.
…………………………………………………………………………
E o vendedor de roletes de cana
O de amendoim que se chamava Midubin e não era torrado era cozido
Me lembro de todos os pregões:
Ovos frescos e baratos
Dez ovos por uma pataca
Foi há muito tempo…
(Idem ps. 82/83)
Gilda e Antonio Candido, no Prefácio de Estrela da Vida Inteira (1965) afirmam que “se na poesia bandeiriana, há um coloquialismo, ela não revela necessariamente um olhar ‘cotidiano’ sobre o real, mas capta o que há de “indizível” ou complexo por detrás do aparente explícito e vidente”. Concordo com os críticos e acrescento, que num processo mágico, o poeta exprime o inexprimível “profundamente e suas nostalgias abissais” entram nas almas e revelam momentos vividos, existentes que nós não percebemos ou que não queremos perceber como: a felicidade, a nossa cidade, a nossa rua, os nossos entes queridos. É o que está poetizado no texto “Evocação do Recife”.
Recife…
Rua da União…
A casa de meu avô…
Nunca pensei que ela acabasse!
Tudo lá parecia impregnado de eternidade
Recife…
Meu avô morto.
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como
a casa de
[meu avô
Rio, 1925 (Idem p. 84)
Entre as evocações pessoais que, com mais frequência, afloram a poesia de Bandeira, encontram-se personagens e cenas de sua infância passada no Recife – marcadas pelas figuras do avô, de Totônio Rodrigues, de Aninha Viegas e de Rosa. Está também presente o sagrado dos sinos que:
De repente
nos longes da noite
um sino
Uma pessoa grande dizia:
Fogo em Santo Antônio!
Outra contrariava: São José!
Totônio Rodrigues achava sempre que era São José
Os homens punham o chapéu saíam fumando
E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo.
(Idem p. 82)
O sino surgia dentro da noite e repercutia o Poder Divino. “Apercepção do ruído do sino dissolve as limitações da condição temporal. […] Pela posição do badalo, o sino evoca a posição de tudo o que é suspenso entre o céu e a terra, e, por isso mesmo estabelece uma comunicação entre os dois. Mas também de entrar no mundo subterrâneo”, é uma das leituras simbólicas do “Sino” pode ser encontrada em Chevalier & Gheerbrant.
O sino exprime a formação religiosa e evocação do tempo de infância, dos sons das igrejas indicando o fervor e a necessidade de voltar o pensamento a Deus, mesmo diante dos desejos carnais da adolescência.
Pode ser percebido, que sino repicava solitário e distante do poeta que, na adolescência, deixava de lado o sagrado para se entrosar com as descobertas da vida, do fogo, da paixão, da masculinidade. O profano torna-se mais forte nesta época de sua vida e o rio aparece como uma metáfora nessa nascente de desejos:
Capiberibe
– Capiberibe
Lá longe o sertãozinho de Caxangá
Banheiros de palha
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho
Fiquei parado o coração batendo
Ela se riu
Foi meu primeiro alumbramento
(Idem p. 82)
O rio reproduz a imagem do nascimento da vontade sexual e da “força criadora da natureza e do tempo, da fluidez das formas”. O Capibaribe metaforiza o erotismo que exalava daquele corpo de menino, que se preparava para fertilidade poética e erótica do homem adulto, que ali já desabrochava em seu primeiro “alumbramento”, ao ver “uma moça nuinha no banho”. Sua fertilidade seria artística, diria algum crítico astuto, seus versos são nossos, afirma Drummond.
Na poesia de Bandeira, o sagrado e o profano e seus alumbramentos se misturam nas águas do rio, com as cheias, “Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu/ E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos/ em jangadas de bananeiras e mais:
Novenas
Cavalhadas
Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão
[nos meus cabelos
Capiberibe
– Capibaribe
(Idem p. 83)
Verifique que o poeta usa os verbos no pretérito imperfeito e perfeito do indicativo. Neste poema, o contraste entre os dois tempos é significativo. O pretérito imperfeito indica uma ação continuada no passado e uma ação repetida no passado. Na descrição de Bandeira os imperfeitos indicam ação prolongada no passado (ficava, era, chamava, chegava…), ação repetida no passado (ia fumar, ia pescar…). Já o perfeito traduz ação ocorrida apenas uma vez, completada no passado (vi, fiquei, riu, foi, deitei…). Em meio ao quadro fixo do passado revivido, destaca-se o corte repentino do “meu primeiro alumbramento”, reforçado pelo emprego verbal do foi, para significar um momento único, inesquecível, que ficou gravado definitivamente na memória.
“Evocação do Recife” é mais evocação do que descrição, é um texto subjetivo, intimista, em que o poeta chama o passado, para eternizá-lo na poesia.
Neste poema, as duas formas “Capiberibe – Capibaribe” têm dois motivos. Em Itinerário de Pasárgada Bandeira explicou que:
O primeiro foi um episódio que se passou comigo na classe de Geografia do Colégio Pedro II. Era nosso professor o próprio diretor do Colégio – José Veríssimo. Ótimo professor, diga-se de passagem, pois sempre nos ensinava em cima do mapa e de vara em punho. Certo dia perguntou à classe: “Qual é o maior rio de Pernambuco?” Não quis eu que ninguém se me antecipasse na resposta e gritei imediatamente do fundo da sala: “Capibaribe!” Capibaribe com a, como sempre tinha ouvido dizer no Recife. Fiquei perplexo quando Veríssimo comentou, para grande divertimento da turma: “Bem se vê que o senhor é um pernambucano!” (pronunciou “pernambucano” abrindo bem o e) e corrigiu: “Capiberibe”. Meti a viola no saco, mas na “Evocação” me desforrei do professor, intenção que ficaria para sempre desconhecida se eu não revelasse aqui. Todavia, outra intenção pus na repetição. Intenção musical: Capiberibe a primeira vez com e, a segunda com a, me dava a impressão de um acidente, como se a palavra fosse uma frase melódica dita na segunda vez com bemol na terceira nota. De igual modo, em “Neologismo” o verso “Teodoro, Teodora” leva a mesma intenção, mais do que de jogo verbal.
Diante do exposto, o poeta, em “Evocação do Recife”, põe em prática sua poesia livre de preconceitos e fórmulas; realiza uma obra liberta de códigos, fala poeticamente a língua do povo, mas com engajamento, com as ideias revolucionárias e criativas nos moldes do Modernismo que vivenciava. Assim seguia os preceitos de Oswald de Andrade, que pregava: “Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. “Ver com olhos livres”. O criador de “Evocação do Recife” busca sua pasárgada literária, uma liberdade para escrever e pensar, uma Libertinagem poética para ser e expor suas evocações ou conviver com a presença “indesejada das gentes”.
O poema “Profundamente” expressa recordações. As festas de São João, as figuras da infância, os parentes falecidos e as outras lembranças do passado são chamadas de novo à consciência:
Quando ontem adormeci
Na noite de São João
Havia alegria e rumor,
Estrondos de bombas luzes de Bengala
Vozes cantigas e risos
Ao pé das fogueiras acesas.
No meio da noite despertei
Não ouvi mais vozes nem risos
Apenas balões
Passavam errantes
Silenciosamente
……………………………………………
Onde estavam os que há pouco
Dançavam
Cantavam
E riam
Ao pé das fogueiras acesas?
– Estavam todos dormindo
Estavam todos deitados
Dormindo
Profundamente
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
– Estão todos dormindo
…………………………………………
Profundamente.
(Idem ps. 85/86)
Este texto apresenta imagens de um acontecido e do presente. Do passado, o eu lírico mostra a festa de São João e desenha detalhes visuais e auditivos para vivificar a cena. As imagens visuais são sugeridas através da ausência de vírgulas, indicando que tudo ocorria simultaneamente, sem muita ordem: bombas explodiam enquanto luzes de Bengala coloriam o céu; ao mesmo tempo, as luzes da fogueira coloriam a terra e vozes politonavam com cantigas e risos. A sonoplastia das cenas é sugerida através de repetição de sons explosivos (/t/, /d/ e /b/) – Estrondos de bombas… de Bengala… – combinada com os / on / sugere o barulho das bombas a estourar.
O poeta utiliza imagens: “Estavam todos deitados/ Dormindo”, e metáforas como “Profundamente” (mortos) e faz desenhos por meio de analogias, criando relações entre objetos, palavras e sons. Os recursos estilísticos utilizados pelo artista da palavra expõem a descoberta da realidade: as ações festivas dessas cenas fazem parte de seu passado remoto.
O verbo dormir no poema é um vocábulo polissêmico, revela duplo significado. Na estrofe “estão todos dormindo/ Estão todos deitados/ Dormindo/ Profundamente”.Dormir além de revelar esses dois sentidos, faz o poeta retornar poeticamente às pessoas que marcaram efetivamente sua infância e construíram sua mitologia.
Sobre esses personagens que “adormeceram profundamente”, Manuel Bandeira em seu Itinerário de Pasárgada escreveu:
Na “Evocação” já havia mencionado o nome de Totônio Rodrigues, que “era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz”. Esse Totônio era sobrinho de meu avô e me parecia muitíssimo mais velho do que ele. Não sei se foi isso ou a maneira de usar o pince-nez, ou o jeito de falar que o marcou tão profundamente na minha memória. Tomásia era a velha preta cozinheira da casa da Rua da União. Tinha sido escrava de meu avô e fora por ele alforriada. Naquela cozinha, com seu vasto fogão de tijolo, o seu enorme pilão, e que pelas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro resplandecia quentemente com as grandes tachas de cobres areadas até o vermelho, Tomásia, pequena, franzina e de poucas falas, mandava sem contraste e me inspirava um sagrado respeito com as suas duas únicas respostas a todas as minhas perguntas: “hum” e “hum-hum”, que eu interpretava por “sim” e “não”. Rosa era a mulata clara e quase bonita que nos servia de ama-seca. Nela minha mãe descansava porque a sabia de toda a confiança. Rosa fazia-se obedecer e amar sem estardalhaço nem sentimentalidade. Quando estávamos à noitinha no mais aceso das rodas de brinquedo, era hora de dormir, vinha ela e dizia peremptória: “Leite e cama!” E íamos como carneirinhos para o leite e a cama. Mas havia, antes do sono, as “histórias” que Rosa sabia contar tão bem…
(BANDEIRA, Itinerário de Pasárgada. 1996. p. 79/80)
De acordo com Bandeira, um Totonho Rodrigues, uma Aninha Viegas, a preta Tomásia, velha cozinheira da casa do seu avô, tinham a consistência heroica das personagens dos poemas homéricos.
O poema “Profundamente” é assinalado pela efemeridade dos fogos, dos balões e das fogueiras, que se extinguem com o fim da noite e o fim da festa, cria um clima intensamente nostálgico, gerado pela saudade dos amigos e dos parentes.
A obra de Bandeira abrange um período de quase cinquenta anos. Esse longo período de fertilidade literária incorpora à sua poesia a herança simbolista do fim do século passado, ligando às experiências da Vanguarda concretista.
Uma característica marcante de sua poesia é a extrema musicalidade de seus versos. Outra marca também característica é o fato de que seus poemas têm forte lastro subjetivo, autobiográfico. Assim, várias experiências vividas pelo poeta são documentadas em sua obra, o que dá a certos poemas um tom confessional e íntimo.
Bandeira tem, ainda, a extrema argúcia de captar no cotidiano o concreto da vida brasileira. Além desse lado, sua poesia tem momentos de voos fantásticos – no espaço da imaginação – lugar onde a obra de arte habita e a realidade aparece deformada, envolta em simbolismos e metáforas.
Finalizando o estudo, deve ser dito ainda que, Manuel Bandeira – o “São João Batista do Modernismo” – muito embora não tenha participado da Semana de Arte Moderna, viveu, junto com os organizadores dela, todo clima efervescente do movimento modernista, participou da demolição dos princípios parnasianos e teve importante destaque na consolidação do Modernismo.
Maria de Fátima Gonçalves Lima é doutora em Teoria Literária pela UNESP – São José do Rio Preto; Pós Doutora pela PUC Rio de Janeiro; Pós Doutora pela PUC São Paulo. Coordenadora do Programa– Mestrado em Letras PUC/Goiás, autora de mais de 50 obras – crítica literária, ensaísta e escritora de obras infantis. Titular da Academia Goiana de Letras (AGL), Cadeira nº 5 ([email protected]).
Leia também: Em visita a Goiás, João Melo fala sobre literatura, Brasil e Angola


