László Krasznahorkai, autor de Sátántangó e Nobel de Literatura, é o mestre húngaro do apocalipse
11 outubro 2025 às 21h00
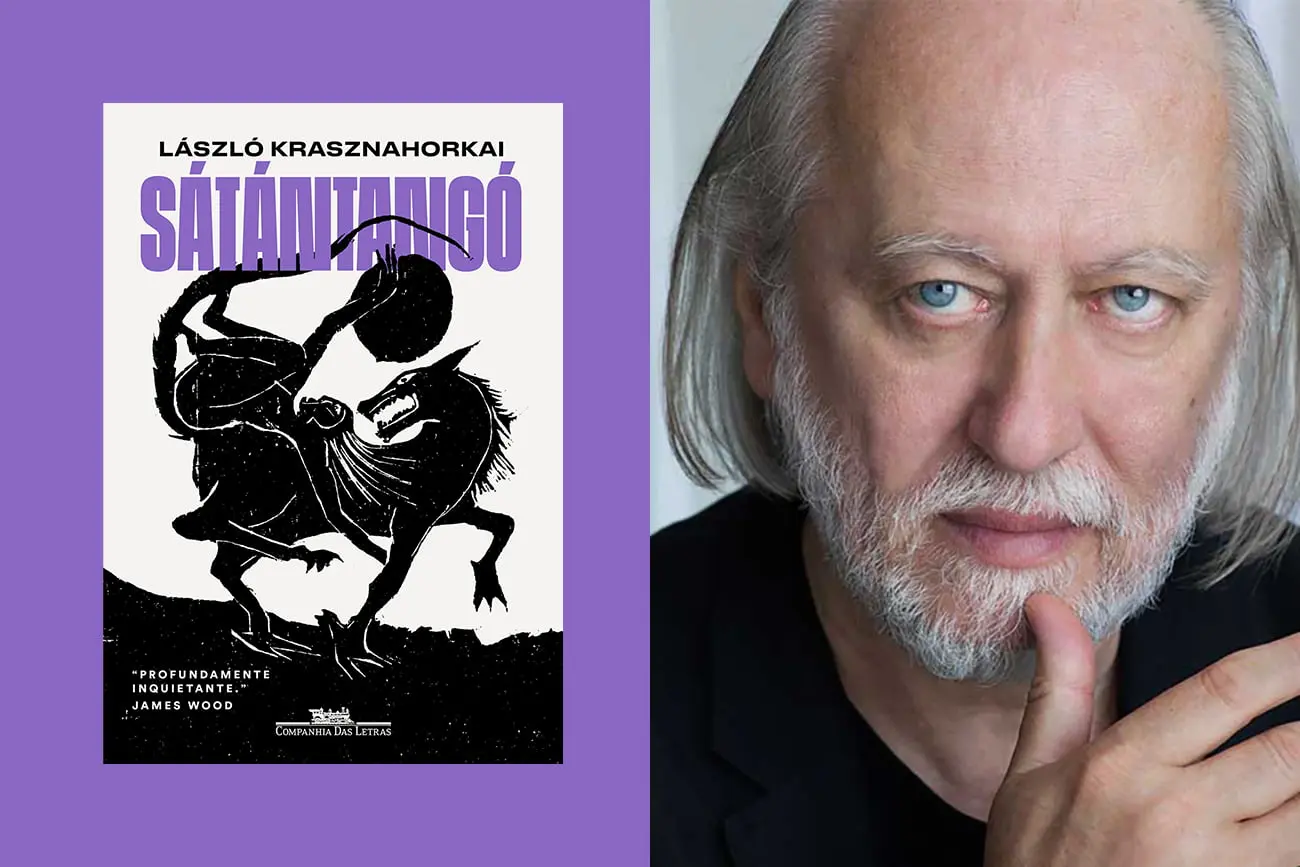
COMPARTILHAR
Não li, mas é possível que tenha saído alguma coisa a respeito. Nos textos sobre László Krasznahorkai, o escritor húngaro que acaba de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, não li nada sobre o notável húngaro Paulo Rónai (leia no Jornal Opção: https://tinyurl.com/3czy8jky).
Não sei se Paulo Rónai (1907-1992) leu a obra de László Krasznahorkai (com sua curiosidade insaciável, é provável que tenha lido). Amigo de Ribeiro Couto e Guimarães Rosa, o tradutor e crítico húngaro sobreviveu à brutal perseguição do nazismo e veio morar no Brasil. Entre os patropis, se tornou professor e um dos maiores tradutores — tanto de escritores húngaros quanto do francês Balzac.
Menciono Paulo Rónai para lembrar de um húngaro que foi — e seu trabalho continua sendo — uma ponte extraordinária entre as culturas do Brasil e da Hungria.
O belíssimo “Os Meninos da Rua Paulo” (Companhia das Letras, 272 páginas), do húngaro Ferenc Molnár, ganhou uma tradução precisa de Paulo Rónai. Mesmo quem não sabe húngaro, como eu, percebe, de cara, a perícia do tradutor. A língua distante, de lá, gritando “estou viva!” — aqui, na língua de Machado de Assis e Graciliano Ramos.
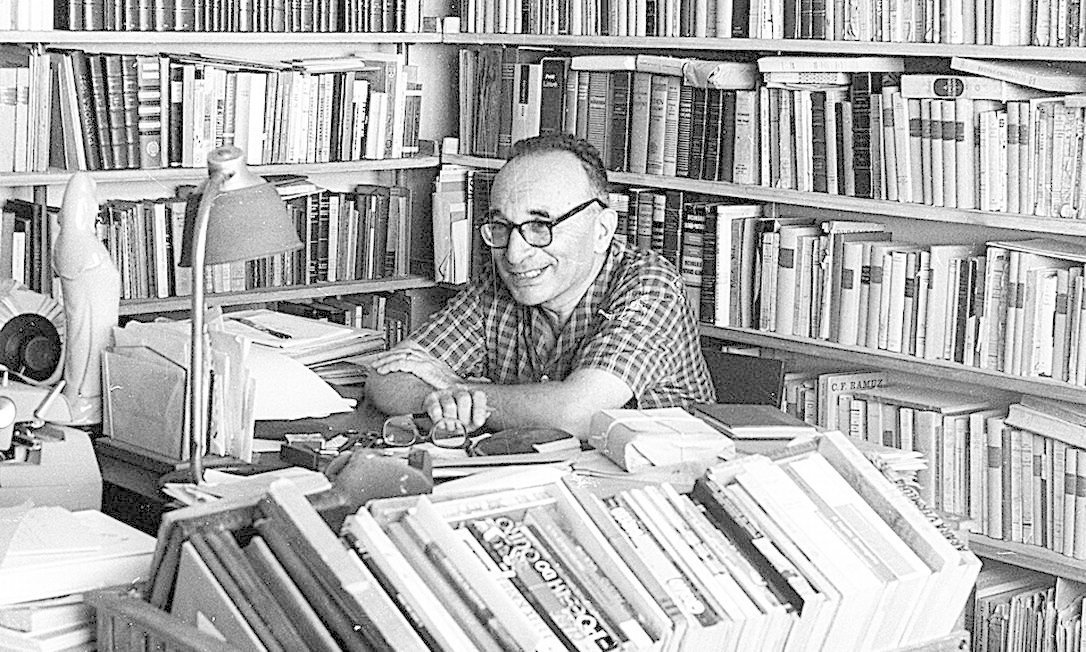
O médico e psicanalista Paulo Schiller, de 72 anos, traduziu o romance “Sátántangó”, de László Krasznahorkai. Filho de húngaros, nasceu no Brasil.
Os repórteres Diogo Sponchiato, da “Veja” (“Prêmio Nobel húngaro é conhecido por ‘acabar’ com tradutores”), e Walter Porto, da “Folha de S. Paulo” (“Dizem que húngaro é a língua do demônio, brinca tradutor premiado do Nobel”), conversaram com Paulo Schiller a respeito da difícil arte de traduzir — um trabalho tão braçal quanto cerebral — László Krasznahorkai.
Paulo Schiller disse à “Veja” que é muito difícil traduzir a obra de László Krasznahorkai. “O livro tem parágrafos muito longos, de tradução difícil. Eu cheguei a começar e desisti. Conhecidos meus do meio literário na Hungria me diziam que o livro ‘acabou’ com muitos tradutores.”
As frases de László Krasznahorkai são “densas, muitas vezes sem pontuação e se estendem por páginas” (quem sabe um mix de Marcel Proust e James Joyce).

No mundo do fácil, de inteligências ditas artificiais — talvez superficiais —, “perguntaram” a László Krasznahorkai “por que alguém leria um livro que demanda tanto”? O escritor respondeu: “Porque o livro fala sobre você (e cada um de nós)”. “‘Sátántangó’ é uma magnífica alegoria sobre a armadilha dos regimes populistas” (e autoritários. A atmosfera criada por Kafka, em “O Processo” e “O Castelo”, certamente aproxima-se da gestada pelo húngaro).
Paulo Schiller ganhou o prêmio de melhor tradução da Biblioteca Nacional por ter colocado de pé a catedral “Sátántangó” (Satã e tango).
Traduzir do húngaro, mesmo com amplo conhecimento da língua, não é nada fácil. Trata-se de uma língua muito diferente do português e do brasileiro — este vai acabar subordinando aquele, tornando-se dominante globalmente (o Brasil, diria Chico Buarque, se tornou um “imenso Portugal”). “É uma língua que não tem parentesco com nenhuma outra, a não ser uma relação distante com o finlandês e o estoniano. Ela se origina do norte da Sibéria. É um mundo completamente à parte”, disse Paulo Schiller à “Folha”.
O húngaro, frisa Paulo Schiller, “não tem preposições nem tempo verbal para o futuro. E tem apenas um para se referir ao passado, que não se divide em pretérito perfeito e imperfeito”.
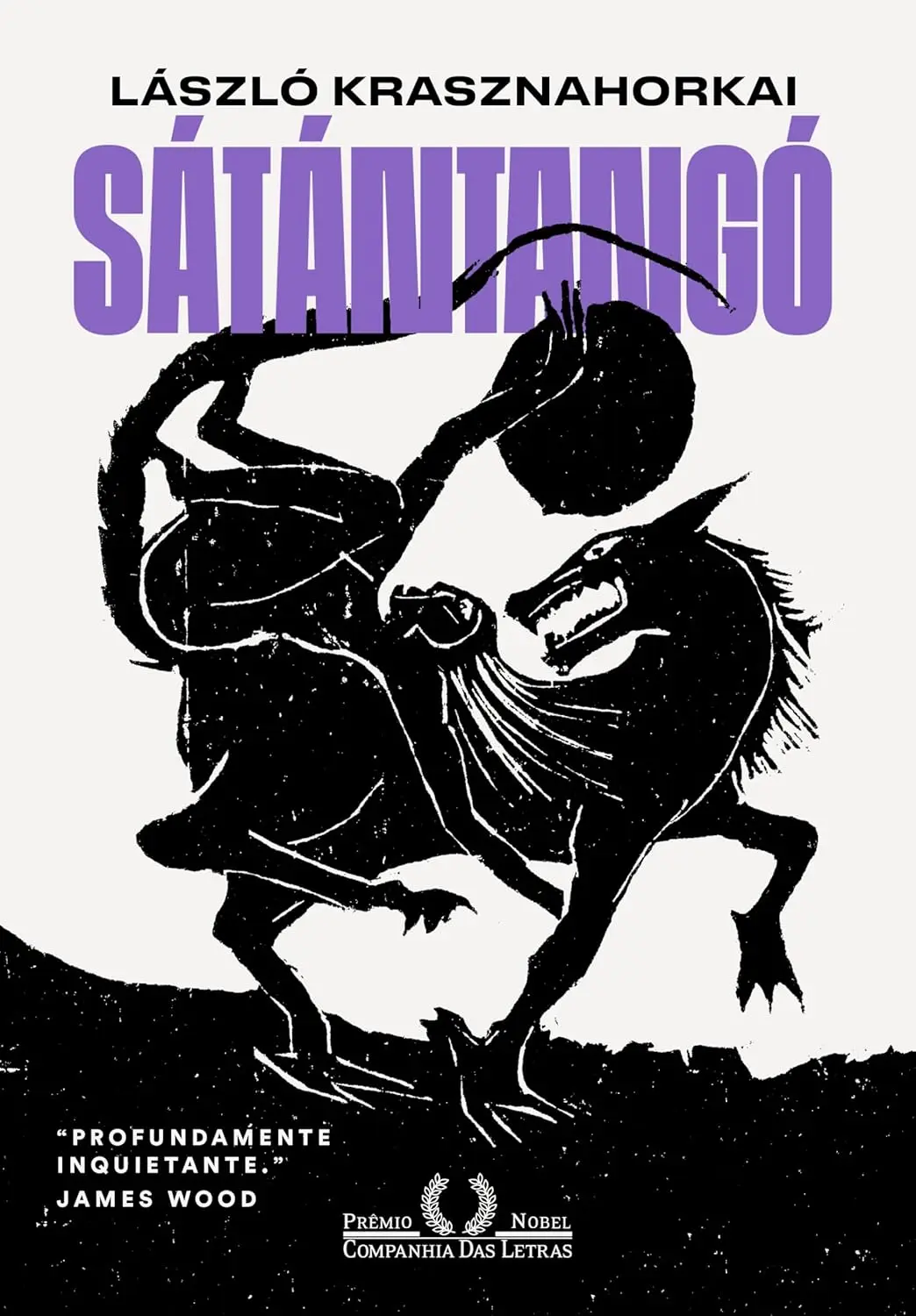
Trata-se, assinala Paulo Schiller, de “uma língua aglutinante”. O termo “üldögélt” significa “ficar sentado à toa sem fazer nada”. “A precisão ao descrever uma situação é mais rica do que em português.”
“A gente tem vermelho e vermelhidão. Mas não temos, para o cinza, ‘cinzice’. No húngaro, tem. E qualquer substantivo vira verbo. A gente diz ‘tomar um sorvete’. Em húngaro, você diz ‘sorvetear’. Qualquer palavra pode ser flexionada num verbo”, anota Paulo Schiller, na entrevista a Walter Porto.
João Guimarães Rosa, que sabia húngaro — chegou a traduzir —, disse que “era a língua para falar com o demônio”.
Walter Porto escreve que Paulo Schiller “não vê tanta distância assim entre o escritor mineiro e o recém-eleito Nobel, já que chama ‘Sátántangó’ de uma espécie de ‘Grande Sertão: Veredas’ da Hungria. (…) O que lembra Guimarães Rosa são as frases muito longas. E o autor diz que pensa a frase toda e só se senta para escrever quando está pronta. É impressionante”.

O mestre húngaro do apocalipse
Na resenha “‘Sátántangó’, de László Krasznahorkai, onde todos parecem esconder algo”, publicada pelo jornal “O Globo”, em 2022, o crítico literário Kelvin Falcão Klein relata que a ensaísta americana Susan Sontag escreveu que o agora Nobel de Literatura era “o mestre húngaro do apocalipse”.
Kelvin Falcão Klein aproxima László Krasznahorkai de autores como Nikolai Gógol, Kafka, Joseph Roth, Beckett, William Faulkner e Thomas Bernhard. O húngaro talvez tenha lido Gabriel García Márquez, mas não os brasileiros José J. Veiga e Campos de Carvalho. Há similitudes entre os universos literários e existenciais deles. A forma, porém, lembra mais as estripulias verbais de Joyce, Beckett e Faulkner
O crítico literário registra: “O cenário [de “Sátántangó”) é uma aldeia húngara de poucos habitantes, um local remoto e esquecido em que todos parecem esconder algo. O cerne da trama está na expectativa da chegada de Irimiás, um homem que se acreditava morto, tido como uma espécie de ‘profeta’. O vento, o frio e a chuva são constantes, assim como os insetos: ‘As mutucas — que na luz e no movimento buscavam fugir das aranhas — traçavam incansáveis seus oitos difusos em volta da lâmpada fraca’”.

(Cá entre nós: será que existe mutuca na Hungria? Talvez o tradutor tenha usado “mutuca” para facilitar a compreensão.)
“Krasznahorkai parece desejar a construção de um mundo à parte, uma espécie de realidade paralela, feita de linguagem, metáforas, adjetivos, paralelos e hipérboles: ‘O suor escorria de Kráner, e por mais que tentasse, ele não conseguiu apagar do rosto as marcas da recente explosão de ódio’. Um mundo ‘literário’ que, no entanto, depende fortemente do mundo real, ainda que seja uma dependência contrariada, crítica — muitas vezes amarga e desencantada”, assinala, perspicaz, Kelvin Falcão Klein.
László Krasznahorkai nasceu num país comunista, a Hungria, que, hoje, é capitalista. A sociedade totalitária está, de alguma maneira, transfigurada na sua literatura. O stalinismo criou sociedades reais, óbvio, mas que parecem irreais. Distopias cruentas, absurdas. Kafkianas, por assim dizer. A literatura pode até tentar, mas quase nunca “desgruda” da realidade. Não a deixa de lado. Às vezes estupidifica-a para torná-la, quem sabe, mais visível. Não é retrato, e sim mimesis.
Leia trecho do romance Sátántangó, de László Krasznahorkai
Numa manhã do final de outubro, não muito antes que as primeiras gotas das chuvas impiedosamente longas de outono se desprendessem sobre a terra rachada, ressequida, do lado ocidental do assentamento (para que depois o mar pútrido de lama tornasse intransitáveis os caminhos, e também a cidade ficasse inacessível), Futaki despertou ao som de sinos. A quatro quilômetros de distância a sudoeste, nas antigas terras de Hochmeiss, existia uma capela solitária, porém lá não apenas não havia sino como a torre desabara no tempo da guerra, ao passo que a cidade, por sua vez, ficava muito afastada para que dela chegasse algum som. Além disso, o badalar plangente, triunfante, não lembrava sinos distantes, mais parecia que o vento o tinha trazido de bem perto (“Como se viesse do moinho…”) para aqueles lados. Ele apoiou os cotovelos no travesseiro para olhar pela janela minúscula da cozinha, mas através do vidro meio embaçado o assentamento, imerso no amanhecer azulado e no gemido dos sinos que aos poucos silenciaram, ainda estava mudo e inerte: no extremo oposto, entre as casas distantes umas das outras, somente pelas cortinas da janela do médico se filtrava uma luminosidade, nesse caso porque havia anos o morador não conseguia adormecer no escuro. Ele prendeu a respiração para, na vazante do estrépito dos sinos, não perder uma única ressonância extraviada, porque desejava saber a verdade (“Você com certeza ainda está dormindo, Futaki…”) e, para tanto, precisava de cada som, ainda que fosse singular. Com seus passos míticos, macios, de gato, ele se dirigiu, manquitolando sobre a pedra gelada da cozinha, à janela (“Não há ninguém acordado? Ninguém está ouvindo? Mais ninguém?”), abriu os painéis e se debruçou para fora. Um ar cortante, úmido, o golpeou, por um instante ele foi obrigado a fechar os olhos; e por conta do cacarejo dos galos, dos gritos distantes e do zunido agudo, implacável, do vento que minutos antes se alçara, no silêncio profundo de nada serviu aguçar os ouvidos, ele não escutou nada além das batidas surdas do próprio coração, como se tudo fosse uma brincadeira espectral da vigília (“… Como se alguém quisesse me assustar”). Contemplou tristemente o céu ameaçador, os restos queimados do verão cheio de gafanhotos, e de súbito viu passar pelo mesmo ramo de acácia a primavera, o verão, o outono e o inverno, como se sentisse de leve que na esfera imóvel da eternidade a totalidade do tempo gracejasse, enganando, ao superar os obstáculos da confusão reinante, a planura demoníaca, e, uma vez criadas as alturas, ele falseasse, de modo que parecesse inevitável, a loucura… e se viu no crucifixo sobre o berço e o caixão debatendo‑se com dificuldade, para, por fim — sem braçadeiras nem condecorações —, se entregar, desnudo, a uma condenação explosiva, seca, nas mãos dos lavadores de mortos, para o riso dos coureiros incansáveis, em que ele depois se veria obrigado a reconhecer sem piedade a medida das coisas humanas, sem que uma única trilha o conduzisse de volta, porque nessa hora ele saberia que se metera com carteadores desonestos numa partida jogada desde bem antes, em cujo final eles lhe roubariam a última arma, a esperança de que voltaria a encontrar em algum momento o caminho de casa. Virou a cabeça para o lado, na direção das construções um dia cheias e barulhentas, hoje decrépitas e abandonadas, na parte oriental do assentamento, e observou amargurado os primeiros raios de sol inchados, vermelhos que irrompiam pelas frestas do teto do estábulo meio destelhado, quase em ruínas. “Afinal, preciso me decidir. Não posso ficar aqui.” Voltou para debaixo da colcha quente, apoiou a cabeça nos braços, mas não conseguiu fechar os olhos: os sinos espectrais o horrorizaram, porém não mais que o repentino silêncio, o mutismo ameaçador, porque sentiu que tudo poderia acontecer. Mas, como ele, nada se moveu na cama, até que entre os objetos silenciosos à sua volta iniciou‑se de repente um diálogo (o armário estremeceu, uma panela trepidou, um prato de porcelana deslizou para seu lugar) e ele então de súbito se virou, deu as costas para o suor que escorria da sra. Schmidt, palpou com uma das mãos o copo de água junto da cama e o bebeu de uma vez. Com isso ele se libertou do medo infantil; suspirou, limpou a transpiração da testa e, como sabia que Schmidt e Kráner somente naquela hora tocariam os bois para leva‑los do Szikes ao estábulo de Gazda, ao norte do assentamento, onde por fim eles receberiam o dinheiro amargo referente a nove meses de trabalho, e portanto um bom par de horas se passaria até que de lá chegassem em casa, decidiu que tentaria dormir mais um pouco. Fechou os olhos, virou‑se de lado, abraçou a mulher, e quase tinha cochilado quando de novo ouviu os sinos. “Droga!” Levantou a colcha, mas no instante em que os pés descalços, calejados, tocaram o piso de pedra da cozinha, os sons de repente cessaram (“Como se alguém tivesse acenado para que parassem…”). Ficou sentado, encolhido na beirada da cama, com as mãos entrelaçadas no colo, em seguida seu olhar pousou no copo vazio: a garganta estava seca, o pé direito formigava, e ele não teve coragem de se deitar de novo nem de se levantar. “Vou embora, o mais tardar amanhã.” Examinou em sequência os utensílios ainda aproveitáveis da cozinha sombria, o fogão sujo de gordura queimada e restos de comida, a cesta de alça esgarçada debaixo dele, a mesa de pés bambos, os retratos empoeirados de santos na parede, as panelas e travessas amontoadas no canto junto da porta, e por fim se voltou para a diminuta janela já iluminada, viu os galhos desnudos da acácia curvada diante dela, o teto afundado da casa dos Halics, a chaminé tombada, a fumaça que ela exalava, e disse: “Vou pegar a minha parte e vou embora hoje de noite mesmo!… O mais tardar amanhã. Amanhã de manhã”. “Ai, meu Deus!”, exclamou a seu lado a sra. Schmidt; amedrontada, ela correu os olhos desesperados na meia‑luz, com o peito arfante, mas quando depois tudo à sua volta a encarou com familiaridade, suspirou aliviada e se recostou de novo no travesseiro. “O que houve, teve um sonho ruim?”, perguntou Futaki. A sra. Schmidt continuou a fitar o teto com olhos assustados. “Deus Pai, sim!”, suspirou, e pôs as mãos sobre o coração. “E essa!… Imagine!… Estava sentada no quarto e… de repente alguém bateu na janela. Não tive coragem de abri‑la, parei junto dela e espiei pela cortina. Vi apenas as costas do sujeito, porque ele já estava pondo a mão na maçaneta… e a boca, ele gritou, mas não consegui entender o quê… estava com a barba por fazer e parecia ter olhos de vidro… foi terrível… Depois me ocorreu que tinha dado somente uma volta na chave de noite, mas eu sabia que quando ele chegasse seria tarde… por isso bati depressa a porta da cozinha, mas nessa hora lembrei que ela não tinha chave… Eu ia começar a gritar, mas da minha garganta não saiu som nenhum. Depois… não me lembro… por quê ou para quê, mas de repente a sra. Halics olhou pela janela e riu… sabe como ela fica quando ri?… bem, ela espiava a cozinha… e depois não sei… desapareceu… mas o outro já estava chutando a porta lá fora, eu sabia que num minuto a arrebentaria, e lembrei da faca de cortar pão, corri para o armário, mas a gaveta estava travada, eu a forcei… senti que ia morrer de pavor… depois ouvi que a porta cedeu com um estrondo e ele vinha pelo corredor… eu não conseguia abrir a gaveta… e ele já estava na cozinha… por fim acabei abrindo a gaveta, agarrei a faca, o sujeito se aproximou gesticulando… mas não sei… de repente ele estava deitado no canto, debaixo da janela… ah, sim, trazia um monte de panelas azuis e vermelhas, elas voaram pela cozinha… e nessa hora senti o chão se mexendo debaixo dos meus pés e, imagine, a cozinha toda saiu andando, como um carro… agora não sei mais como foi…”, terminou, e riu aliviada. “Estamos bem arranjados!”, Futaki balançou a cabeça. “E eu, imagine só, acordei com o som de sinos…” “O quê?!”, a mulher olhou para ele, espantada. “Sinos? Onde?” “Eu também não entendo. Ainda por cima duas vezes, uma depois da outra…” A sra. Schmidt também balançou a cabeça. “Você ainda vai ficar louco.” “Ou só sonhei a coisa toda”, grunhiu, agitado, Futaki. “Veja bem, hoje vai acabar acontecendo alguma coisa…” A mulher lhe deu as costas, contrariada. “Você diz a mesma coisa o tempo todo, bem que poderia parar com isso.” De repente ouviram que, lá fora, o portão dos fundos rangeu. Entreolharam‑se assustados. “Só pode ser ele!”, sussurrou a sra. Schmidt. “Acho que sim.” Futaki se sentou, nervoso: “Mas é… impossível! Não podem ter chegado…”. “Sei lá eu como…! Saia logo!” Ele saltou da cama, pôs as roupas debaixo do braço, fechou depressa a porta atrás de si e se vestiu. “Minha bengala. Deixei lá fora.” Os Schmidt não usavam o dormitório desde a primavera. No início, um mofo esverdeado cobrira as paredes, as roupas, as toalhas, e toda a roupa de cama embolorara no armário gasto mas sempre limpo, algumas semanas depois os talheres guardados para as ocasiões festivas enferrujaram, os pés da grande mesa coberta de toalhas de renda ficaram bambos e, quando mais tarde as cortinas amarelaram e um dia a luz também se apagou, eles por fim se mudaram para a cozinha e deixaram que o quarto se transformasse no reino dos ratos e das aranhas, pois não podiam fazer mais nada. Ele se apoiou na porta e ruminou como sairia de lá sem ser notado; mas a situação pareceu insolúvel, porque para se esgueirar seria obrigado a atravessar a cozinha, e ele se sentia velho demais para sair pela janela, coisa que a sra. Kráner ou a sra. Halics acabariam notando, uma vez que com um olho espreitavam o tempo todo o que acontecia lá fora. Além disso, se Schmidt descobrisse a bengala, ela denunciaria que estava escondido em algum lugar da casa, e portanto era possível que nem a sua parte ele recebesse, pois sabia que com isso Schmidt não brincava, e ele teria de fugir dali, como, sete anos antes — não muito depois do rumor distorcido, no segundo mês da recuperação —, lá chegara, com sua única calça rota, um casaco desbotado, de bolsos vazios e com fome.


