“Eu sou a força da minha história”: por que ser negro no Brasil ainda é um ato de resistência
21 novembro 2025 às 14h00
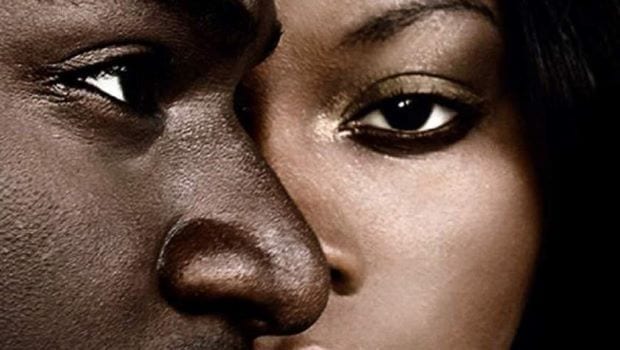
COMPARTILHAR
Janathan Firmino, professor de Geografia
Por volta de 1530, foi o início do processo de escravização no Brasil, com a invasão e colonização portuguesa, que não se limitou ao território brasileiro. Portugal também atuava fortemente no continente africano, capturando e comercializando pessoas negras para o trabalho forçado nas colônias.
Com isso estima-se que cerca de 12,5 milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras. Aproximadamente 2 milhões morreram durante a travessia, conhecida como Caminho do Meio, devido às condições extremamente desumanas: pessoas amontoadas, sem ventilação, sem higiene, com alimentação precária e submetidas à violência constante. A crueldade era tamanha que, em muitos casos, os corpos dos africanos mortos eram jogados ao mar. Relatos históricos indicam que tubarões passaram a seguir os navios negreiros, atraídos pelos corpos lançados à água — mudando inclusive suas rotas naturais.
Essa lembrança brutal atravessa séculos e ecoa na arte, um exemplo é a música do rapper Mano Brown, do grupo Racionais MC’s, ao dedicar a obra “Nego Drama” com os seguintes dizeres “à você que não virou comida de tubarão” uma referência direta a esse passado trágico que interferiu na vida de milhares de pessoas durante esse período e de gerações e gerações, que até os dias atuais sofrem os respingos desse ato brutal e desumano além de evidenciar a e resistência do povo negro que sobreviveu à escravidão.
Que perdurou por séculos e apesar da pressão vinda da Inglaterra sobre os países sul-americanos, em especial o Brasil, inquietação que visava libertação dos escravizados, mesmo assim o citado pais ainda foi um dos últimos do mundo a conceder tal liberdade. Ao observar essa preocupação com os negros, é notável que era fruto dos interesses gerados pela Revolução Industrial inglesa, que avançava e o processo de industrialização estava em ritmo acelerado, onde surgiu a necessidade de mão de obra assalariada, capaz de consumir os próprios produtos e sustentar a expansão econômica.
Observando o contexto da escravidão no Brasil e a imposição da Inglaterra foram criadas leis como, a Lei Eusébio de Queirós (1850), que proibiu oficialmente o tráfico de pessoas escravizadas africanas para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871, declarou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. No entanto, determinava que as crianças ficassem sob a tutela dos senhores até os 8 anos de idade, podendo ser entregues ao governo mediante indenização ou permanecerem trabalhando até os 21 anos. E a Lei dos Sexagenários (Lei nº 3.270), de 28 de setembro de 1885, concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos, mas exigia que trabalhassem gratuitamente por mais três anos como indenização aos antigos proprietários.
Que são exemplos de “leis para inglês ver”, pois não se efetivaram de forma justa para as pessoas que teriam direito, mas sim serviram principalmente aos interesses dos senhores de escravos, homens que enriqueceram com o trabalho escravizado. Diferente de países como os Estados Unidos, que indenizaram ex-escravizados, por entenderem que eles sim eram os principais prejudicados nesse processo todo, o que não aconteceu no Brasil, já que os que ficaram no “prejuízo” foram os senhores e por isso receberam uma reparação.
Nesse viés a abolição da escravidão no Brasil completou 137 anos com o decreto da Lei Áurea (Lei nº 3.353/1888), que decretou a libertação de todos que viviam nas condições de escravidão. Mesmo assim, o povo negro enfrenta enormes dificuldades para ascender socialmente e ter suas reparações devidamente reconhecidas, uma vez que as políticas governamentais não abrangeram tão população de forma justa para tentar reparar a crueldade a que eles foram submetidos.
Ser negro, especialmente no Brasil, é encarar todos os dias os desafios impostos por um racismo estrutural herdado da escravidão, concordando com o grande geógrafo Milton Santos, reconhecido internacionalmente por suas reflexões sobre a sociedade e a condição do negro em um país racista, que afirma:
“Ser negro no Brasil é, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. A chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predeterminado, lá embaixo, para os negros, e assim tranquilamente se comporta. Logo, tanto é incômodo haver permanecido na base da pirâmide social quanto haver ‘subido na vida’.”
Conceição Evaristo e o negro pós-abolição
Para Conceição Evaristo, a abolição da escravidão em 1888 não significou liberdade plena, mas sim uma “libertação sem reparação”. Ela argumenta que, embora a escravidão tenha sido oficialmente extinta, as estruturas racistas, a exclusão social e a marginalização dos negros continuaram sob outras formas — econômicas, políticas e simbólicas.
Nesse sentido concordando com a autora a abolição não garantiu acesso à terra, à educação nem a direitos básicos aos ex-escravizados, o que é visto com facilidade ao observar a história, pois os negros sempre tiveram que lutar muito por direitos básicos. Ela ainda afirma que o povo negro foi abandonado à própria sorte, sem políticas públicas que possibilitassem sua integração digna à sociedade. Mais uma vez o governo não pensou nessas pessoas em sua efetiva participação social, pois os negros foram libertados do trabalho e do cativeiro, mas não do racismo existente, nas entranhas dessa sociedade sendo assim Evaristo nos mostra que o racismo se transformou em um mecanismo silencioso e cotidiano, reproduzido nas relações sociais, no mercado de trabalho e na cultura.
Essa ótica de discriminação da sociedade nos obriga a estar o tempo todo atentos, desconfiados dos olhares e gestos, mesmo quando vêm de forma sutil ou disfarçada. Uma vez que a vivência de homens e mulheres negras é marcada por traumas e cicatrizes profundas, muitas vezes carregadas antes mesmo do nascimento. De acordo com o rapper e escritor Emicida, em uma de suas letras críticas e reflexivas, que sintetiza essa realidade com os dizeres:
“Cê sabe o quanto é comum dizer que preto é ladrão,
Antes mesmo de a gente saber o que é um,
Na boca de quem apoia, desova e se orgulha
Da honestidade que nunca foi posta à prova.”
Isso nos leva a refletir que quando ocupamos espaços de destaque, em um país onde a cor da pele ainda define tanto, sentimos na pele o peso das cobranças e da violência simbólica, a necessidade de adaptar nossa identidade para “caber” em lugares que, por direito, também nos pertencem. De acordo com o ator Lázaro Ramos, um dos grandes nomes da cultura brasileira, é sentir diariamente o fardo de ser negro, mesmo sendo reconhecido por seu talento e inteligência. Nesse sentido eu sendo professor de Geografia há 15 anos, sinto na pele tais afirmações, onde percebo, que as pessoas não demostram entender e aceitar que esse é o meu lugar de fala. Por isso afirmo que ainda enfrentamos o racismo entre colegas, dentro do sistema educacional e até mesmo entre nossos próprios alunos.
É difícil falar de racismo, especialmente quando pessoas brancas insistem em não o ver, apenas em se beneficiar dele, como Djamila Ribeiro ao afirmar que o privilégio branco consiste em benfeitorias concedidos socialmente a quem é branco, independentemente de intenções individuais. Nesse sentido percebo que sempre que abordo temas que escancaram o assunto, especialmente na escola, com temas como população brasileira e diversidade racial, formação da população brasileira, cotas raciais e sua efetividade, aparecem olhares de ironia ou críticas de colegas e alunos brancos. Mas também percebo, entre os estudantes, aqueles que expressam a tristeza de sentir o racismo na pele e, principalmente, no cabelo — o famoso cabelo alisado.
Que é outra forma de racismo, a qual normaliza preconceito com cabelos mais volumosos e cheios, onde fica muito claro que a violência capilar é naturalizada entre as pessoas negras, que muitas vezes adotam uma identidade que nem é a que gostam, preferindo lidar com queimaduras e dor a se aceitarem como são, sendo que são cabelos lindos e únicos.
O fato é que esse tipo de preconceito afeta pessoas que com olhar descolonizado é difícil identificar, eu por exemplo, aos 20 anos fiquei calvo e nem percebi, porque sempre raspava o cabelo para não ser alvo de críticas referentes a esse aspecto da cultura afro que foi tão rejeitado aqui no nosso país.
Sendo o que Carla Akotirene aborda, essa violência capilar é parte de um sistema de opressão racial e de gênero, conectando o cabelo à autoestima, à identidade e à expressão de ser negro(a) no Brasil. Ela ainda argumenta que a pressão para se conformar a padrões de cabelo eurocêntricos pode causar um tipo de violência simbólica e psicológica. A violência capilar, nesse contexto, não é apenas sobre agressão física, mas também sobre as cobranças sociais e o apagamento da identidade racial através da estética.
Contudo ao participar da terapia psicológica quinzenal, com a Mestre Flora Carolina do grupo Psiafro, que vem com a proposta de fortalecer a autoestima de pessoas negras, me sinto mais resolvido com muitas questões internas, preparado e disposto a enfrentar esse debate e a ser uma referência para meus estudantes, dizendo a eles que são lindos e que não precisam de validação para serem aceitos.
Eu sou a força da minha história
Ao ler Jeferson Tenório, em O Avesso da Pele, percebi que até os grandes escritores negros sentem o peso de estar em espaços onde sua presença ainda é rara. Mas, ao mesmo tempo, suas palavras trazem alívio e força, mostram que resistir é possível, e que escrever nossas próprias histórias é também um ato de enfrentamento.
Procuro não desviar o olhar nem perder o foco: sei de onde vim e aonde quero chegar. O cansaço é constante, afinal, um homem negro ensinando, em vez de servir, ainda incomoda. Ensinar Geografia é, de certa forma, resistir: é olhar o mundo com senso crítico, sentir raiva das estruturas que nos oprimem ao expor as feridas do racismo e suas raízes coloniais.
Por muito tempo, tive dificuldade em me conectar com as leituras tradicionais, centradas em autores brancos e histórias eurocêntricas. Passei a me reconhecer nas obras de escritores negros, que escrevem para pessoas como eu e contam nossas histórias com verdade e sensibilidade.
Mas há também a força ancestral, aquela que vem dos nossos antepassados e dos orixás, essa força nos faz olhar de frente, não silenciar diante das dúvidas sobre nossa capacidade intelectual, física ou emocional. A busca pela autoestima é uma luta interna constante, sentir-se bonito sendo preto ainda é visto como incômodo por muitos brancos.
Quando decidi ampliar minha atuação e trabalhar com o cuidado físico, mental e espiritual — como massoterapeuta e terapeuta corporal — enfrentei novos desafios. Os olhares de desconfiança foram inevitáveis, afinal, para uma sociedade racista, imaginar um homem negro promovendo bem-estar, especialmente em mulheres brancas, ainda é quase inadmissível.
Foi nesse espaço, porém, que encontrei meu verdadeiro propósito.
Descobri que meu papel vai além do ensino e do toque: é ajudar cada pessoa a reconhecer sua melhor versão, com sensibilidade e respeito. Aprendi que a força negra está justamente nisso e ainda mais além ao educar e transformar, mesmo quando o mundo insiste em negar nosso lugar.
No campo das ideias, não silenciar e afirmar nossa presença física e intelectual ainda encontra muitos desafios, mas são esses desafios que me movem, em toda a minha trajetória foi assim: eu sempre vou chegar ao lugar onde quero; e, se não chegar, é porque ali não é o meu lugar.
Seguir em frente, honrar a jornada, transformar em história viva a força que meus ancestrais carregaram e que corre nas minhas veias, tem sido o que me sustenta, por isso estar presente na minha própria vida é essencial: faço dela uma oportunidade. Olhar para os meus dois filhos me impele a continuar os passos dos antepassados, afirmando-os com coragem, amor, respeito e, acima de tudo, com a dignidade de ser eu, homem negro, pai, filho, irmão, professor e resistência viva.
Mesmo depois de concluir uma etapa importante da minha vida, a conclusão da graduação de geografia, segui minha caminhada cuidando de mim, do meu filho recém-nascido, Kauê, e da minha irmã Janaína, de forma mais próxima e emocional. Janaina sempre teve facilidades e mais oportunidades na sua trajetória, viajou para Itália/Europa quando tinha 18 anos, sempre oportunidades e condição financeira melhor, e isso, de certa forma, me fazia duvidar da minha própria existência. Não entendia que as limitações que ao nascer, foram dando sinais, como língua presa, dificuldade em escrever, porque fui de certa forma forçando escrever com a mão direita, ‘porque a mão esquerda não era mão que homem escrevia’, essa dificuldade se tornou de forma que atrasou meu aprendizado e a vontade de saber ler e escrever.
Vivia constantemente me comparando, sentindo que não era o suficiente.
Foi nesse período que me deparei com uma depressão profunda. Ela me tirou muita coisa, a vontade de viver, o desejo de estar entre pessoas. Enquanto minha irmã gostava de estar cercada de gente, de alegria, eu me isolava. E isso a entristecia, porque me via mergulhado em um silêncio que nem eu mesmo compreendia.
Com o tempo, percebi que aquele era também um período de autoconhecimento. Difícil, doloroso, mas necessário. Aos poucos, fui encontrando caminhos de cura. Em 2020, durante a pandemia, quando estava desempregado, uma companheira me presenteou com uma sessão de Constelação Familiar, e foi aí que tudo começou a fazer sentido. Durante a sessão, descobri que muito do meu sofrimento estava ligado a um luto mal resolvido de dez anos, da perca da minha mãe. Eu não havia perdoado meu pai, João Ferreira, o “João Preto”, falecido há mais de 15 anos. A ausência da sua presença, da sua força masculina, ainda pesava dentro de mim.
Percebi que, por muito tempo, fui um homem que cuidava de todos, mas cuidava pouco de mim mesmo. Eu precisava acolher o meu próprio pai dentro de mim, perdoá-lo, aceitá-lo e reconhecer que ele continua em mim. Esse reconhecimento me libertou. Entendi que o perdão era o caminho. A partir dali, comecei a olhar mais para mim. Fiz cursos, me formei terapeuta e passei a acreditar novamente na vida.
Na pandemia, cheguei a fazer faxina nas casas onde, muitas vezes, acabava oferecendo também massagem e terapia, um gesto simples, mas que me reconectava com o meu propósito: curar e cuidar. Foi difícil, mas eu consegui. E em 2024, fui abençoado novamente com a paternidade: nasceu João Pedro, hoje com um ano e dois meses. Olho para ele e vejo a força da vida renascendo em mim.
Hoje, entendo que a minha trajetória é de superação. Eu olho para trás e vejo as professoras que me feriram com o racismo, mas também aquelas que me acolheram com cuidado e afeto, como a Tia Sandra. Ela foi um anjo na minha vida, no período que estive na escola, sempre atenta e com uma proteção e cuidado que me faziam permanecer na escola, sabendo que escola nem sempre é lugar de acolhida para pessoas pretas como eu, mas sim um lugar de muitos desafios e opressão, porém a Tia Sandra estava ali para me proteger.
Hoje eu me deparo com algumas questões que viraram mania. Muitas das vezes é algo bom, porque estou sempre cuidando de mim, da minha higiene, mas, por outro lado, muitas vezes nem sequer estou sujo, e ainda assim estou o tempo todo tomando banho, usando creme, passando perfume, o vem de algo que traz traumas da minha infância, porque, mesmo tomando banho, vindo de uma família negra, pobre, que apesar de hábitos de higiene muito apurada, a nós ouvíamos apelidos cruéis “negro fedido”, “negro do Suvaco fedorento” — e as pessoas não queriam nem ficar perto da gente.
Essa violência simbólica ficou marcada na minha memória. Hoje, mesmo sendo um homem maduro, consciente, que combate o racismo e tem autoestima, ainda carrego essa lembrança. E isso faz com que eu esteja o tempo todo preocupado com a higiene: tomo banho várias vezes ao dia, faço a barba toda semana, me preocupo com o cheiro, com o corpo, com a aparência.
Isso mostra o quanto o racismo produz feridas no corpo e na mente, e como essas violências simbólicas nos fazem vigiar a nós mesmos. Concordando com o historiador Andrew Kettler (2020), pois “o racismo também se construiu pelo olfato, ao associar o corpo negro a um cheiro indesejado, criando uma forma de controle e vergonha sobre esse corpo”, e essa lógica ainda atravessa a nossa vivência cotidiana.
Portanto, quando falo sobre o banho, o perfume, o cuidado extremo, não estou apenas falando de vaidade. Estou falando de resistência, de como o racismo marca até mesmo a forma como a gente se percebe e se cuida.
Gosto muito de dirigir; entre idas e vindas de Ceres para Goiânia, eu organizo as ideias, e sempre vêm algumas lembranças. Uma que sempre vem, são as festividades da escola: crianças brancas tirando fotografias, e, na maioria das vezes, devido a não ter condições, eu estava sempre correndo pela escola com outras crianças pretas. E eu já escutei por várias vezes: “O neguinho, sai da frente, vai escurecer a foto”; “Mas o tal do pretinho é o cão, tá vendo que tá atrapalhando?”. Isso porque era no pátio da escola, e nem era lugar de foto, mas pessoas como eu não podiam tirar foto e nem brincar.
Vejo o quanto resistir é necessário. Vejo o quanto seguir em frente é um ato político. Ser um homem negro, professor e terapeuta é, para mim, um gesto de luta e de amor. Porque cada passo que dou é uma resposta à sociedade racista que insiste em tentar nos calar. E eu sigo — com fé, coragem e consciência — fazendo da minha história um ato de resistência e de cura.
Eu finalizo dizendo que vim e fui criado por mulheres, as minhas maiores referências são elas mulheres fortes, sensíveis e resistentes. Entre essas mulheres, está uma em especial: minha avó Nair, a matriarca, uma mulher branca, descendente de poloneses. Mesmo sendo branca, ela nunca teve acesso à educação formal, era analfabeta na escrita, mas incomparável no intelectual, na sabedoria e no cuidado. Foi com ela que aprendi o verdadeiro significado da resistência. Trago no meu braço uma tatuagem de Iemanjá, símbolo da força e da ancestralidade feminina, com o nome dessa tão querida avó, essa tatuagem representa a proteção, o amor e a coragem que ela me ensinou.

Ela ainda pôde ver um pouco dessa caminhada, desse poder e dessa potência que me transformei. Mas me entristece saber que minha mãe, minha avó, minha irmã e meu pai, não estão aqui para presenciar o momento que vivo hoje, um tempo de renascimento, conquistas e plenitude. Mas ainda assim, sigo com cada um deles em mim. E ao olhar para meus filhos, Kauê e João Pedro, sinto que a vida me agraciou novamente com a chance de continuar a história com mais amor, mais consciência e mais fé.
Portanto tudo o que sou, homem negro, pai, professor, terapeuta e ativista é fruto do que aprendi com essas mulheres e com a força daqueles que vieram antes de mim, meus ancestrais.
Janathan Firmino, professor de Geografia


