Um basta à deformação de fatos históricos: obra de Flávio R. Kothe revisa ideias prontas repassadas a gerações de leitores
26 julho 2025 às 21h01
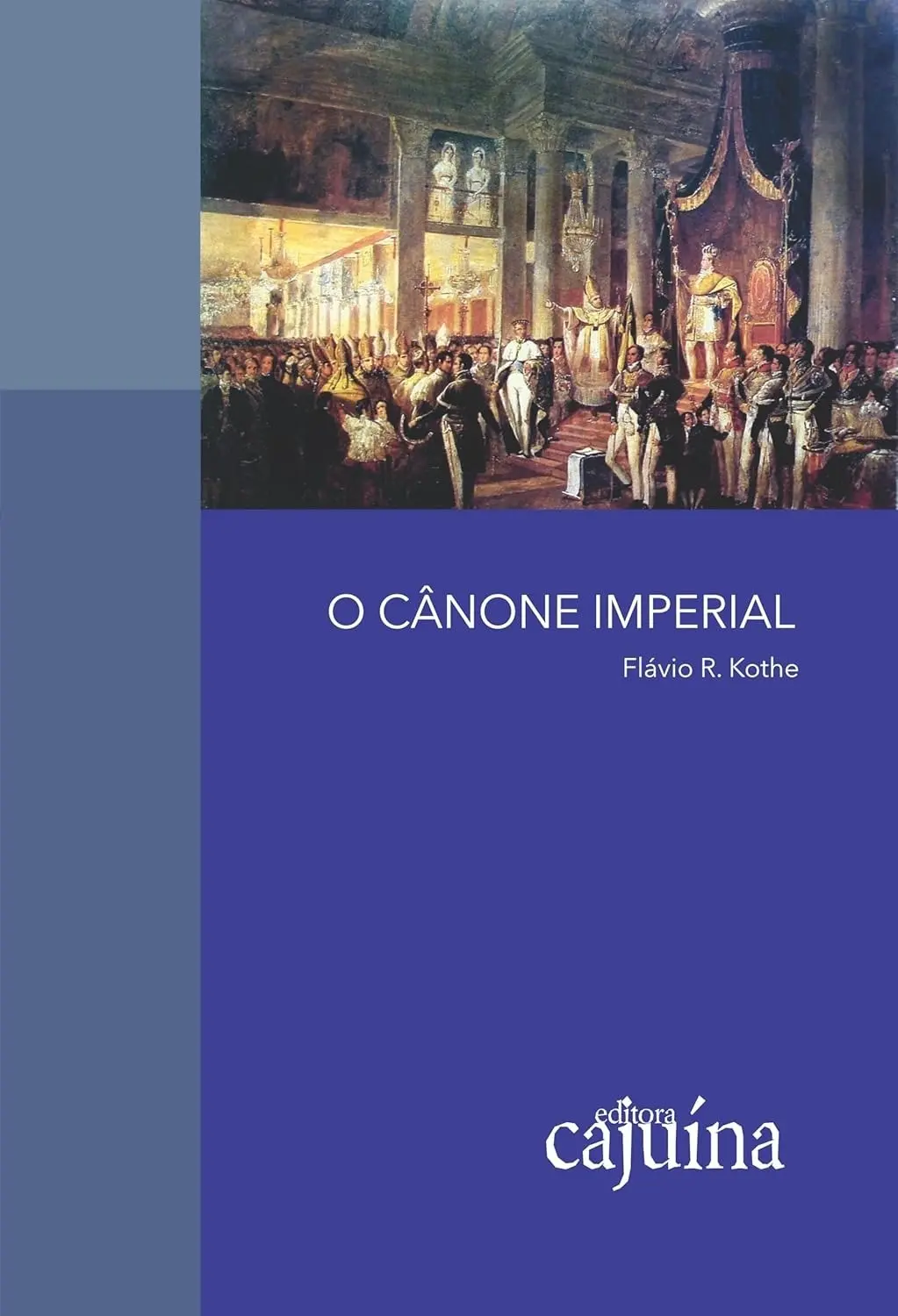
COMPARTILHAR
Adelto Gonçalves*
especial para o Jornal Opção
Uma revisão radical de conceitos e preconceitos, além de uma profunda reavaliação de obras tidas como consagradas, é o que o leitor irá encontrar em Cânone Imperial (São Paulo, Editora Cajuína, 2025), do professor e tradutor Flávio R. Kothe. Trata-se de uma continuação do livro O Cânone Colonial, publicado pela Editora da Universidade de Brasília (UnB), em 1997, que recebeu versão revista e ampliada, em 2020, pela Editora Cajuína. A obra reúne ensaios que analisam e redescobrem textos de autores que foram esquecidos por questões ideológicas e contesta outros que fazem parte de antologias e livros didáticos que teriam sido escolhidos não por sua qualidade artística, mas por conveniência política, por convicção doutrinária ou por imposição do establishment.
Logo no primeiro capítulo, o ensaísta contesta autores consagrados como frei Santa Rita Durão (1722-1784), José de Alencar (1829-1877) e Gonçalves Dias (1823-1864), que, à época da falência do sistema escravagista, exaltavam a necessidade de que para ser brasileiro era preciso ter sangue português e indígena nas veias, discriminando negros, mulatos e imigrantes de outros países, o que seria reforçado, mais tarde, por Oswald de Andrade (1890-1954) e, principalmente, por Mário de Andrade (1893-1945), que “atacou os imigrantes italianos e alemães, a industrialização e a emancipação da mulher”.
No mesmo ensaio, o professor lembra que se faz de conta que a história brasileira começou em 1500, quando teve início a invasão do território por portugueses, episódio que é definido nos livros como “descobrimento”, como se antes não tivesse havido gente por aqui, os povos originários. Ou nas palavras do ensaísta: “O cânone sacraliza a ocupação, para que não se perceba quanto sangue pinga em cada palavra”.
Segundo Kothe, com o cânone, os autores escrevem dentro desse paradigma, repetindo o já consagrado, sem deixar nada de novo a se dizer. “Assim, são valorizadas obras que ficam no mesmo e são deixadas de lado obras que possam ir além”, diz. E, portanto, como deixa claro, “há uma inversão de valores que parece natural”.
Como exemplo, cita, entre outros, a ocorrência da chamada Inconfidência Mineira, em 1789, observando que os poetas da época são todos lidos como “inconfidentes”, como se os seus textos tivessem sido escritos da perspectiva de um Brasil independente e autônomo. E observa que, “de um alferes boca-grande e sem maior preparo nem liderança, fez-se um Cristo nacional”, referindo-se a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792), aquele que pagou o pato pela urdidura do plano da rebelião que não eclodiu. Um movimento que sequer previa dar liberdade aos escravos.
Se se pode acrescentar alguma coisa, é para dizer que, por trás da Inconfidência Mineira, havia o interesse camuflado dos chamados “grossos devedores”, João Rodrigues de Macedo (1739-1807) e Joaquim Silvério dos Reis (1756-1819), que queriam a separação para se livrar de dívidas com o Erário Régio. É que, como arrematantes de contratos, haviam acumulado fortunas na medida em que se “esqueciam” de repassar para a Coroa os tributos que em seu nome arrecadavam. Obviamente, esses arrematantes, precursores dos banqueiros de hoje, seriam aqueles que financiariam o movimento de separação.
Aliás, não se pode deixar de lembrar que, para o vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa (1742-1809), a ideia da revolta partira da mente de Silvério que, em razão da falta de iniciativa dos prováveis rebeldes, decidira pular para o outro lado, entregando todo mundo, sempre com a ideia fixa de, em troca, livrar-se das dívidas. Sem esquecer que, anos depois, aqueles mesmos arrematantes, à força de muita corrupção nos meios judiciários, acabariam por se livrar de possíveis penas.
II
Como observa o autor, com o estabelecimento do cânone, deformam-se fatos históricos, reinando nas letras canônicas uma hipocrisia que não se vê como tal e apresenta a si como ciência, “sem ter condições de fazer ciência e ainda impedir que ciência se faça”. Como exemplo, lembra que a escola naturalista, que era, no romancista francês Émile Zola (1840-1902), uma transposição do marxismo para a produção literária, seria atacada e rejeitada de maneira reacionária por Machado de Assis (1839-1908) no “famoso” ensaio “Instinto de nacionalidade”. E conclui que nas Letras prepondera a direita, ou seja, a visão das classes dominantes. Aliás, nesta nova edição de Cânone Imperial, Kothe acrescentou um capítulo sobre Machado de Assis, mostrando como o escritor era mancomunado com a oligarquia.
Para o ensaísta, “trata-se de uma horrorosa deformação, de um monstro que anda solto nas escolas, universidades, bibliotecas e instituições de pesquisa, mas que é encarado como absolutamente normal, só aparecendo como deformação o que não veja no monstro um mostruário do que de melhor se produziu no país”. Em outras palavras: “O que foi historicamente formado, segundo os interesses e a perspectiva de uma casta dirigente, logo se entende como algo eterno e sagrado, como um tabu que se autoconsagra e exige temor reverencial”, diz o ensaísta.
III
Em outro ensaio, Kothe observa que “o cânone nacional discrimina não apenas a literatura oral de índios, negros e mestiços, mas também a literatura brasileira publicada em língua alemã, italiana, polonesa, tutti quanti não se curvassem à fala do senhor”. Nesse sentido, diz, a única alternativa aceita era a submissão. E lembra que aqueles que morrem para fazer história são esquecidos pela história, sendo lembrados os que representam a versão conveniente para edulcorar a dominação presente. E acrescenta:
“Sempre se tem elogiado a política de assimilação, celebrando como progresso o genocídio espiritual que ela envolve. Daí também o cinismo de considerar liberal um escravagista como Alencar, exilado um favorecido pelo poder real como Gonçalves Dias, expulso um privilegiado como Casimiro de Abreu. A divisa do cânone é mintam, mintam, que muita coisa há de ficar. Gerações e gerações e crianças brasileiras são assim doutrinadas nas escolas, que deformam suas mentes a pretexto de ensinar”.
Basta ver que a mentira ou a deturpação da verdade já nasce com o próprio país, pois a independência do Brasil é atribuída, afinal, a dom Pedro (1798-1834) e ao gesto teatral que teria feito às margens do rio Ipiranga, a 7 de setembro de 1822, esquecendo-se centenas de cidadãos que morreram pela libertação do jugo português. Não se pode esquecer também que a princesa Leopoldina (1797-1826), esposa de dom Pedro, assinou decreto de independência no dia 2 de setembro, durante a ausência do marido em São Paulo, e que ela presidiu o Conselho de Estado que decidiu pela separação. E que, em seguida, enviou a notícia a dom Pedro. Portanto, a 7 de setembro, o Brasil já estava separado de Portugal. Como observa Kothe, o que se seguiu depois foi um discurso machista que tratou de apagar a sua participação no processo da Independência.
Hoje, sabe-se que o ato às margens do Ipiranga não passou de uma reconstrução feita anos depois, quando a separação já estava consolidada, pois quem for aos arquivos em busca de referências a esse episódio em jornais e panfletos da época nada vai encontrar. Na verdade, a separação foi proclamada no dia 1º de agosto de 1822, no Rio de Janeiro, em manifesto que contém o plano de governo de dom Pedro e a convocação dos “brasileiros em geral para que se unissem em torno da causa da Independência”.
IV
Um dos construtores dessa história do Brasil oficial, que inclui a história literária, seria o escritor José Veríssimo (1857-1916), estudioso da Literatura Brasileira e principal idealizador da Academia Brasileira de Letras, segundo o qual “o romantismo teria traduzido fielmente os sentimentos e as aspirações da nova nacionalidade”. Para o ensaísta, aqueles escritores citados acima – e que foram enaltecidos por Veríssimo – não resistiriam à crítica não dominada pelo temor reverencial e pela empatia direitista.
“São em geral precários documentos da história das “ideias”, balbucios de uma literatura simplória, malfeita, que é considerada “clássica” para ser imposta pela classe alta nas classes do sistema escolar”, observa. E conclui: “Parecem ter valor por terem se perenizado, mas foram perenizados porque convinham à mente e aos interesses dos dominadores”.
Segundo Kothe, sempre se procurou esconder as lutas que foram travadas pelo povo brasileiro na Bahia e no Piauí, em 1823, para afastar as tropas lusitanas que não aceitavam a separação política. E que, no Sul, em 1823, muitos colonos alemães participaram da guerra da independência como soldados do Regimento de Estrangeiros, criado por decreto em janeiro daquele ano. “Teriam participado de mais de 500 combates, algo que também não é reconhecido”, diz.
Seja como for, haverá sempre quem estranhe estas ou aquelas conclusões, considerando-as talvez exageradas ou uma crítica radical e por demais abrangente, porque, afinal, contestam interpretações que nos foram repassadas por anos a fio, mas para abrir polêmica com o autor é preciso ler e reler todos os 87 ensaios constantes desta aprofundada obra que, desde já, torna-se um marco do revisionismo das ideias feitas que nos foram legadas por escritores tidos como consagrados.
Questionado sobre isso, o autor respondeu a este resenhista que não considera que tenha exagerado nas críticas. “Elas são uma antítese ao discurso vigente, mas não vivem dele. O problema é outro. É preciso que cada professor (e cada aluno) veja que é corresponsável na formação e consolidação de uma mentalidade estreita e reacionária do povo brasileiro, geração após geração, formando uma população que não consegue sequer discernir com clareza os seus próprios interesses e vota conforme lhe é sugerido pelos senhores da fala, seus senhores”.
Para o professor, o importante é ver como o cânone forma a estrutura da mente brasileira, com todas as suas limitações. “Talvez a obra de Dostoiévski sozinho valha mais que todo o cânone imperial aí em pauta”, conclui.
V
Nascido em Santa Cruz do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, Flávio René Kothe (1946) é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP), com livre-docência pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), de Campinas. Fez estágios de pós-doutorado nas universidades de Yale, nos Estados Unidos, Heidelberg, Berlim, Konstanz, Bonn e Frankfurt, na Alemanha. Lecionou também na PUC, de São Paulo, e na Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi professor visitante nas universidades de Rostock, na Alemanha, onde conseguiu refúgio por cinco anos, fugindo da perseguição da ditadura militar brasileira (1964-1985), e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Depois de ter sido eliminado da UnB pelo regime militar, retornou como anistiado em 1994. É pesquisador sênior e professor titular aposentado de Estética. Na Europa, teve como interlocutores alguns dos maiores nomes da Filosofia, da Literatura e de outras Ciências Humanas. Em seu retorno à UnB, trabalhou com as disciplinas de Teoria Literária, Literatura Comparada, Tradução, Narrativa Trivial e Cânone Brasileiro.
Dedica-se, sobretudo, a questões de estética, arte comparada e semiótica da cultura. Atualmente, coordena o Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica e é editor da Revista de Estética e Semiótica, que está no Portal de Periódicos da UnB. Foi presidente da Academia de Letras do Brasil, em Brasília, por três períodos (seis anos), e é editor da revista impressa da instituição, de publicação semestral.
Dono de vasta obra que inclui mais de 50 livros e mais de 600 trabalhos publicados nos gêneros romance, novela, contos, poesia, tradução e ensaios, entre os seus últimos títulos (todos publicados pela Editora Cajuína) estão: Alegoria, aura e fetiche (ensaios, 2023), O herói (ensaios, 2022), Benjamin & Adorno: confrontos (ensaios, 2020), O Cânone Colonial (ensaios, 2020), Literatura e sistemas intersemióticos (ensaios, 2019), Fundamentos da Teoria Literária (ensaios, 2019), Segredos da concha (contos, 2019), Sem deuses mais (poesias, 2019), Casos do acaso (contos, 2018), Rio do Sono (contos, 2023) e Crimes no campus (novela, 2023) .
É tradutor de autores como Walter Benjamin (1892-1940), Theodor Adorno (1903-1969), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl Marx (1818-1883), Paul Celan (1920-1970), Franz Kafka (1883-1924), Heinrich Mann (1871-1950), Patrick Süskind (1949) e outros.
O Cânone Imperial: ensaios, de Flávio R. Kothe, segunda edição revista e ampliada. São Paulo: Editora Cajuína, 620 páginas, R$ 160,00, 2025. Site: www.cajuinaeditora.com.br E-mail: [email protected]
(*) Adelto Gonçalves, jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), é autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), Bocage – o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp, 2021), Tomás Antônio Gonzaga (Imesp/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em terras d´el-Rei na São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os vira-latas da madrugada (Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1981; Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015) e O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo 1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros. Escreveu prefácio para o livro Kenneth Maxwell on Global Trends (Londres, Robbin Laird, editor, 2024), lançado na Inglaterra. E-mail: [email protected]


