Flávio Kothe, a saga dos heróis clássicos e baixos e o “oligarca” Machado de Assis
23 agosto 2025 às 21h00

COMPARTILHAR
Adelto Gonçalves
Até o século XIX, a arte sempre serviu para mostrar como a classe dominante exercia o seu domínio sobre escravos, servos e trabalhadores, incluindo aqui os povos originários que viviam nas terras que seriam colonizadas por invasores europeus. E o herói viveu seu papel em diferentes momentos históricos, mostrando a contradição das forças sociais. É o que expõe o professor Flávio R. Kothe em “O Herói” (Editora Cajuína, 2022), obra escrita há mais de 40 anos, mas que recebeu nova versão, ampliada, com alterações e adendos, na qual mostra que os heróis clássicos são todos da classe alta, tanto o herói épico como o trágico.
Quanto aos heróis baixos, em seu livro, o autor levanta o que havia no Germinal (1885), do francês Émile Zola (1840-1902), mostrando como viviam os operários nas minas de carvão francesas. E observa que isso dialoga com o naturalismo brasileiro, com O cortiço (1890) e O mulato (1881), de Aluísio Azevedo (1857-1913), ideia presente em seu Cânone Imperial (2025). Depois, enfoca o surgimento do pícaro espanhol, o anti-herói clássico, o “Lazarillo de Tormes” (1554), de autor anônimo, que faz parte do núcleo clássico do gênero, que inclui “Guzmán de Alfarache” (1599), de Mateo Alemán (1547-1614), e “El Buscón” (1626), de Francisco de Quevedo (1580-1645).
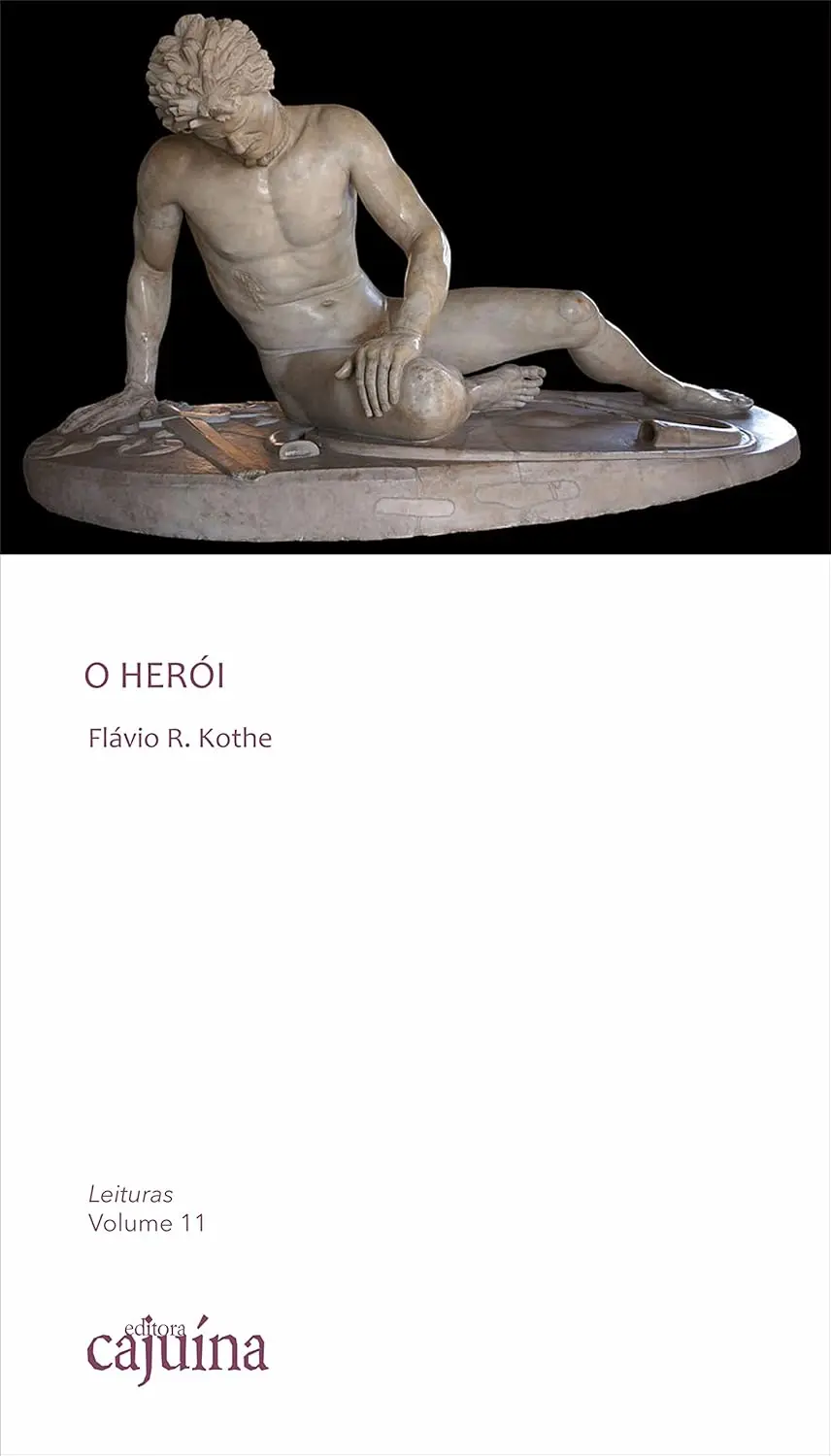
A partir da análise de Arte poética, do filósofo grego Aristóteles (384 a.C-322 a.C), o autor defende que, sob a perspectiva aristocrática, somente nobres poderiam corporificar valores elevados, ser personagens épicos quando acumulam poder e trágicos quando o perdem, ao passo que ridículas seriam as pessoas de extração social baixa com a pretensão de ser elevadas. “Surgiram, na história, diversos líderes que alteraram a história e não eram de origem alta, assim como houve aristocratas que se tornaram ridículos”, observa.
Em outras palavras: os heróis clássicos são heróis da classe alta, que procuram demonstrar a “classe” dessa classe. Como diz o estudioso, “classificar” a tragédia e a epopeia como gêneros maiores e ver nos seus heróis apenas o elevado seria desconhecer uma diferença básica entre o herói épico e o herói trágico, bem como uma dinâmica estrutural que se manifesta nas “grandes obras”.
Machado de Assis: a serviço da oligarquia?
Trazendo essa constatação para a obra de Machado de Assis (1839-1908), apontado como o maior expoente da Literatura Brasileira, Kothe mostra como esse escritor sempre esteve atrelado às classes dominantes, fazendo a sua defesa, embora trouxesse no rosto as marcas da miscigenação. Afinal, os personagens principais de suas obras sempre são quase todos oriundos das camadas altas da sociedade fluminense, enquanto os escravos, “que constituíam a grande maioria da população, estão quase ausentes”, diz o ensaísta, lembrando que, quando aparece um negro em sua obra, é para atuar como um carrasco, “que tem a bondade de se pendurar no enforcado para que morra mais depressa”.

Em outras palavras: ao contrário de Lima Barreto (1881-1922), Machado de Assis teria sido um lambe-botas da oligarquia.
No entanto, o autor reconhece que, se Machado não se inclina a mostrar o socialmente baixo como elevado e, ao contrário, trata de mostrá-lo como cheio de baixezas, conforme se vê em figuras como José Dias e Capitu, personagens do romance “Dom Casmurro” (1899), também não mostra a classe alta como sendo simplesmente elevada: “pelo contrário, é um moralista, que questiona e corrói todas as posturas morais”. E conclui que Machado não seria um autor trivial nem de direita nem de esquerda. Quer dizer, trata-se de uma análise a que poucos críticos têm chegado até aqui, se é que exista algum que já a tenha feito com tamanha agudeza mental e capacidade de discernimento.
Essa perspicácia se vê na análise que faz dos personagens de “Dom Casmurro”, cujo enredo, ao traçar o percurso ascensional de Capitu, quer demonstrar que não é possível confiar nessa gente que vem de baixo. “Ela provém da classe média baixa, sobe na sociedade através do casamento, mas depois é infiel ao marido (não se sabe se para ser mais fiel a si mesma)”, diz. E questiona: “O que o romance não pergunta nem expõe é se houve uma profunda paixão entre ela e Escobar, impedida de ser levada adiante pelo patriarcalismo”.
Diz mais: “O romance se pergunta se Capitu não andou manipulando Bentinho para subir pelo casamento. A família de Bentinho é tradicional da classe dominante, a viver de “rendas” (do trabalho escravo). Por outro lado, Escobar representa a ascendente classe dos comerciantes”. Para o analista, a ligação entre Capitu e Escobar encena a nível de enredo aquilo que ia ocorrendo com a evolução da economia brasileira daquela época: os que viviam de rendas iam sendo substituídos por empresários.
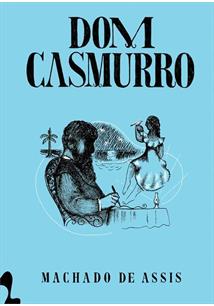
Kothe conclui que o discurso de Bentinho/Dom Casmurro procura rebaixar Capitu, mostrando-a como uma pessoa não-confiável em termos morais, mas acaba centralizando a atenção nela, “fazendo com que fulgure a ambiguidade de sua posição e de seu modo de ser, vislumbrando-se o seu drama interior, drama da própria evolução socioeconômica”. Enfim, depois de uma análise como esta, que vai além da superficialidade que tem marcado a crítica brasileira diante da hegemonia machadiana, por certo, não haverá quem não avalie se não valerá a pena uma releitura de “Dom Casmurro” sob esta ótica.
A hipocrisia da Igreja Católica
Entre os heróis baixos, o ensaísta cita o pícaro como herói trivial às avessas, pois, embora seja um personagem de extração social baixa, não faz a defesa do socialmente baixo; pelo contrário, tende a ridicularizá-lo., rebaixando-o ainda mais. É o caso do Lazarillo de Tormes, que surgiu a uma época em que o capitalismo ainda se implantava. “Ele representa um estágio inicial da “liberdade” do operário em escolher o seu patrão. A mobilidade social do capitalismo é corporificada nessa figura do pícaro”, diz.
O que se pode acrescentar é que essa atitude é plenamente justificável. Como nas sociedades injustas de hoje, a nobreza espanhola ao tempo do pícaro era responsável pelos desníveis sociais que levavam à delinquência urbana e rural. Aos nobres, tudo era permitido: dificilmente, alguém dessa classe social era processado, muito menos punido. A justiça sempre o protegia. A repressão era feita somente contra os não-privilegiados. (No caso brasileiro, contra negros, mestiços, indígenas e brancos pobres.) Com base nessa constatação, pode-se dizer que a picaresca trata da impossibilidade de um homem de baixa extração, condenado pela herança social, vir a ser respeitado.
Por isso, o êxito do Lazarillo dá-se porque concentra suas críticas exatamente sobre duas classes cujo ócio e opulência eram fontes permanentes de insatisfação popular – o clero e a nobreza. E porque também destruía o conceito de honra: de origem humilde e até infame, o Lazarillo assimila truques para escapar da fome e aceita a indecente proposta de seu protetor, o arcipreste de San Salvador, para casar com uma criada dele, sem que o religioso tenha de renunciar aos favores sexuais da mulher.
A esse respeito, Kothe faz questão de ressaltar a importância e imbricação do pícaro com os heróis trágicos e épicos, como uma contrapartida, em que não se eleva socialmente o baixo, mas se rebaixa o pretensamente elevado. Para o autor, no livro, o importante não é rebaixar um determinado bispo, com a ménage a trois em que no fim todos parecem sair ganhando, ou seja, mais importante que uma determinada figura, a obra atinge diretamente uma classe, uma instituição: no caso, a hipocrisia da Igreja Católica, sua supremacia e grandeza, apoiando a monarquia. Não por acaso não se sabe ao certo quem foi o autor do Lazarillo, pois à época havia Inquisição na Espanha.
Em resumo, esta obra serve para ajudar a repensar a literatura, aprender a pensar, pois ensina a decifrar estruturas profundas nas narrativas. Por isso, está muito ligada a outro livro do autor, A narrativa trivial (1994), que igualmente despertou muitos questionamentos no ambiente acadêmico.
Professor da UnB: perseguido pela ditadura
Nascido em Santa Cruz do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, Flávio René Kothe (1946) é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP), com livre-docência pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), de Campinas. Fez estágios de pós-doutorado nas universidades de Yale, nos Estados Unidos, Heidelberg, Berlim, Konstanz, Bonn e Frankfurt, na Alemanha.
Flávio Kothe lecionou também na PUC, de São Paulo, e na Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi professor visitante nas universidades de Rostock, na Alemanha, onde conseguiu refúgio por cinco anos, fugindo da perseguição da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Depois de ter sido afastado da UnB pelo regime militar, retornou como anistiado em 1994. É pesquisador sênior e professor titular aposentado de Estética. Na Europa, teve como interlocutores alguns dos maiores nomes da Filosofia, da Literatura e de outras Ciências Humanas. Em seu retorno à UnB, trabalhou com as disciplinas de Teoria Literária, Literatura Comparada, Tradução, Narrativa Trivial e Cânone Brasileiro.
Dedica-se, sobretudo, a questões de estética, arte comparada e semiótica da cultura. Atualmente, coordena o Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica e é editor da Revista de Estética e Semiótica, que está no Portal de Periódicos da UnB. Foi presidente da Academia de Letras do Brasil, em Brasília, por três períodos (seis anos), e é editor da revista impressa da instituição, de publicação semestral.
Dono de vasta obra que inclui mais de 50 livros e mais de 600 trabalhos publicados nos gêneros romance, novela, contos, poesia, tradução e ensaios, entre os seus últimos títulos (todos publicados pela Editora Cajuína) estão: Alegoria, aura e fetiche (ensaios, 2023), O herói (ensaios, 2022), Benjamin & Adorno: confrontos (ensaios, 2020), O Cânone Colonial (ensaios, 2020), Literatura e sistemas intersemióticos (ensaios, 2019), Fundamentos da Teoria Literária (ensaios, 2019), Cânone Imperial – ensaios (2025); Segredos da concha (contos, 2019), Sem deuses mais (poesias, 2019), Casos do acaso (contos, 2018), Rio do Sono (contos, 2023) e Crimes no campus (novela, 2023) . É tradutor de autores como Walter Benjamin (1892-1940), Theodor Adorno (1903-1969), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl Marx (1818-1883), Paul Celan (1920-1970), Franz Kafka (1883-1924), Heinrich Mann (1871-1950), Patrick Süskind (1949) e outros.
Adelto Gonçalves é crítico literário, jornalista e escritor. É colaborador do Jornal Opção.
Leia mais sobre Flávio Kothe
(https://tinyurl.com/57wfh7hc)


