A busca de transcendência em um conto de Bernardo Élis
16 agosto 2025 às 21h00

COMPARTILHAR
Jô Sampaio
Especial para o Jornal Opção
Em “Noite de São Lourenço”, o célebre escritor goiano Bernardo Élis (1915-1997), membro da Academia Brasileira de Letras, trouxe um texto recheado de várias riquezas narrativas. Neste, como em outros de seus memoráveis contos, Tânatos surge como tema recorrente.
Trata-se de uma narrativa encaixada, que tem por objetivo explicar a letra de uma cantiga ou moda, cuja história é a morte trágica da velha Isabela, numa noite de São Lourenço.
No primeiro parágrafo, surge o apelo de um transeunte que, à semelhança de um flaneur, vagueia com ares contemplativos entre os romeiros que se dirigem à romaria de Nossa Senhora da Abadia do Tabocal, como se vê abaixo:
“Você que está de saída para a Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Tabocal não deixe de ver ali, na porta da igreja que é muito pequena, um cantador famanaz, por nome Chico do Gama, que faz ponto da banda da sombra, se a sombra estiver de cá, ou se estiver da banda de lá. No geral, em roda dele, junta muita gente, que ele é cantor muito recursado, cantando toada triste e toada alegre, toada moderna e de antigamente” (“Caminhos dos Gerais”, Editora Civilização Brasileira, página145).
Vê-se claramente que o enunciado acima citado é de natureza evolutiva ou coercitiva, visa a influenciar o comportamento do destinatário, função denominada de apelo por Burller (Lopes, Edward página 62).
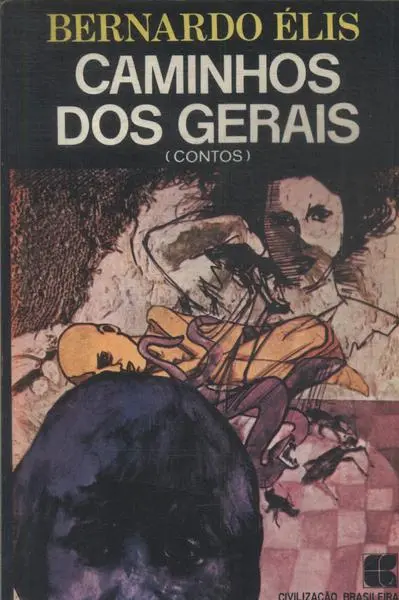
No parágrafo seguinte, com predomínio da função cognitiva ou referencial da comunicação (conforme Roman Jakobson), o flaneur fornece informações sobre o famanaz cantador, detentor da inventiva da música sobre a morte da velha Isabela que “não se sabe se era tia ou mãe do cantador”.
“Não, até que o cantador não é muito velho não, é um homem assim, de meia idade, mas seu conservado, usa uma barba ruça que quase mistura com as toeiras da viola, é homem muito sossegado e acomodado. O senhor pode chegar e pedir com delicadeza para ele fazer o obséquio de cantar a moda de São Lourenço ou a moda da velha Isabela que será atendido…”. Ainda se percebe a natureza evolutiva ou conativa na fala do estranho transeunte.
A morte trágica de Isabela inspirou Chico do Gama a compor a música que a todos prende e desperta intensas emoções, como compaixão e medo. Assim, o conto surge como explicação da cantiga, sendo, pois, uma metalinguagem, um texto explicando outro texto.
Continuando no mesmo tom apelativo, coercitivo, o admirador da moda do Chico do Gama, ainda na introdução do conto, diz aos romeiros:
“Para que o senhor não se atrapalhe, vou lhe recitar o primeiro verso, que é assim:
“Dia de dez de agosto
Dia de toda cotela,
Não se pode fazer fogo,
Inda que seje de vela,
Nesse dia que morreu
A velha dona Isabela”.
A tragicidade do conto tem como pathos a morte de uma idosa, vez que seu relato suscita piedade e pavor, e tal apelo à emoção estabelece profunda conexão com o público, fazendo-o sentir o sofrimento da personagem.
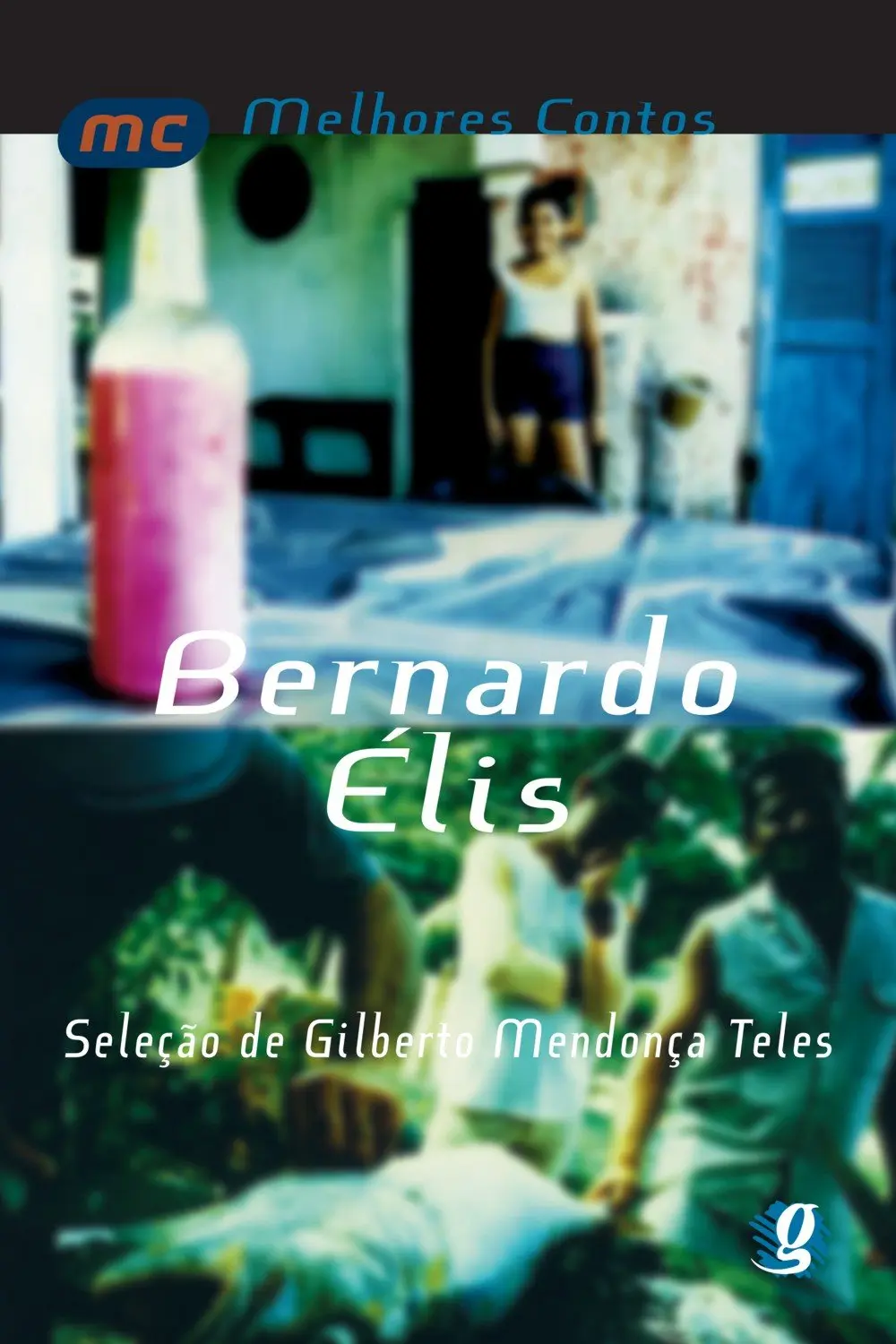
Desde os primórdios da humanidade, o pathos é relevante na literatura e no teatro e sempre usado para evocar respostas emocionais do público. Os exemplos são incontáveis, de Homero, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes aos dias atuais.
Após os versos já destacados, surge um narrador onisciente que, no nível extradiegético, passa a contar, com voz na terceira pessoa, o causo que se assucedeu com a velha Isabela numa noite de São Lourenço, fato este que se tornou o canto da sua cantiga.
“Pois se dá que era a segunda vez que as galinhas do poleiro da grande limeira do oitão da casa, naquela noite, faziam seu quiriri.
No oco da noite a velha percebeu isso e percebeu mais, que era um quiriri diferente de tantos quantos havia ouvido antes, nas suas muitas e muitas noites de insônia ou de não dormir, por esse ou por aquele motivo, em sua vida de si tão pobre de sonhos. Naquela noite, no de repente, sem mais nem menos, as galinhas balbuciavam seu trinado fino, como se fosse a voz que elas usavam em antes de viverem no mundo” (página 146).
O relato, caracterizado pela oralidade, concentra-se em Isabela, muito devota de São Lourenço e, com fixação de ideias na vida desse mártir do cristianismo, cuja morte numa grelha se apresenta como ponto alto das reflexões religiosas da personagem.

“10 de agosto, dia consagrado a São Lourenço, a história desse santo que morreu numa grelha por sobre brasas terríveis numa cidade muito distante daquela casona batida pelos ventos” (página 150).
A velha tem acesa uma lamparina de azeite que deita uma chama clara como as brasas que assaram o santo na grelha medonha, numa cidade medonha que se chamava Roma e ficava muito longe da romaria de Nossa Senhora da Abadia do Tabocal” (página 148).
Como se vê, a história do Santo mártir está presente na vida de Isabela (do nascimento à morte) e na devoção e nos preceitos míticos de toda a população do vilarejo, fato que leva a narrativa do conto a se desenvolver mediante dois níveis: o superior atuando como espelho do inferior. A história apresenta, portanto, um espelhamento, técnica de autorrefração em que um nível narrativo inferior (a vida de São Lourenço) espelha ou reitera elementos do nível superior (a história da velha Isabela).
A Literatura está cheia desse recurso, tanto na forma quanto no conteúdo. Muitos são os contos de Guimarães Rosa em que se evidencia a técnica do espelhamento, como “Luas de Mel”, “O Espelho”, “Nenhum-Nenhuma”, “Um moço muito branco”, além de outros.
Outro fator de grande importância no conto é a colcha de retalhos, objeto de forte carga de simbologia, evidenciando elementos que estabelecem conexão de Isabela com o passado, com eventos sociais, com pessoas de suas relações, com a natureza, enfim, os retalhos da colcha apresentam paralelos contrastantes como sonhos, frustrações, aspirações, alegrias e dores, metaforizando, portanto, a vida da personagem. A colcha pode, então, ser entendida como mais uma estratégia de espelhamento da vida da pobre idosa.
“Vida em si pobre de sonhos” (página 146).
“A velha costurava os marroxos para fazer sua eterna colcha de retalhos” (página 146).
“À luz do candeeiro de azeite, cosendo aquela colcha. Ela não ia deitar porque precisava terminar a colcha que principiou a fazer fazia muitos e muitos anos. Por que seria que a colcha não rendia, que tinha sempre uma coisa atrapalhando?” (página 147).
“Como estava suja, como estava encardida de tanto rolar para aqui e para ali” (página 147).
Da costura dos marroxos (os retalhos sendo cortados em tamanhos apropriados, fiapos aparados e chuleados) ao aspecto de sujeira e encardimento capta-se um dos aspectos demarcadores do tempo na vida de Isabela, “tão pobre em si”.
“Por que seria que a colcha não rendia, que tinha sempre uma coisa atrapalhando terminá-la? Até dizem que colcha de retalho a gente não deve nunca acabar, porque no dia que a gente acaba uma colcha de retalhos ela também acaba com a gente”.
Tomando-se a colcha de retalhos como representação metafórica da vida de Isabela, este todo (a colcha) se fragmenta em partes, cujos componentes (os marroxos ou retalhos) assumem valores metonímicos, por meio dos quais o leitor vai adquirindo conhecimentos do passado da personagem.
“Este retalho aqui, não se enganava, foi o vestido que fez para o casamento de uma sua amiga… Tanto tempo… Aquele outro retalho era já de outro vestido para o casamento da filha da amiga. E aquele vermelho estampado que fora do vestido de uma dona muito soberba que apareceu por ali e botou os homens de cabeça virada justamente numa quadra da Romaria de Nossa Senhora da Abadia, festa que estava vesprando, pois que aquele dia era dia de São Lourenço” (página148).
Isabela, sob a luz da candeia de azeite, olha para a colcha de retalho como quem assiste a um filme em Mise en abyme. Nessa peça (a história de sua vida em alta definição), outras histórias vão surgindo, criando novamente o efeito do espelhamento. A colcha, obra de arte da personagem, a leva a reflexões sobre a confecção e a importância desse objeto na composição de sua própria vida. Assim, Isabela vai cosendo os marroxos e pensando, recordando, refletindo sobre variados temas: A vida das pessoas de cujas roupas saíram os retalhos, o rumo da sua própria realidade “tão pobre em si”, o casarão em que o pai, que a rejeitara, morava com sua esposa soberba, o monjolo em que ela (Isabela) morava com sua mãe (fraquinha e entrevada), a morte de sua filhinha, um anjinho que começou arroxeando as pontas dos dedos até o corpinho todo ficar roxo, o Zureta e suas visagens.
O narrador, com sua onisciência, tudo sabe sobre a vida da personagem. Fatos do seu passado vêm à narrativa mediante lembranças, recordações e pensamentos em discurso indireto. Até as mágoas, sentimentos e desejos de Isabela chegam ao leitor, devido ao mergulho do narrador no inconsciente da velha. Isabela se autorretrata trabalhando em sua colcha, como fez Diego Velásquez em uma de suas pinturas. Assim surge tudo, inclusive Zureta e sua visage: “A visagem que Zureta dizia que viu numa noite de lua cheia”.
“Zureta, um homem alvo, muito risão, que vivia de não fazer nada dessa vida, que pegava a contar um caso muito bonito, mas de repente parecia que esquecia e mudava a história para outro rumo e se a gente perguntasse porque não continua, Zureta, ele ria, ria, e saía cantando uma cantiga também que era uma beleza, mas no sufragante já esquecia e […]” (página 147).
A imagem vista por Zureta, parte das lembranças de Isabela, muito lhe causara medo. Com o tempo, tal medo se transformou em incontido desejo de, também ela, ver a Virgem da visagem no alto da cumeeira. Vê-se nesse desejo a marca do transcendental, da relação entre Divino e humano, o imanente e o transcendente. Ao fogo que queimou São Lourenço (parte do mundo real) atrela-se a “visagi” que está além da realidade física, como a ideia de Deus.
Zureta nos remete levemente ao personagem de “Um moço muito branco”, de Guimarães Rosa, em ambos predomina o branco, a cor da transfiguração, segundo a Teofonia. Considerando-se a visão mítica de Isabela, em que a religiosidade se apresenta com fortes traços em sua formação, talvez a cumeeira se afigure ao Monte Tabor, local onde se deu a Transfiguração de Jesus, segundo relatos dos evangelistas bíblicos.
É uma narrativa em abismo. O caos interior de Isabela se manifesta, também, no espaço. A natureza está revolta, ameaçando destruir tudo, inclusive a casa da personagem.
“O vento esmurrava e sacudia as paredes como se fosse alma do outro mundo ou coisa ruim.”
“A candeia de azeite treme e se agita. O capeta está solto, botando fogo nas coivaras nesta noite de São Lourenço.”
“O silêncio era redondo e profundo no lugarejo calmo e morto.”
“O rio minguava, diminuía.”
“Sobretudo pairava o resmungo da cachoeira, o ronco das águas crescia.”
“[…] a cachoeira estava forte em demasia, certamente obra do tinhoso solto naquela noite de agouro e de fantasmas.”
“O silêncio era redondo”. Com essa hipálage, percebe-se que o cerco se fechou totalmente para Isabela. Não há ponto de saída nesse círculo que a aprisiona. É o vazio total para a velha, à qual nenhuma atitude estoica lhe acena mais. Para que continuar presa se do alto da cumeeira a “visagi” de Zureta poderia arrebatá-la?
Hoje, ela está sozinha naquela casona, e as galinhas estão prestes a fazer o terceiro quiriri.
“Mas hoje não seria assim. Agora ela estava velha e o que tinha de ser Já tinha sido. Até a colcha de retalhos que vinha costurando fazia tantos e tantos anos, até essa velha colcha agora chegava ao fim e ela arrematava a costura, no último demão. Ah, hoje, se as galinhas voltassem a fazer seu quiriri pela terceira vez, nada a seguraria, nada a poderia deter. Jurava ali por Nossa Senhora da Abadia ou por São Lourenço, que morreu numa grelha por sobre brasas terríveis, numa cidade muito distante daquela casona batida pelos ventos. O silêncio era redondo” (p. 150).
As ações verbais no futuro do pretérito do subjuntivo indicam as pretensões da personagem enquanto aguardava o terceiro quiriri das galinhas. Tudo estava preparado, tudo poderia, pois, ser consumado.
Isabela sabia que não podia acender a lamparina, mas ela acendeu.
Sabia que não podia terminar a colcha, “porque se a gente acabar uma colcha, ela acaba com a gente”, ainda assim, deu o último demão.
Sabia, também, que não se pode mexer na “tramela” da porta, mas ela iria abrir a porta.
A narrativa volta ao seu início e assim termina: “Neste ponto, você poderá entender por inteiro a moda do Chico do Gama, que continua sua cantiga e agora está cantando”.
A narrativa tem, portanto, final aberto, cabendo à cantiga do famanaz cantador a continuidade e a explicação do que aconteceu à personagem Isabela, naquela noite, depois do terceiro quiriri das galinhas.
Como epílogo, vem a letra completa da cantiga, língua-objeto que deu motivo a esse conto.
Isabela, na sabedoria dos simples e no fervor da fé, sabia que “o corpo é o cárcere da alma” (Platão) e que “o homem é um ser para a morte” (Heidegger). Sua fundamentação religiosa a fizera devota de São Lourenço que, morto na grelha, obteve a transcendência, superou os limites do corpo e foi santificado. Ela, também, ciente da imortalidade da alma, poderia, sim, ser arrebatada e elevada ao Alto pela Virgem da visagem de Zureta que, talvez, a esperasse do alto da cumeeira.
Isabela compõe a galeria de muitos outros personagens (já bastante analisados por diferentes estudiosos) de Bernardo Élis, integrando o painel de pessoas humildes, alijadas do progresso e dos serviços públicos. Tipos humanos que rastejam pelos cafundós de um sertão inóspito, carregando em suas pesadas arcas fortes cargas de sofrimento, de desprezo, de crendices, de devoções místicas, de integração ao primitivismo dos animais e da natureza e, ainda assim, exemplos de vidas plenas de honra e de amor.
Finalizando, percebe-se que há necessidade de muita “cotela” na leitura do conto “Noite de São Lourenço”. Como há considerável distância entre o tempo da narrativa e o tempo da história, os fatos da vida de Isabela que compõem a tessitura do texto entram, na diegese, como episódios organizados e apresentados, às vezes, sem pistas claras sobre suas respectivas ordem e duração, por serem flashes dos pensamentos, sentimentos e emoções da personagem.
Os enunciados “naquela noite” e “o quiriri das galinhas”, assim como os dêiticos (essa, esta, naquela, hoje, naquele tempo, isto) nem sempre se referem a instâncias iguais no momento da fala, vezes há em que o contexto das enunciações não é o mesmo.
O conto é riquíssimo, pródigo em conteúdos que permitem análises sob diferentes abordagens.
Jô Sampaio, mestre em Literatura e Crítica Literária, membro da UBE-GO, do Icebe e da Academia Goianiense de Letras, é colaboradora do Jornal Opção.


