A Alma da Marionete, do filósofo John Gray: o voo neorromântico do pessimismo
09 agosto 2025 às 21h00

COMPARTILHAR
Álvaro Cesar Cavalcante Silva
Especial para o Jornal Opção
“Condemnation
Why?
Because my duty
Was Always to beauty
And that was my crime”
(“Condemnation”, Depeche Mode, 1993)
O autoritarismo, a opressão, a arrogância e a violência são os fios utilizados na tessitura da história da humanidade. Infelizmente, a bondade, o amor, a amizade e a caridade enredam mera filigrana.
Considerando que muito provavelmente somos os únicos que executam esse irresistível impulso registrador, talvez essa seja a narrativa da eternidade.
Os tempos passados são pródigos em malhas sintetizadas com tais elementos, no que fica importante apontar: a responsabilidade por este vau terreno, úmido de lágrimas, recai em quem? E pior: há como escapar dessa dimensão dolorosa?
O-Que-Quer-Que-Você-Queira-Chamar, afinal de contas, após dar o piparote primordial, encontra-se muito distante de nós. Sorte d’Ele: quem não gostaria de viver nos recônditos do universo, iluminado por uma Glória que é só sua?
A pergunta persiste, ao passo que o filamento se torna cada vez mais retorcido nas mãos metálicas dos novos narradores das crônicas de carne e osso. A culpa é nossa; mais especificamente, da nossa liberdade.
Existe um grande desconforto embutido no trato do âmago daquilo que é humano, uma vez que os desdobramentos da violência e do egoísmo, vale mencionar, são postos pela mão humana no mapa do mundo. Esse desconforto é apurado na obra “A alma da Marionete — Um Breve Ensaio Sobre a Liberdade Humana” (Record, 126 páginas, tradução de Clovis Marques), do filósofo inglês John Gray.
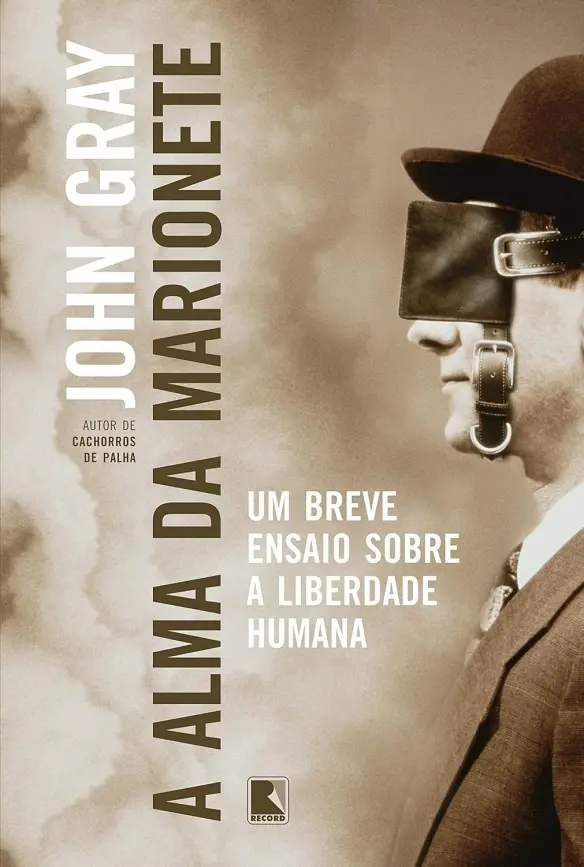
A humanidade e seus fantasmas
O livro elenca vários cenários, todos eles vinculados à espinha dorsal do texto: a eterna tentativa empreendida pela humanidade de lidar com os seus próprios fantasmas, mas que paradoxalmente retornam para atormentá-la.
Essas medidas que permutam inúmeras formas, da empreitada científica de criação de um novo homem até a criação de grandes narrativas salvíficas, malgrado a pretensão de purgar as zonas de penumbra que habitam a própria ontologia humana, tecem novos tormentos embalados ao sono leve das marionetes de fígado e rins.
Essas aflições, de acordo com John Gray, são inescapáveis, pois integram a própria dimensão humana. Ao tentar exterminar esses pecados originais, o resultado é ainda pior: a prática desse remover provoca paradoxalmente a desumanização daquilo que se pode chamar como gente.
Tal pretensão é o alimento passado, presente e futuro dos extremos da tão combalida esfera política, que de modo bulímico mastiga o populacho em prol dos grandes homens e dos seus ideais magnânimos.
A contemporaneidade, que se traveste de vácuo, ao adotar o irrefreável progresso como uma narrativa ubíqua, insemina uma série de novos fetiches, manejados por pensamentos mágicos: ações e credos humanos que, ao ocupar a zona de penumbra entre a brutalidade do real e o lenitivo proporcionado pelo místico, se afiguram mais como religiões que a ausência destas.
Gray assevera que a adoção de credos fiados numa infalível filosofia do progresso pressupõe o endereçamento da agonia existencial que acossa a humanidade. Essa crença ocupa o espaço deixado pelo afastamento atual das religiões, no que dá azo a politizações de narrativas que, ao fim e ao cabo, pretendem sanar o horror metafísico pela via da salvação.
Essas tentativas enlevadas de superar o humano — ser “mais humano que o humano”, nos termos da inofensiva e divertida bobagem encapsulada em música pelo White Zombie —, rezas efetuadas em altares estranhos, inumanos, sempre exigiram uma espécie de homo novus, e essa negação da dimensão obscura própria das células, dos tecidos e dos tendões inevitavelmente geraram, nas palavras do profeta Jeremias, terras arrasadas pelas pestes, armas e fome.
Essa vontade imperfeita de perfeição, inspirada pela secularização de narrativas claramente religiosas, canaliza o “sentimento oceânico” do modo mais pernicioso possível, promovendo a imanetização do escaton: uma espécie de trazer-para-si de cunho místico, incompatível com qualquer corrupção terrena, pois pertencente a um plano que só pode ser integrado com o concreto na perspectiva de um espaço em que desabrocha uma rotura no tempo e no espaço — religioso, pois —, que pretende inscrever na concretude algo que é impossível em termos, isto é, a transformação desta trilha salgada em um paraíso.
Não é de modo despropositado que Gray estabelece paralelos entre um método de possivelmente salvar a humanidade — a ciência — e o gnosticismo: o primeiro, no seu paroxismo, intende conciliar com o Transcendente as centelhas divinas que encontram morada nas confusas máquinas orgânicas, pois o exercício de conhecimentos altamente restritos e quiçá herméticos promove o estreitamento entre a vã matéria e o Divino, de modo que a salvação é, assim, encontrada.
Retomando o que foi dito, desse movimento, em traição ao humano, resultam as mais diversas utopias, assassinas do próprio útero que as expeliu, pois negadoras da humanidade.
Esses movimentos contemporaneamente se articulam a partir de uma dimensão política; esse campo domina o social a partir de narrativas utópicas condensadas, mas dotadas de ampla capilaridade. Assim, às pessoas é vendido um estado de reconstrução permanente e possível, municiado por esses mesmos artifícios, mas sem que se pondere a respeito do preço das tentativas.
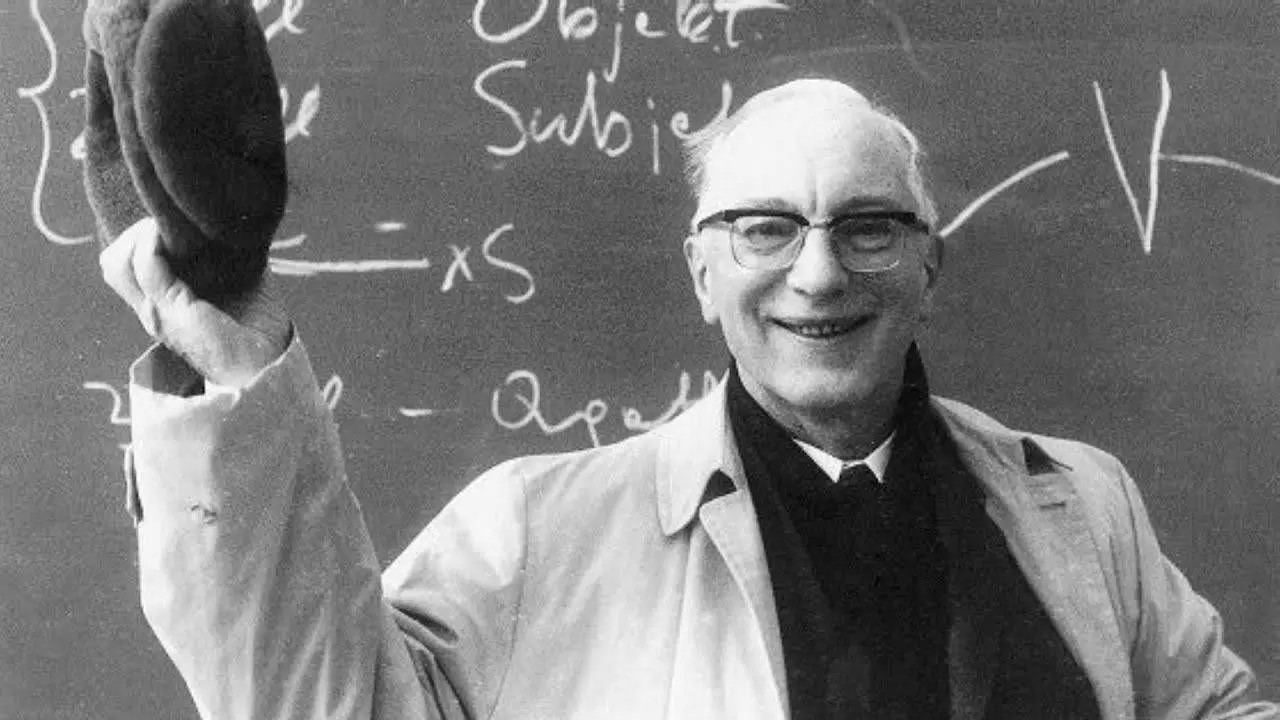
Importante recordar a lição oferecida, mas sempre ignorada, pelo filósofo Eric Voegelin: toda sorte de movimentos modernos são variantes seculares de uma mentalidade gnóstica, isto é, prometem redenção pelo caminho do conhecimento e da ação política. Assim, o mal pode ser abolido deste mundo, pois a história, sob a orientação da ciência, razão e/ou revolução, sempre se dirige para o bem, caso seja adotada a solução proposta.
Nem é preciso dizer que a busca implacável por essa miragem se degenera em autoritarismo do grau mais severo, pois os movimentos que pretendem trazer para o mundo imanente o que deveria ser objeto de esperança transcendente, no culminar de tudo, legitimam qualquer meio para tanto. A política torna-se religião, um artigo de fé.
De todo modo, não se trata de um construir espontâneo, mas conforme discursos que, na balbúrdia da aceleração cada vez maior de palavras e imagens que habitam a imaginação dos povos, deixam seus pretensos manipuladores de joelhos: ao mesmo tempo que esses elementos fazem a cabeça dos indivíduos, sequer há tempo suficiente para pensar. Persiste precisamente a dor do pensar.
Essa impermeabilidade constante, essa absorção tosca, ameaça a vida interior da humanidade, tornando-a desprovida do menor senso de preservação, pois a cada promessa de redenção terrena se esconde o esgar dos inúmeros titereiros que movem as cordas que impedem que as pessoas se direcionem ao concreto.
Portanto, é adequado dizer que, na contemporaneidade, o exercício da cautela, quiçá do pessimismo, é um ato de sobriedade. Se existe uma indelével marca da utopia em nós — talvez uma saudade de retornar ao início de tudo, assumir o ânimo de um demiurgo —, faz-se indispensável que tenhamos os dois pés no chão.

Nesse sentido, discordo totalmente da resenha da lavra do onipresente britânico Terry Eagleton, pois John Gray não é um imobilista estraga-prazeres, vez que desempenha um papel muito ingrato: o da coruja de um entardecer que nunca cessa, e nunca cessará.
Ao fim de tudo, cabe às pessoas um giro estético. Um modo de pensar, de depurar, de tratar o mundo que concomitantemente é o mesmo, mas se assoma novo todo dia. Afinal, a possibilidade de pensar com olhos límpidos, desenganado de quaisquer sonhos dourados passíveis de embeber o concreto da realidade, e produzir algo, próprio e autoral, talvez seja o epítome da rebeldia corrente.
Parar e pensar; capitalizar o silêncio. É para isso que, no fundo, Gray nos convida: se somos fadados a conviver com nossos próprios problemas, que possamos compartilhar a casa da melhor forma possível, mas de modo meditativo e próprio, para que se reclame de volta a humanidade enquanto qualidade.
Os homens foram feitos para flanarem em uma longa noite barulhenta, buscando uma luz que não se apaga: essa é a inspiração que naturalmente surge do exercício do meditativo. Em busca de redenção, bilhões de mariposas transmutam esteticamente as suas dores, sublimando aquilo que lhe é mais particular.
No entanto, por força dos seus próprios sacerdotes, serão abatidos e substituídos por inteligências anódinas, de androide. Seremos observados, mas não sem fremente desejo de retomar a força do natural, por máquinas definitivamente graciosas, mas sem qualquer traço emocional, ao revés das pessoas de metal idealizadas por Richard Brautigan.
Álvaro Cesar Cavalcante Silva, advogado, é colaborador do Jornal Opção.


