Repórter dos esquecidos, Gay Talese é mestre em dotar anônimos de visibilidade ao firmar suas histórias
16 agosto 2025 às 21h00
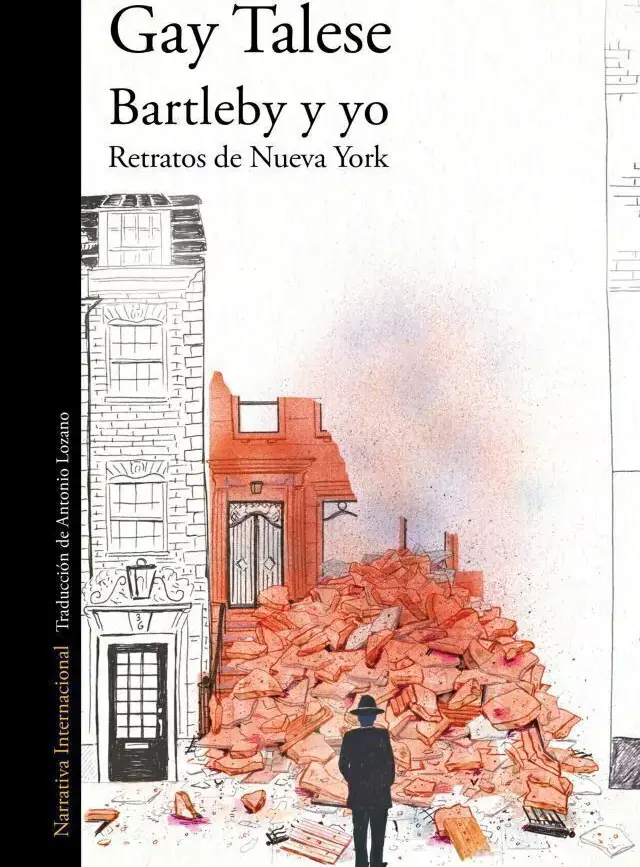
COMPARTILHAR
“Sempre que quero tomar notas privadamente, com a intenção de não revelar minha condição de repórter, o que com frequência altera a relação entre o observador e o observado, me retiro para lugares como os lavabos e com frequência entro num cubículo.” — Gay Talese, edição espanhola de “Bartleby y Yo”, página 108
Os Estados Unidos se tornaram país em 1776, há quase 250 anos. Trata-se de uma nação nova. Ainda assim, por ter se tornado potência dominante em dois séculos, o 20 e o 21, arrogam-se ter inventado quase tudo. Certo, inventaram muita coisa, dada sua alta capacidade tecnológica, mas não todas as coisas.
O Novo Jornalismo, os livros consagram, é uma invenção americana — de jornalistas e escritores do nível de Lillian Ross, Truman Capote, Tom Wolfe, Joseph Mitchell, Joan Didion, Gay Talese e tantos outros. Os criadores e os seguidores do que se convencionou chamar de “jornalismo literário” produziram reportagens, artigos e livros de primeira linha.
“Filme”, de Lillian Ross, “A Sangue Frio”, de Truman Capote, “Radical Chique e o Novo Jornalismo”, de Tom Wolfe, “O Segredo de Joe Gould”, de Joseph Mitchell, e “Fama & Anonimato” (Companhia das Letras, 536 páginas, tradução de Luciano Vieira Machado), de Gay Talese, são livros excepcionais e devem ser lidos por todo jornalista que aprecia a arte de escrever bem, ou seja, do uso da imaginação literária para reinventar o jornalismo vívido, com alma.

Gay Talese integra o time acima? Sim. Mas difere, em algumas questões, dos pares que escreveram, como ele, no jornal secular “New York Times” e na prestigiosa revista “New Yorker”.
Autor de “Honra Teu Pai” (Companhia das Letras, 512 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen), sobre a máfia americana, Gay Talese escreve muito bem, com uma imaginação poderosa, mas não é dado às firulas literárias de, entre outros, Truman Capote e Tom Wolfe.
Sua precisão jornalística, para além da recriação de cenas, porém não de fatos, foi comprovada, durante anos, pelo rigoroso sistema de checagem do “Times” e, sobretudo, da “New Yorker”.
Havia, e persiste havendo, boa escrita nas reportagens de Gay Talese, mas não invenção literária. Ou melhor, recorre-se ao literário, mas não à invenção de fatos. O repórter apura com alta fidelidade.
Há outra questão que distingue Gay Talese de alguns de seus pares do dito jornalismo literário. O jornalista de 93 anos, que começou como “garoto de recados” do “Times”, não aprecia perfilar pessoas poderosas. Prefere personagens anônimos, às vezes outsiders, digamos. Os Bartlebys estão sempre na sua mira.
Quando veio ao Brasil, há alguns anos, Gay Talese entusiasmou-se com a cantora Simone, hoje com 75 anos. Por que não se interessou por Caetano Veloso e Gilberto Gil? Porque já foram divulgados de maneira o mais ampla possível.
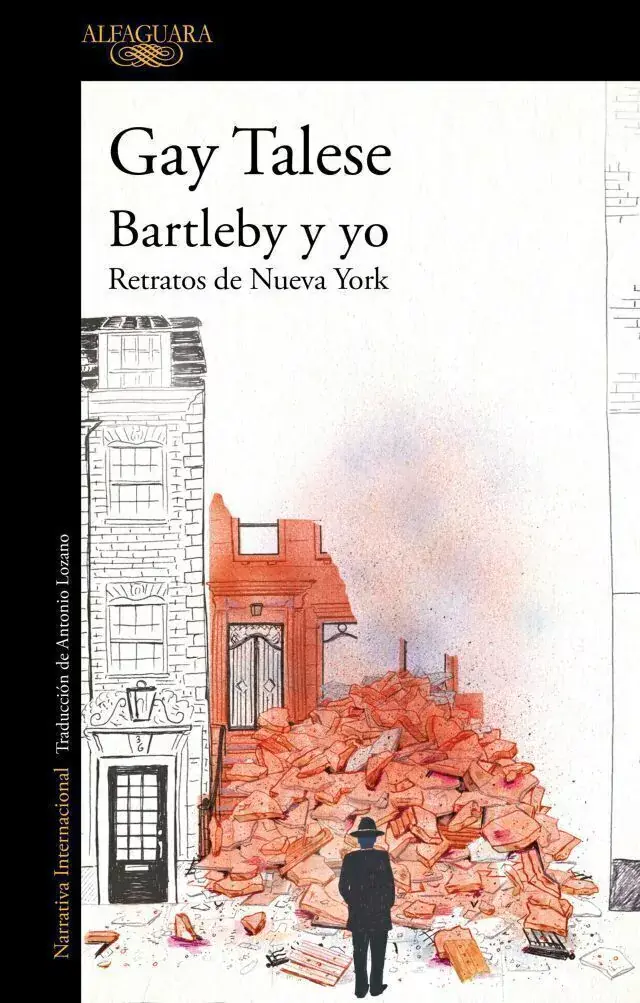
Simone é famosa, mas não pertence ao mainstream capitaneado por Caetano, Gil, Chico Buarque e Maria Bethânia (acredito que também seria do interesse do americano), entre outros. Por que o interesse pela cantora baiana? Primeiro, por certo, pela bela voz. Segundo, pelo arrojo existencial. É homossexual e, mesmo sob pressão de uma sociedade conservadora, não esconde sua diversidade.
A “recuperação” dos Bartlebys pelo jornalismo
A Companhia das Letras publicou vários livros de Gay Talese. Além dos dois citados acima, há outros de excepcional qualidade: “O Reino e o Poder” (560 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), sobre a história do “New York Times”, “Vida de Escritor” (512 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen) e planeja lançar, em setembro, “Bartleby e Eu” (336 páginas, tradução de Laura Teixeira Motta).
O título original é apenas “Bartleby e Eu”, mas a Companhia das Letras, decerto para chamar a atenção dos leitores, o que é lícito, acrescentou, por conta própria, um longo subtítulo: “Pelas Ruas de Nova York, um Mestre da Reportagem Narra a Ascensão e a Queda do Sonho Americano”.
Não há dúvida de que o subtítulo “engrandece” o parcimonioso título. Porém, se eu fosse editor da Companhia das Letras, faria um leve corte, excluindo “um Mestre da Reportagem Narra a Ascensão e a Queda do Sonho Americano”.
Porque, longe de se colocar como sociólogo, Gay Talese não está muito preocupado em relatar a “ascensão e a queda do sonho americano”. Fora o cantor Frank Sinatra, os “personagens” de “Bartleby e Eu” são figuras anônimas, com nenhum ou escasso poder. Suas histórias não são grandiosas — grandiosa, se se poder dizer assim, é a maneira do jornalista narrá-las.
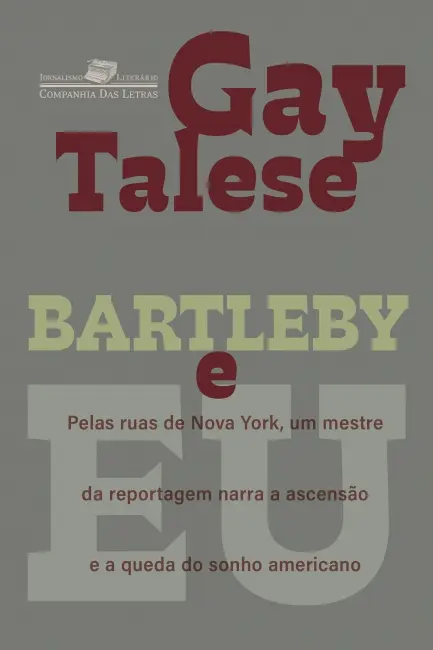
Na busca de mulheres e homens e simples, às vezes invisíveis, Gay Talese não tem a pretensão de explicar, de maneira sociológica, “a ascensão e a queda do sonho americano”. E será possível sugerir, mesmo sob a Presidência de Donald Trump, a queda do sonho americano? Talvez não. Talvez ainda não.
A tradução em espanhol, feita por Antonio Lozano para a Alfaguara (334 páginas), acrescentou um subtítulo menor e preciso: “Bartleby y Yo — Retratos de Nueva York”. Em inglês prevalece a contenção de Gay Talese: “Bartleby and Me”.
“Bartleby, o Escrivão” é um romance do americano Herman Melville (1819-1891). Há uma excelente edição da Antofágica, com tradução precisa de Antonio Xerxenesky e textos elucidativos.
O escrivão Bartleby trabalha, de maneira conscienciosa, num cartório. Porém, a partir de certo dia, ao ser convocado pelo chefe para uma tarefa, disse: “Prefiro não”.
Agastado, o chefe o afastou do escritório e, adiante, Bartleby acaba preso. Na cadeia, se recusa a comer. Sempre dizia: “Prefiro não”.
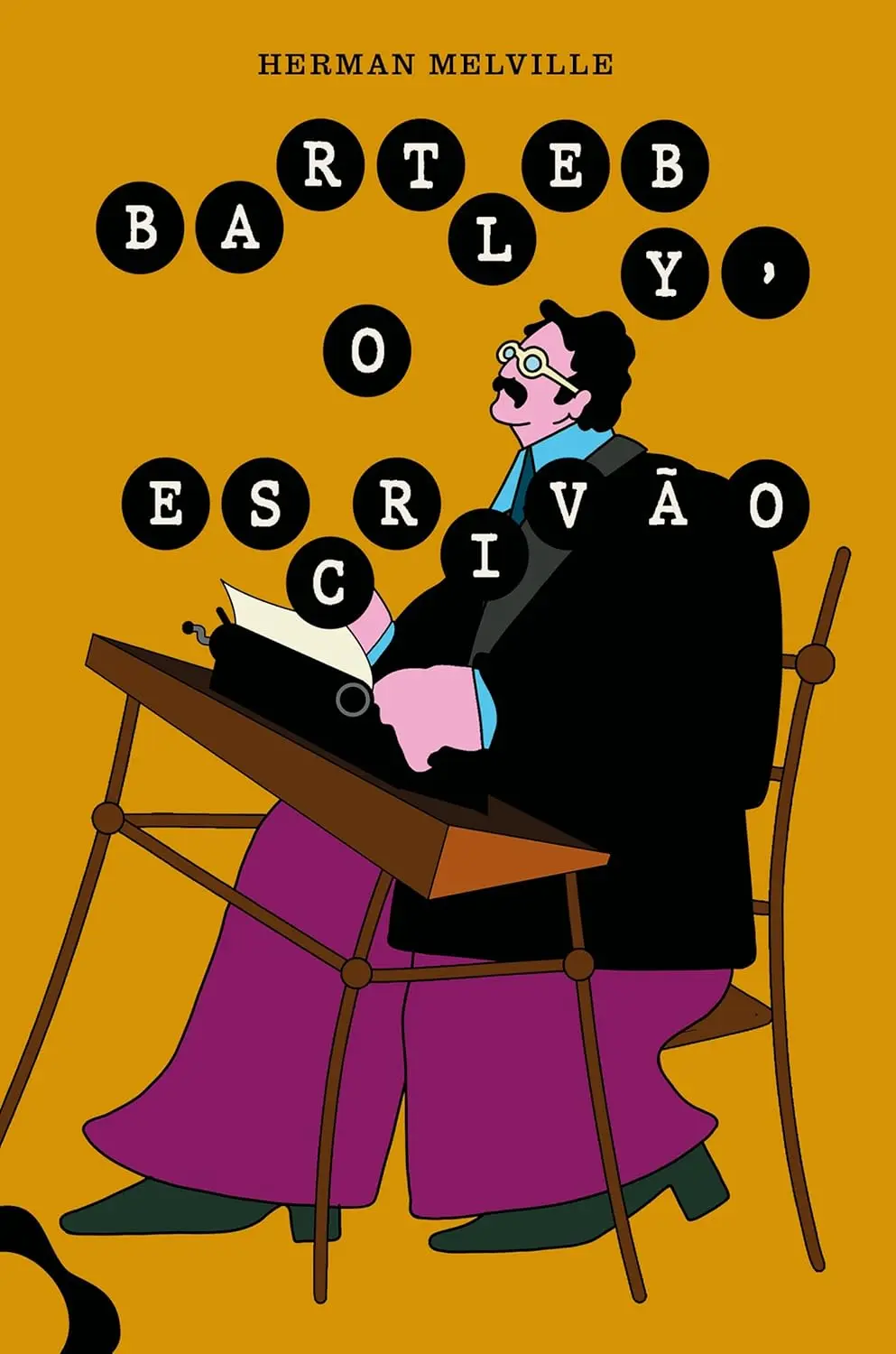
Bartleby disse um rotundo “não” à sociedade de seu tempo. Recusou-se a integrá-la por meio do trabalho.
Personagens do livro de Gay Talese — e o próprio autor — tem um quê de Bartleby. Alguns foram deixados para trás pelo “progréssio”, como diz a música de Adoniran Barbosa.
Gay Talese é especialista em reportar a vida de anônimos. É o repórter dos esquecidos, dos que foram deixados para trás. Sua “literatura” — jornalística — recupera, por assim dizer, a história dos Bartlebys de vários tempos, notadamente dos séculos 20 e 21.
No primeiro capítulo do livro, Gay Talese escreve: “Como leitor sempre me senti atraído pelos escritores de ficção, os capazes de fazer gente comum parecer extraordinária. Os que criavam alguém memorável a partir de um ninguém” (pensei em traduzir como “Zé Ninguém”).
No capítulo 5, Gay Talese lembra um veterano repórter do “New York Times”, que lhe disse: “Jovem, jamais entreviste ninguém por telefone, se puder evitá-lo”.
O jornalista disse a Gay Talese que “o telefone era um instrumento inadequado para entrevistar as pessoas porque, entre outras coisas, o repórter aprende muito observando o rosto e as maneiras de um indivíduo”. Além disso, o ambiente do entrevistado ajuda a formatar uma ideia do que ele é. “Os indivíduos estão mais dispostos a contar coisas a respeito de si mesmos se abordados frente a frente.”
Durante a quase guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, na primeira metade da década de 1960 — porque os comunistas instalaram mísseis em Cuba —, mesmo preocupado com o assunto, Gay Talese optou por conversar com os pacifistas amish.
Os amish era vistos como pessoas do passado, convivendo num mundo que não queriam compreender e, sobretudo, do qual queriam — e conseguiam, no mais das vezes — se excluir.
Nas primeiras conversas, Gay Talese percebeu que os amish não estavam minimamente preocupados com a guerra dos poderosos — e nem viam televisão. O presidente americano John F. Kennedy e o secretário-geral soviético Nikita Kruchev não estavam no radar deles.
Os que os amish queriam era, isto sim, paz. Ao menos para si, para sua comunidade.
Observando atentamente os amish, como se comportavam e o que diziam, Gay Talese comportou-se, não como jornalista sensacionalista, que busca o exótico a fim de criar uma manchete explosiva.
“Minha primeira impressão não foi a de encontrar-me na companhia de gente obsoleta ou excêntrica, e sim, muito mais, de um grupo único de americanos religiosos de pele branca que haviam se tornado uma minoria por escolha própria”, diz Gay Talese, mostrando que, no seu trabalho, às vezes age como antropólogo.
Busca pela atriz do cinema mudo Nita Naldi
Uma das boas histórias de “Bartleby e Eu” é sobre a atriz do cinema mudo Nita Naldi.
Ainda como “chico de recados”, Gay Talese propôs escrever uma história sobre Nita Naldi para “The New York Times Magazine”, que saía aos domingos. O editor aprovou o plano da reportagem.

“Durante os anos 1920”, Nita Naldi “havia sido uma das partners mais destacadas do ídolo cinematográfico Rodolfo Valentino”.
Antes de se consagrar no cinema mudo, Nita Naldi havia sido “atriz de vaudeville e garota de coro. Havia tido um papel exótico no filme ‘Dr. Jekyll e Mr. Hyde’, produzido pela Paramount na década de 1920. John Barrymore encabeçava a distribuição e havia descoberto Naldi depois de vê-la dançar”.
Pouco depois, Nita Naldi desapareceu de cena, ao menos em termos de destaque e sucesso. Em 1954, Carol Channing foi escalada para representá-la no musical “The Vampy”.
Atento à história de Nita Naldi, e não ao musical, Gay Talese leu a coluna de teatro de um tabloide e notou que a atriz vivia, reclusa, num pequeno hotel.
Na área da Broadway havia cerca de 300 hotéis. Então, Nita Naldi era uma agulha num palheiro. Não para o paciente Gay Talese.
O repórter consultou as páginas amarelas do “New York Times” e anotou os telefones de vários hotéis. “Liguei para uns 80 hotéis durante quatro dias.” Num primeiro momento, não conseguiu localizá-la.

Então, ligou para o Hotel Wentworth. “Para meu assombro, a voz áspera do recepcionista me disse: ‘Sim, está aqui. Quem quer falar com ela?’. Desliguei. Não queria falar com Nita Naldi por telefone.”
No dia seguinte, das proximidades do Hotel Wentworth, Gay Talese ligou: “Boa tarde, senhora Naldi. Sou um jovem assistente no ‘New York Times’ e gostaria de falar com você por alguns minutos acerca da possibilidade de escrever uma reportagem [a tradução espanhola menciona “artigo”] a seu respeito”.
“Como ficou sabendo onde vivo?”, perguntou a atriz. “Telefonei para vários hotéis da Broadway.”
“Deve ter custado um dinheirão. De todo modo, não disponho de muito tempo”, disse Nita Naldi.
Gay Talese pediu para ir ao seu quarto e Nita Naldi exigiu um tempo para se arrumar.
Ao recebê-lo, Nita Naldi sorriu. “Era bastante alta e esplêndida.” O repórter a descreve, assim como sua roupa. “Seus gestos se revelaram exagerados, como deveriam ser nos tempos do cinema mudo.”

Os companheiros de quarto da atriz eram quatro papagaios, que, presos em gaiolas, não falavam.
Nita Naldi começou sua carreira artística como bailarina da companhia Ziegfeld Follies, em 1919, e se tornou coprotagonista no filme “Sangue e Areia”, com Rodolfo Valentino, em 1922. Era o estrelato.
Na conversa com Gay Talese, Nita Naldi não se mostrou constrangida ao falar de sua decadência artística. “Admitiu que seu último filme com Valentino, ‘Cobra’, de 1925, havia sido um fracasso. Assim como foi o filme seguinte, ‘A Águia da Montanha’, a segunda incursão de Alfred Hitchcock atrás da câmera.”
Investimentos mal planejados e o fato de não ter obtido bons papeis no cinema “a levaram à bancarrota em 1932”.
Adiante, Nita Naldi “apareceu, de modo ocasional, em séries de televisão e em papeis secundários em obras e musicais da Broadway, mas seus problemas financeiros persistiram”. Contou ao repórter que recebia ajuda do Fundo para Atores para pagar o quarto do Hotel Wentworth.
Em 1954 foi contratada para dar consultoria a Carol Channing. Mesmo com 60 anos, Nita Naldi avaliou que se adequava mais ao papel do que Carol Channing. Ela disse a Gay Talese que tinha “uma voz potente e bela”.
Gay Talese escreveu a reportagem e o editor disse que seria publicada (o que fez em 1955). “Sua decisão marcou um dos dias mais felizes de minha vida.” O repórter tinha 23 anos.
Nita Naldi contou ao repórter que, frequentemente, a paravam nas ruas e perguntavam: “Como era, de verdade, beijar Valentino?”
Um homem se aproximou e, “assombrado”, exclamou: “Você é Nita Naldi, a vampiresca!” Ressentida e resignada, respondeu: “Sim. Lhe importa?” A atriz viveu 66 anos, entre 1894 e 1961.
Nita Naldi, se se pode dizer assim, talvez tenha sido a primeira Bartleby perfilada por Gay Talese, o repórter que aprecia contar a história de anônimos e, às vezes, dos decaídos, como a atriz.
A edição espanhola não contém fotografias. É uma pena. A brasileira, que não saiu, não sei se tem.
Gregos são inventores do jornalismo literário?

Quem inventou o Novo Jornalismo? Os americanos creditam a invenção a jornalistas-escritores como Tom Wolfe, Truman Capote, Joseph Mitchell, Lillian Ross, Gay Talese, Joan Didion e Norman Mailer.
Exagerando um pouco, o jornalismo literário talvez tenha sido uma invenção de Heródoto e Tucídides, cujos livros “Histórias” e “Guerra do Peloponeso” são, a rigor, reportagens, digamos, históricas. Antes dos dois, há Homero, um dos maiores narradores da história. “Ilíada” e “Odisseia”, obras extraordinárias, são relatos jornalísticos? De alguma maneira, sim.
O polonês Ryszard Kapuściński e o brasileiro Marcos Faerman praticaram o jornalismo literário de maneira competente.
Na Argentina, há a excelente Leila Guerriero, autora do aterrador “A Chamada — Um Retrato” (Todavia, 459 páginas, tradução de Silvia Massimini Felix).
Mario Vargas Llosa disse da repórter: “O jornalismo praticado por Leila Guerriero é digno da ‘New Yorker’: envolve trabalho rigoroso, pesquisa aprofundada e um estilo de precisão matemática”. “A Chamada” é sobre a brutalidade da ditadura argentina e uma de suas vítimas, a montonera Silvia Labayru.
[Email: [email protected]]


