Meu breve programa de leitura para 2023
14 janeiro 2023 às 11h18
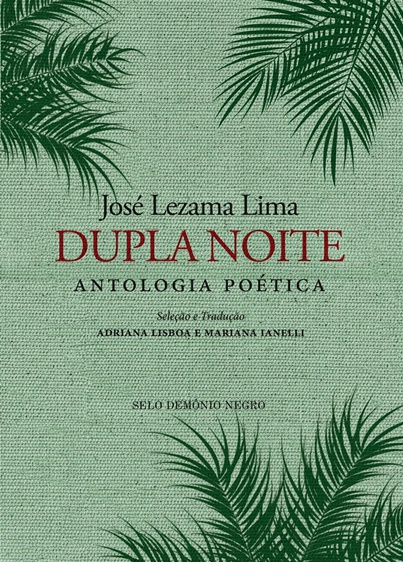
COMPARTILHAR
A única coisa que peço aos leitores: não leiam esta lista. É grande demais.
A minha lista de leitura para 2023 é, como todas as outras (as minhas), penelopiana. Porque, com os lançamentos, é desfeita aqui e acolá, e nem sempre as obras arroladas são lidas. Como o caçador solitário de buenas cosas, estou à espera, de orelha em pé e olhos de lince, das biografias de Millôr Fernandes, o filósofo do humor (está sendo escrita por Paulo Roberto Pires, autor da excelente biografia do editor Jorge Zahar); de Leonel de Moura Brizola, por Karla Monteiro; do pintor Di Cavalcanti, por Marcelo Bortoloti; do compositor e cantor Cartola, por Luiz Fernando Vianna, e de Carlos Lacerda, por Mário Magalhães. É provável que a pesquisa do biógrafo de Marighella saia apenas em 2024. Estou à espreita.

Há programações que, mesmo forçando a barra, não consigo cumprir, como a releitura da obra de Graciliano Ramos, de Carlo Emilio Gadda (italiano de primeiríssima linha) e William Kennedy (escritor americano que leio com prazer) e a leitura dos romances recentes do grande Julian Barnes (tão bom quanto Ian McEwan e Martin Amis).
Julian Barnes é autor de “O Homem do Casaco Vermelho” (Rocco, 272 páginas, tradução de Lea Viveiros de Castro). É a história real e imaginada de Samuel Jean de Pozzi, pioneiro da moderna ginecologia e amigo de Marcel Proust (por sinal, vale uma zapeada na nova tradução de sua obra pela Companhia das Letras; saíram dois volumes, com tradução de Mario Sergio Conti e de Rosa Freire d’Aguiar).
Li “O Passageiro” (Alfaguara, 391 páginas, tradução de Jorio Dauster), de Cormac McCarthy, e espero ler “Stella Maris”, o segundo romance da série, em 2023.
Gostei tanto de não gostar de ler Annie Ernaux que vou reler a prosa de Patrick Modiano, quiçá “Ronda da Noite” (Rocco, 128 páginas, tradução de Herbert Daniel) ou “Dora Bruder” (Rocco, 144 páginas, tradução de Márcia Cavalcanti Ribas Vieira).
Meu amigo Marevan pergunta para o meu amigo Renitec: “Por que o Euler não lê toda a obra de Joyce Carol Oates, pela qual é apaixonado há anos?” Deixo a resposta para o meu amigo Trezor: “Ora, ele tem 61 anos e, se ficar lendo apenas Oates, que tem uma obra imensa, inclusive sobre boxe, não fará mais nada na vida”. Ben trovato; portanto, nada a acrescentar. Exceto que li o opúsculo a respeito da arte de boxear… é muito bom. O romance “A Filha do Coveiro” (Alfaguara, 600 páginas, tradução de Vera Ribeiro), da escritora americana, é tão doloroso quanto belo.
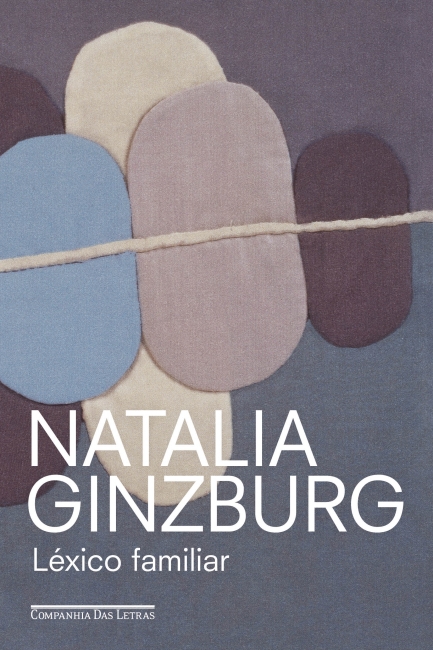
Meu neurônio Natalia Ginzburg (“Léxico Familiar”, Companhia das Letras, 256 páginas, tradução de Homero Freitas de Andrade) disse para meu neurônio Elsa Morante (“A Ilha de Arturo — Memórias de um Garoto”, Carambaia, 384 páginas, tradução de Roberta Barni): “Fuja de Elena Ferrante”. Como tenho o maior respeito pelos dois neurônios, que são influenciados pelas duas escritoras italianas, passo ao largo da prosa da escritora que dizem “secreta” (de secreto, afianço, só Homero). Do meu ponto de vista, por certo radicalizado, a prosa de Morante supera a de Moravia, ambos começando com “M” e terminando com vogais, e ainda por cima contêm sete letras.
Há livros que não se sabe se são bons, mas a intuição sugere que são aos menos razoáveis. As memórias de Francisco Dornelles, “O Poder Sem Pompa” (Topbooks, 267 páginas), entraram quase à força na minha lista, dado meu interesse por história. O livro resultou de um depoimento à jornalista e escritora Cecília Costa.
O pai do mineiro Francisco Dornelles era primo de Getúlio Vargas e se casou com uma irmã de Tancredo Neves. Aí já é meia história. Mas o advogado-especializando em finanças públicas na Universidade de Nancy, na França, e em tributação internacional em Harvard, nos Estados Unidos, foi professor, ministro dos governos Sarney e FHC, deputado federal (cinco mandatos), senador, governador.
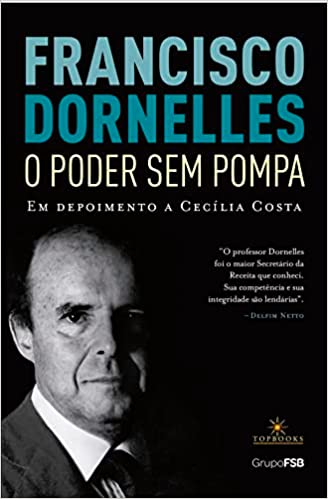
As memórias de Dornelles só saem de minha lista se eu ganhar na Mega-Sena, pois não sei se levarei o livro para uma ilha, a Pérfida Albion. Só levarei Candice, os gatos, os cachorros e, claro, a obra completa de Graciliano Ramos, o maior escritor patropi. Voltarei aos 100 anos, com o objetivo de ler a obra completa de Paulo Coelho, que, sugerem neurologistas, só pode ser bem compreendida por quem tem Alzheimer.
A lista incluirá “Poder Camuflado — Os Militares e a Política, do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro” (Companhas das Letras, 416 páginas), de Fabio Victor. A publicidade do livro assinala: “Este livro urgente mostra como a questão militar ainda representa um dos maiores desafios para o equilíbrio das instituições em nossa sociedade”. Portanto, obrigatório, incontornável. Entra na fila, em ordem unida, talvez em quinto lugar.
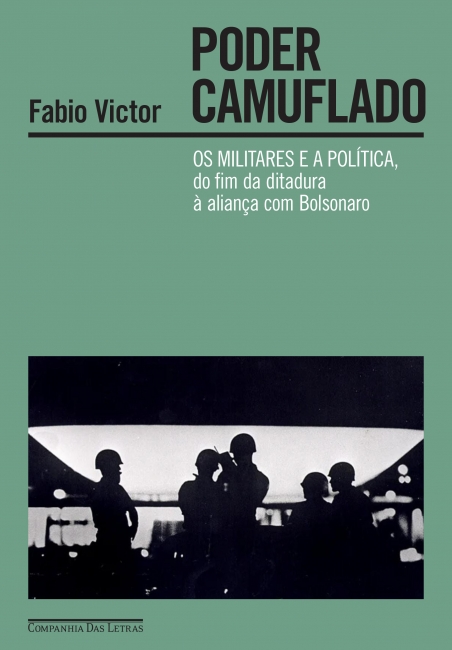
Caetano Galindo, sabe-se, é um tradutor de primeira linha. Ele está pondo James Joyce no português moderno do país, mas, claro, sem torná-lo jornalista, mero relator do cotidiano. “Ulysses”, falando nisso, é a narrativa, sob a batuta da linguagem modernista, do cotidiano de Leopold Bloom. O mestre da tradução lança um livro que ganhou espaço na minha lista: “Latim em Pó — Um Passeio Pela Formação do Nosso Português” (Companhia das Letras, 232 páginas). O português-brasileiro é mais falado que o português de Portugal e países africanos, como Moçambique e Angola. Nós brasileiros certamente reinventamos a nossa base, o Latim, como também o português do país de Fernando Pessoa e Lobo Antunes. Mas somos, na estrutura, todos filhos do Latim.
Minha biblioteca conta com mais de 500 livros sobre o nazismo e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), incluindo a participação do Brasil na luta em território da Itália. O nazismo e o comunismo são as duas grandes tragédias do século 20, responsáveis, juntos, pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Às vezes planejo parar de ler sobre o assunto, mas me parece impossível. Primeiro, porque sempre saem livros magníficos sobre o tema. Segundo, porque a vocação totalitária está sempre em voga, à esquerda e à direita, então não há como escapar da História. Por isso, coloquei, na terceira fila, o livro “A Revolução Cultural Nazista” (Da Vinci Livros, 264 páginas, tradução de Clóvis Marques), de Johann Chapoutot.
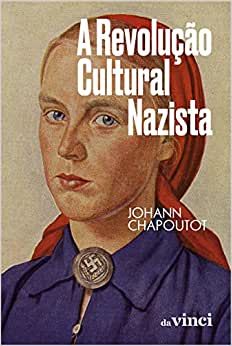
A editora informa: “Ao explorar pontos como a leitura do estoicismo e de Platão no Terceiro Reich, o uso de Kant e de seu imperativo categórico ou a recepção do direito romano na Alemanha, Johann Chapoutot demonstra como se operou essa reescrita da história do Ocidente. Foi a partir dessas tentativas de alterar o modo de pensar dos alemães que os nazistas passaram a acreditar que tinham o poder de atuar livremente para alcançar seus objetivos. Graças à reescrita da lei e da moral, tornou-se legal, moral e natural oprimir e matar. Tratava-se agora de um direito dado pela superioridade do homem alemão. Com este livro, Chapoutot apresenta um estudo profundo sobre as ideias necessárias para uma transformação tão radical a ponto de naturalizar o extermínio de milhões de pessoas; ideias que pavimentaram os crimes nazistas e que, ainda hoje, servem a projetos de revolução conservadora e reacionária”.
Li, recomento e vou reler este ano o livro “Guerra Cultural e Retórica do Ódio — Crônicas de um Brasil Pós-Político” (Caminhos, 464 páginas), de João Cezar de Castro Rocha, um intelectual do primeiro time. Pautei entrevistas com João Cezar, e incentivei a redação do Jornal Opção a conhecer suas ideias. Muito do que escrevi e escrevo sobre o momento atual devo às suas ideias e reflexões. O bolsonarismo poucas vezes foi escrutinado tão bem quanto neste livro (e em outros textos do autor).

Cresci ouvindo de meu pai, Raul de França Belém, que um parente, o tenente Benvindo Belém de Lima, havia combatido o nazifascismo na Itália. Ele sofreu ferimentos e morreu jovem, aos 32 anos. Pouco sei a seu respeito. Em novembro de 2021, estive em Belo Horizonte e visitei a bela Rua Benvindo Belém de Lima. Em Goiás, que eu saiba, não se fez nenhuma homenagem ao oficial. No Tocantins, em Pindorama, há um busto. E só. Tudo indica que 111 goianos participaram da luta contra os alemães na terra de Dante Alighieri e alguns, como Aldemar Ferrugem, pereceram e foram enterrados em Pistoia.
Como ainda não pude escrever a história de Benvindo Belém de Lima, que gostaria de biografar, leio, sempre que possível, livros sobre brasileiros que lutaram contra os nazistas de Adolf Hitler. Por isso, entrou para a minha lista “Soldado Silva — A Jornada de um Brasileiro” (Livros de Guerra, 128 páginas), de João Barone.
O soldado Silva é pai de João Barone, que nos tem brindado com bons livros a respeito da participação de brasileiros na guerra. Silva lutou na Itália.
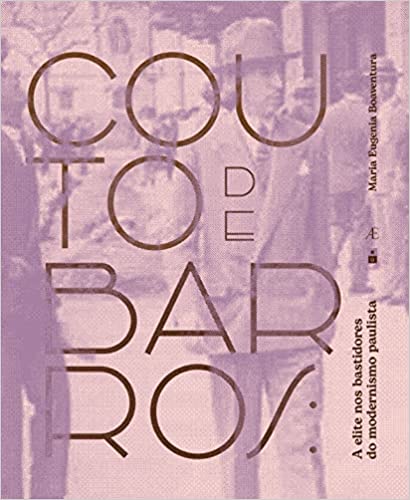
A elite cultural que fez a Semana de Arte de Moderna de 1922 foi financiada pela elite econômica de São Paulo. O empresário Paulo Prado, por exemplo, esteve na linha de frente. A professora da Unicamp Maria Eugenia Boaventura vasculha a vida de outro patrocinador do modernismo: “Couto de Barros — A Elite nos Bastidores do Modernismo Paulista” (Ateliê Editorial, 352 páginas). Antônio Carlos Couto de Barros “ajudou a fundar a primeira revista modernista, ‘Klaxon’, organizada e administrada no seu escritório, na Rua Direita, em sociedade com Tácito de Almeida. Formou nova dupla de sucesso com Alcântara Machado para fazer outra importante revista, a ‘Terra Roxa e Outras Terras’”, em 1926.
Como deixar escapar “Evguiéni Oniéguin” (Penguin-Companhia das Letras, 304 páginas, tradução de Rubens Figueiredo), romance em versos de Aleksandr Púchkin? Missão impossível. Li três versões, duas brasileiras e uma portuguesa, todas a partir do russo. Porém traduções sobre clássicos reverberantes nunca são de mais, sempre são de menos.

Em sã consciência os leitores, os bons eleitores, também não podem deixar escapar “Antígona” (Penguin-Companhia das Letras, 232 páginas, tradução de Lawrence Flores Pereira), de Sófocles. A leitura (ou releitura) vale pela história, que parece ter sido escrita ontem, dada a continuidade da vida, que se repete com novos personagens, e pela tradução de Lawrence Flores Pereira.
Jorge Ferreira é autor de uma estupenda biografia de João Goulart, que o situa bem na história do país; não o endeusa, mas também não o diminui (o que faz Marco Antônio Villas, noutra biografia). Agora, o doutor em história pela USP volta às livrarias com a obra “Elisa Branco — Uma Vida em Vermelho” (Civilização Brasileira, 266 páginas).
Costureira em Barretos, São Paulo, era militante do Partido Comunista Brasileiro e ativista pela paz. Em 7 de setembro de 1950, durante um desfile militar em São Paulo, Elisa Branco foi presa porque abriu uma faixa contra o envio de militares patropis à Guerra da Coreia (era uma guerra asiática e americana). O mundo descobriu a comunista e lutou por sua liberdade. A União Soviética concedeu-lhe o Prêmio Stálin da Paz (claro, não cheira nada bem a junção Stálin & paz; o ditador nunca foi pacifista, exceto quando lhe interessava), em 1952.
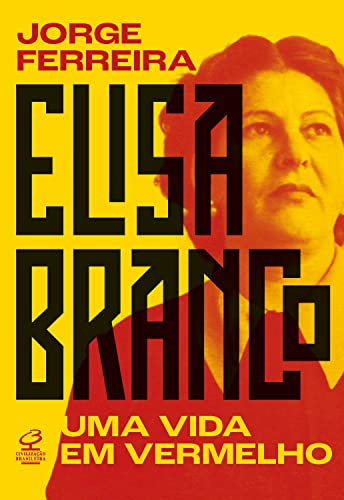
Apesar disso, Elisa Branco foi “apagada” da história, inclusive pelo PCB. Agora, pela pena de Jorge Ferreira, a comunista volta à história, ganhando um lugar, o seu.
A Ucrânia está na “moda”, sofrida, mais uma vez, sob a violência das botas dos russos de Vladimir Putin, o “czar” violento, perigoso (seus adversários têm o hábito estranho de se suicidarem) e venal. “A Fortaleza de Wira” (InterSaberes, 214 páginas), de Anderson Prado e Henrique Schlumberger Vitchmichen, conta a história da ucraniana Wira Kloczak.
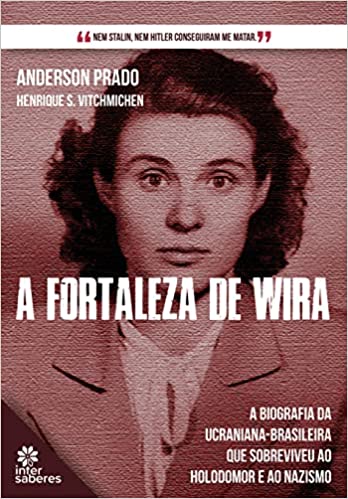
Nascida em 1923, Wira Kloczac passou fome — a que matou cerca de 3,5 milhões de ucranianos, no que ficou conhecido como Holodomor —, mas resistiu à barbárie do regime de Ióssif Stálin.
Há um livro denso sobre o Holodomor: “A Fome Vermelha — A Guerra de Stálin na Ucrânia (Record, 584 páginas, tradução Joubert de Oliveira Brizida), de Anne Applebaum.

Uma vez me perguntaram, não sei se João Fidelis ou Serafim-Dito, quem era o maior ator brasileiro. Não soube responder de imediato, pois há vários muito bons
Pedro Paulo Rangel, Paulo Autran, Matheus Nachtergaele (um gigante), Selton Mello, Raul Cortez, Paulo José, Walmor Chagas são atores do primeiro time. Mas o meu preferido é Marco Nanini, que, se interpretar Deus e Diabo, será sempre crível.
Se a beleza põe mesa e pode salvar o mundo, Nanini não tem nada de bonito — tem cara de homem comum. Porém, quando representa, se torna um monstro, dos mais sagrados, e seus papeis, mesmo aqueles que não são estupendos, são quase sempre grandiosos. Imagine fazer um Lineu, o da “Grande Família”, que é um chato de galochas — se ainda se pode usar a expressão passadista —, e ainda roubar a cena de todo mundo. É o que ocorre. Quando Nanini está em cena, a dos outros fica menor — ele “rouba” tudo, de tão espaçoso que é.
Na lista dos livros imperdíveis figura, claro, “O Avesso do Bordado — Uma Biografia de Marco Nanini (Companhia das Letras, 344 páginas), de Mariana Filgueiras. Aviso logo: o preço, R$ 119,90, é salgadíssimo. Como ter leitores neste país com preço tão elevado e bibliotecas defasadas?
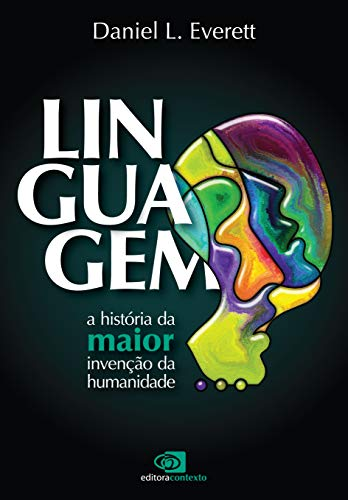
Li que Daniel L. Everett, no livro “Linguagem — A História da Maior Invenção da Humanidade” (Contexto, 400 páginas, tradução de Maurício Resende), “reinventa” a linguística e, portanto, Noam Chomsky. Ele coloca Chomsky no chinelo, me disseram.
Alguém que sugere que Chomsky está “superado”, ao menos em parte, me interessa, e muito. “A visão de Chomsky de que linguagem é nada mais nada menos do que uma gramática recursiva é altamente peculiar. [A linguagem]… é um combinação de forma, gestos, significado e altura da voz. A gramática auxilia a linguagem, não é a própria linguagem”, afirma Daniel Everett.
De acordo com Daniel Everett, a linguagem surge com o Homo erectus, e não com o Homo sapiens.
Tu sabes quem é o maior romancista de Cuba? José Lezama Lima. Você sabe quem é o maior poeta de Cuba? Lezama Lima.
Mais conhecido no Brasil pelo romance “Paradiso”, espécie de “Grande Sertão: Veredas” da ilha, Lezama Lima — um escritor e intelectual independente, daí a Revolução Cubana ter tentado (em parte) “apagá-lo”, sem conseguir, porque não se cancela um deus — é um grande poeta.
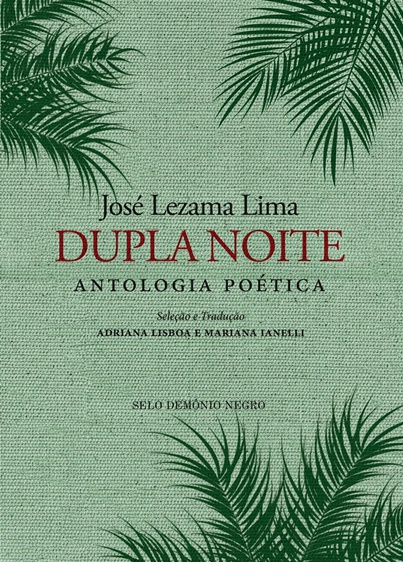
A poesia de Lezama Lima pode ser conferida na antologia poética “Dupla Noite” (Demônio Negro, 174 páginas, com tradução de Mariana Ianelli e Adriana Lisboa). O cubano também é um ensaísta brilhante.
Na primeiríssima fila, ao lado do livro de Lezama Lima, está “Sob os Tempos do Equinócio — Oito Mil Anos de História na Amazônia Central” (Ubu, 224 páginas), de Eduardo Góes Neves, arqueólogo e professor da USP. O livro tem sido comentado como uma espécie de “revolução” nos estudos das civilizações amazônicas, então estou interessadíssimo em vasculhá-lo página a página, grifando e usando marca-texto para destacar os trechos mais relevantes.

Leio a poesia de Yêda Schmaltz (leitura de uma vida), de Lêda Selma (estou apreciando cada vez mais; há leveza e densidade na sua poética), de Valdivino Braz (sua poesia é de excelente qualidade), Carlos Willian (tão bom quanto Pio Vargas, mas, modesto, se coloca à sombra) e Gabriel Nascente (sua poesia, salvo engano, está mais depurada, concentrada).
Na mira “A Nova Utopia” (Quatro Cantos, 160 páginas), de Régis Bonvicino, um dos poetas mais inventivos da atualidade.
O filósofo que mais leio, ao lado de Isaiah Berlin, é o britânico John Gray, que, aos 74 anos, mantém uma produção intelectual incessante. Agora, entrou para minha lista — que está parecendo a viagem de Ulisses rumo a Ítaca — “Filosofia Felina — Os Gatos e o Sentido da Vida” (Record, 140 páginas, tradução de Alberto Flaksman).
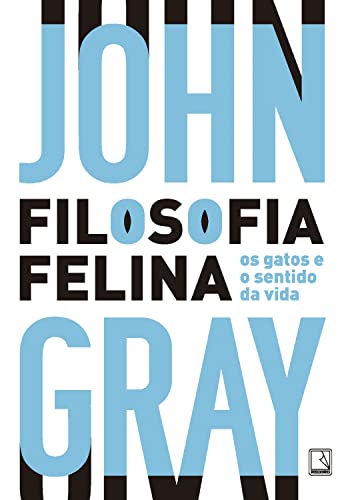
Os gatos têm algo a nos ensinar? O pensador de “Cachorros de Palha” avalia que sim. Neste mundo da velocidade incessante, em que todo mundo está plugado, nem que seja à força, os felinos, com sua calma e tranquilidade, fazendo a siesta mesmo quando não estão cansados, podem ser um modelo para nós.
Observo com atenção nossos quatro gatos, Filomena, Josephina Duas Caras (uma bela escaminha), Serafim-Dito e Miguilim-Chaveiro — todos egressos das ruas. Os quatro têm “personalidades” diferentes.
Serafim não tem medo de ninguém, convive até com estranhos e aprecia seguir as pessoas, principalmente Candice, que escolheu para irmã gêmea. O guloso Miguilim é arredio, mas aprendeu a abrir portas, com facilidade. Os demais ficam à espera de sua traquinagem para escapar para o quintal, a Disneylândia da turma. Os dois são “amigos” e têm o hábito de dormir encostados um no outro.
Josephina, uma candanga, não aprecia que as pessoas façam carinho nos seus pelos sedosos e fartos. Ela “escolhe” quando quer fazer carinho nas pessoas, quase sempre em Candice, uma gatófila. Filomena é arredia, adora deitar-se embaixo de lençóis, é rápida como um corisco e come pouco.
Em comum os quatro apreciam dormir, várias horas por dia, em lugares altos, sobretudo em camas, mas também ao lado ou em cima da impressora. Amolam unhas em poltronas, às vezes no meu tênis, que está “desfiando”. Adoram bolinhas de papel. Estão sempre limpos, pois tomam “banho” várias vezes ao dia, com a língua fazendo as vezes de sabonete e bucha. E fazem tudo com calma, não se levantam correndo — exceto se querem pegar alguma coisa, como um pássaro —, dão a impressão de que, quando acordam, antes de descer de onde estão, alongam-se.
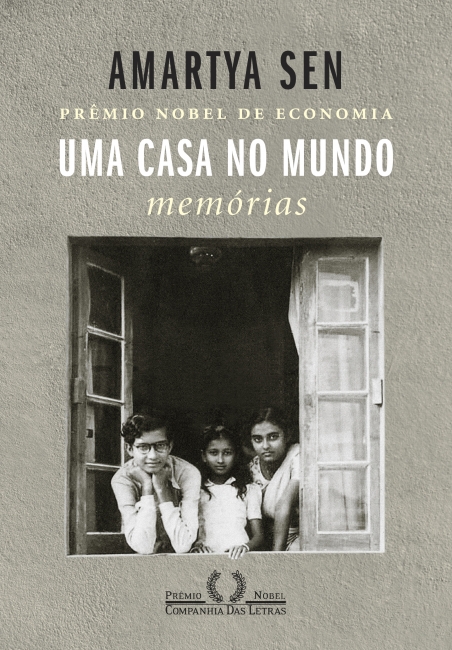
De longe, admiro Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia. Talvez o aprecie porque não é o típico economicista, desses que postulam que o crescimento é tudo. O desenvolvimentismo se tornou uma praga, o que não é. Desenvolvimentismo não é o mesmo que minar o Estado, gastando de maneira descontrolada e sem planejamento. O desenvolvimentismo, como o percebo, é a inclusão social daqueles que, de alguma maneira, ficaram para trás. E o Estado existe para reparar as injustiças que, no processo de crescimento, as sociedades criam — excluindo a rodo. O Estado é, por assim dizer, a pilastra dos fracos, dos abandonados. Mas, claro, deve “zelar” por todos, com realismo e percepção de que o mercado não é nenhuma besta-fera.
Nos seus textos, Amartya Sen não fala tão-somente de crescimento. Menciona empatia e sugere que o planejador-especialista, e não só ele, claro, conheça bem o seu entorno, como as pessoas vivem, trabalham e se divertem. Lembra-me, aqui e ali, Simone Weil. Eu tinha (e tenho) amplo interesse em saber mais sobre a história pessoal do economista (e filósofo, sim). Ele fará 90 anos em novembro deste ano e merece uma biografia decente e nuançada. Enquanto a ampla radiografia não chega, temos um maná nas livrarias: “Uma Casa no Mundo — Memórias” (Companhia das Letras, 472 páginas, tradução de Berilo Vargas), de Amartya Sen (putz!, toda vez que escrevo “Sen”, o word corrige para “Sem”. Se sair “Sem”, me perdoe e acuse o word. Combinado?).
Por que tenho certo apreço por Lula da Silva? (Aprecio até seu realismo político e sua distância dos radicais, que são, por vezes, nefelibatas). Porque noto que há, por parte do presidente, um interesse genuíno pelas pessoas, notadamente pelos deserdados de tudo. O presidente patropi deveria conversar com Amartya Sen ao menos uma vez a cada três meses, inclusive atraindo-o para o Brasil. Governos devem dar assistência, pois há pessoas que não sabem mais “pescar”, mas precisam integrar os pobres de maneira mais ampla. Eles estão “fora” da sociedade e precisam ter oportunidades reais, sob mediação do Estado, para se tornarem cidadãos de fato.


