Livro de repórter do “Times” celebra Paulo Coelho e exclui Graciliano Ramos da literatura brasileira
17 fevereiro 2023 às 11h40
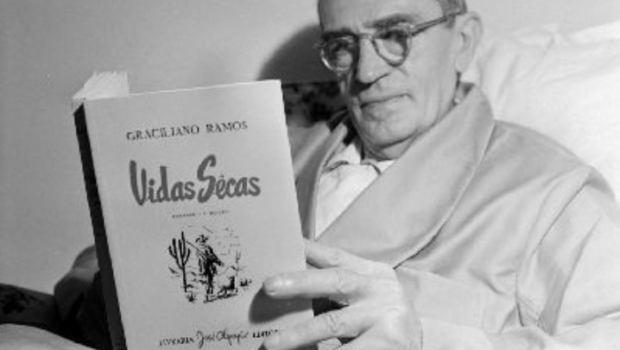
COMPARTILHAR
[Resenha publicada no Jornal Opção em 22 de agosto de 2012]
“Brasil em Alta — A História de um País Transformado” (Geração Editorial), do repórter do “New York Times” Larry Rohter, é um balanço da história do Brasil, incluindo uma análise de sua cultura. Dado o número de páginas, 392, o autor deixa de citar músicos, artistas plásticos e escritores importantes, mas, ao exclui-los, não deixa de incluir autores menores. Assim, o problema não é só de espaço, e sim de escolha.
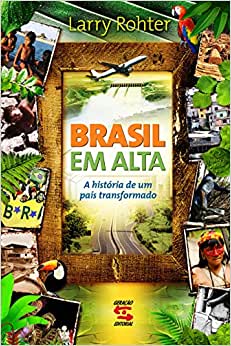
Larry Rohter começa bem: “Machado de Assis é para a ficção brasileira o que Mark Twain é para a literatura estadunidense: o modelo, pedra de toque e fonte para definir um estilo nacional; descobridor e desenvolvedor de uma temática genuinamente nativa”. Não tem nada de errado. Machado de Assis é mesmo o Jesus Cristo da literatura do país, mas por que nenhuma menção ao esforço de José Alencar para escrever uma literatura nacional? E por que não aproximar o autor de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Henry James, quiçá o Machado de Assis americano — ambos mestres da ambiguidade?
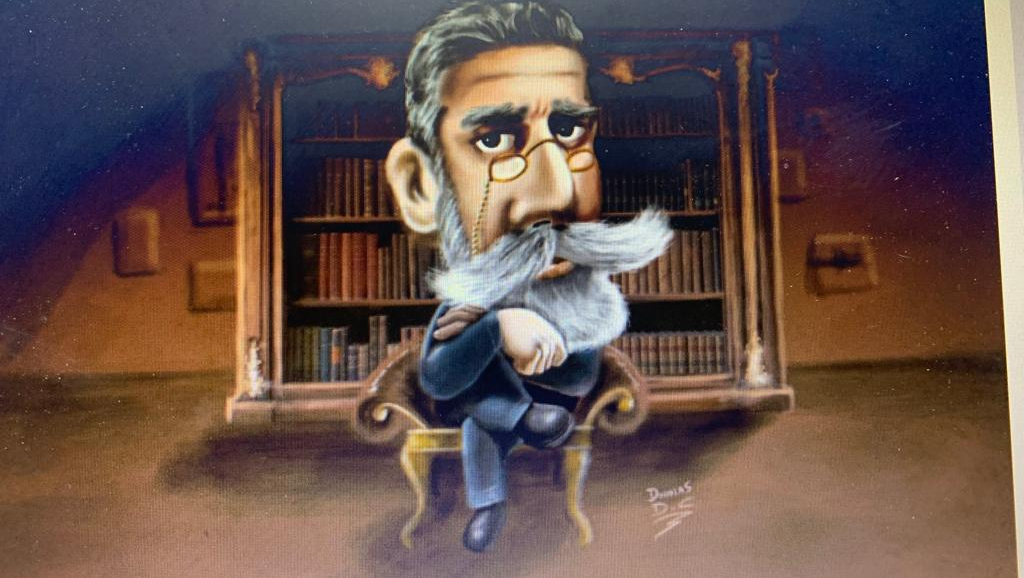
Machado de Assis é apontado como “o maior artista literário negro até hoje”, e aqui Rohter está citando Harold Bloom. Susan Sontag, mencionada pelo repórter, sem usar o (redutor) termo “negro”, disse que o autor de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Dom Casmurro” — dois romances que valem uma literatura nacional (e até multinacional) — é “o maior escritor já surgido na América Latina”. Acima do argentino Jorge Luis Borges, acrescenta Larry Rohter. O americano Philip Roth trata o criador de “Quincas Borba” — na verdade o comentário foi feito a partir da leitura de “Brás Cubas”, que o teria inspirado — como “um grande ironista, um comediante trágico” que “sublinha o sofrimento fazendo-nos rir”. Compara-o a Samuel Beckett, deixando de citar, o que seria mais apropriado, o irlandês Laurente Sterne. O poeta americano Allen Ginsberg nota o autor de “O Alienista” como o “outro Kafka”. Larry Rohter não cita dois críticos que fizeram muito pela aceitação de Machado de Assis no exterior — o inglês John Gledson (ás também sobre Drummond) e o francês Jean-Michel Massa (autor da estupenda biografia “A Juventude de Machado de Assis”).
Depois de Machado de Assis, ganha espaço a Semana de Arte Moderna de 1922, apontada como um divisor de águas. Mário de Andrade, “talvez o intelectual e crítico brasileiro mais brilhante do século 20”, é valorizado pelo romance “Macunaíma” (sua poesia é esquecida). “Usando uma linguagem embutida de locuções populares e indígenas em vez de português castiço ‘Macunaíma’ narra as desventuras de um índio, ‘herói sem nenhum caráter’, mas mesmo assim ‘o herói de nossa gente, nascido no mato-virgem e filho do medo da noite’, à medida que ele viaja da zona rural para São Paulo e Rio de Janeiro e volta.”

Excluindo Oswald de Andrade (não sei por que, fiquei um pouco contente com isto, embora saiba que estou errado, assim como o repórter), Larry Rohter salta para Jorge Amado, que, segundo o crítico, “aprofundou ainda mais a noção de uma literatura genuinamente brasileira, baseada em temas e linguagem extraídos das ruas”. Um provável equívoco do crítico: “Graças a filmes de sucesso baseados em seus romances ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’ e ‘Gabriela, Cravo e Canela’, ele é também célebre fora do Brasil”.
Jorge Amado era célebre no exterior antes dos filmes, graças, possivelmente, à sua prosa luxuriante, à sensualidade das personagens e à publicidade intensa feita pelos comunistas. Comunistas que parecem nunca ter compreendido direito sua obra.

Larry Rohter acrescenta: “Os críticos de Amado, e existem muitos, reclamam que ele favorece um exotismo romântico em detrimento do realismo social, mas não há dúvida de que a sua obra abrange vários tipos sociais reconhecíveis e também explica a influência de crenças e costumes africanos na sua visão de mundo e valores”.
Há acertos e problemas. A crítica a Jorge Amado não é à falta de “realismo social” — pelo contrário, sempre apontaram o seu exagero na questão social, chegaram a tachá-lo de adepto do realismo socialista (um equívoco, em parte, mas não no todo) —, e sim à sua linguagem não muito elaborada, à sua prosa às vezes frouxa e excessiva. Mas Jorge Amzdo é o carnaval dos escritores — um símbolo do Brasil, diferentemente de Machado de Assis, que bem poderia ser qualificado como um escritor inglês, russo e até francês, tal sua universalidade. Um Laurence Sterne, não “dos” e sim “nos” trópicos.

Em saltos elásticos, com o objetivo de caracterizar tão-somente escritores representativos, Larry Rohter passa de Jorge Amado para Guimarães Rosa — deixando de lado escritores como Monteiro Lobato, José Lins do Rego, Bernardo Élis (não merecem nenhum registro).
Larry Rohter diz que os brasileiros estão certos quando dizem que o autor de “Sagarana” é “o nosso James Joyce” (poderia aproximá-lo de William Faulkner, como faz Silviano Santiago). “Sua obra-prima de 1956, ‘Grande Sertão: Veredas’, é um épico denso, de estilo fluxo de consciência, em que ele brinca com a linguagem, inventando novas palavras e frases para descrever a vida no sertão.”
Para não dizerem que é misógino, apesar da exclusão de Rachel de Queiroz e Lygia Fagundes Telles, Larry Rohter cita, com destaque, uma escritora, só uma: Clarice “Lispector especializou-se em estudos psicológicos profundamente introspectivos, a exemplo de ‘Perto do Coração Selvagem’, narrativa estilo fluxo de consciência sobre as mudanças no estado emocional de uma jovem chamada Joana, e ‘A Paixão Segundo G. H.’, em que uma mulher de classe alta no Rio de Janeiro atravessa uma crise existencial ao limpar o quarto de sua empregada”.
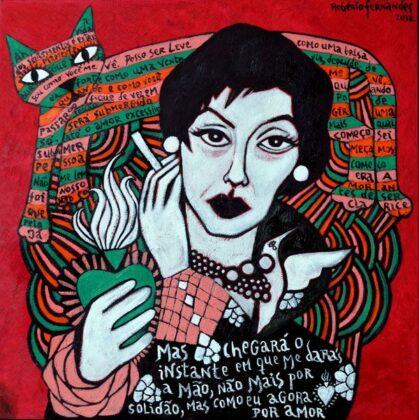
A literatura brasileira tem quarteto qualitativo: Machado de Assis-Graciliano Ramos-Guimarães Rosa-Clarice Lispector. Larry Rohter esquece olimpicamente de citar o gigante Graciliano Ramos — não há qualquer menção a obras decisivas como “Vidas Secas” e “São Bernardo”. A prosa seca do escritor alagoano tem uma fortuna crítica considerável, que aponta sua riqueza e variedade e sua linguagem requintada (apesar de não parecer, à primeira vista) mas sem pomposidade. Nenhuma história da literatura brasileira — ainda que pequena, como a de Larry Rohter — pode esquecer o João Cabral de Melo Neto da prosa.
Se esquece Graciliano Ramos, Larry Rohter destaca Paulo Coelho, e aí predomina o repórter —, atento às coisas da moda, e não à permanência — e não o crítico. “O imensamente popular” Coelho, diz o ex-correspondente do “Times” no Brasil. Ele pertenceria “a uma categoria própria”. No entanto, não ficamos sabendo exatamente qual é, até porque o misticismo não foi inaugurado por Paulo Coelho.

Depois, são arrolados dois escritores de categoria, Rubem Fonseca e Dalton Trevisan. João Antônio, Sérgio Sant’Anna, João Gilberto Noll, Cristovão Tezza, Bernardo de Carvalho, Socorro Acioli, Ronaldo Correia de Brito e Ronaldo Costa Fernandes não merecem uma linha. O que revela que ao repórter categorizado falta uma certa percepção do novo, do presente.
Castro Alves é o primeiro poeta citado. Sua poesia seria uma espécie de “cópia” da matriz francesa, Victor Hugo. “Até poemas escritos em favor da causa abolicionista, como ‘O Navio Negreiro’, hoje parecem ornamentados e elaborados demais, especialmente quando recitados por crianças na escola, onde ainda são obrigadas a memorizá-los.” Será que Larry Rohter, tão preocupado com o ex-presidente Lula da Silva, realmente visitou alguma escola brasileira? Os alunos são obrigados a memorizar poemas de Castro Alves? O repórter cede lugar ao ficcionista.

Ao deixar Castro Alves de lado, com seu “floreado estilo romântico”, Larry Rohter parece que se esquece que as pessoas, inclusive os poetas, escrevem numa época dada —, o repórter descobre o néctar de Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Eles escreveram, afirma, num “estilo mais despojado e preciso, próximo do vernáculo”. Drummond era um “ironista capaz de enxergar a vida nos seus termos mais desoladores”. A linguagem elaborada (entre o lírico e a secura da poesia moderna), o que não quer dizer rebuscada, é pouco lembrada por Larry Rohter. Os poetas João Cabral de Melo Neto e Ferreira Gullar não merecem referência.
Nelson Rodrigues, que nasceu há 100 anos, é apontado como “um dramaturgo de gabarito mundial”. Para sustentar sua “tese”, Larry Rohter baseia-se no que disse o diretor de cinema Bruno Barreto: “Se apenas tivesse escrito em inglês, seria tão célebre quanto Tennessee Williams, O’Neill ou Pinter, tamanha é a qualidade universal, atemporal e subversiva da sua obra”. Por que não compará-lo também a Racine, Shakespeare e Ibsen?

Dos livros basilares de não-ficção, Larry Rohter cita “Os Sertões”, de Euclides da Cunha. A obra é “considerada a maior de não ficção do país”. Noutro capítulo, o autor cita “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre, mas faz uma leitura redutora, fruto da hegemonia do pensamento marxista. A escola paulista de sociologia parece que nunca perdoou o fato de a maior obra de interpretação do Brasil ter sido escrita por um sociólogo nordestino e não marxista.
Larry Rohter postula que Gilberto Freyre praticamente defende a escravidão, o que não é fato, sobejamente explicado e esclarecido por intelectuais brasileiros, não lidos pelo repórter algo desavisado. “Raízes do Brasil” (aparece só na bibliografia), de Sérgio Buarque de Holanda, e “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro, não são discutidos.


