Cinema poderoso de Eisenstein escapou ao menos em parte do controle rígido de Stálin
25 fevereiro 2017 às 11h28

COMPARTILHAR
A jdanovschina, ou era Jdanov, subordinou de vez a cultura da União Soviética ao poder do Estado, quer dizer, a Ióssif Stálin (1878-1953). Escritores, músicos, artistas plásticos deviam servir aos interesses do Partido Comunista, senão seriam tachados de burgueses e não teriam espaço para divulgar suas obras. Vários escritores foram censurados, perseguidos e proibidos de publicar suas obras. O diretor de cinema Serguei Eisenstein (1898-1948), acossado por Stálin, que o “orientava” pessoalmente sobre como fazer filmes, morreu cedo, amargurado. Parte de sua história é contada nos livros “Stálin — A Corte do Czar Vermelho” (Companhia das Letras, 860 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), do historiador britânico Simon Sebag Montefiore, e “A Maldição de Stálin” (Record, 558 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), do historiador canadense Robert Gellately. Mas vale um resgate maior de sua vida e arte. No excelente “El Baile de Natacha — Una Historia Cultura Rusa” (Edhasa, 828 páginas, tradução de Eduardo Hojman), o historiador inglês Orlando Figes (autor da mais equilibrada história da Revolução Russa) relata a história do cineasta desde o início, embora sua biografia não faça parte do escopo da obra.
Orlando Figes assinala que “as grandes figuras culturais da tradição russa — Púchkin, Gógol, Tolstói, Turguêniev, Dostoiévski, Tchekhov, Repin, Diaghilev, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Chagall, Kandinsky, Mandelstam, Akhmátova, Nabokov, Pasternak, Meyerhold e Eisenstein — não eram somente ‘russas’, também eram europeias, e as duas identidades se entrelaçavam e tinham uma dependência mútua em muitos aspectos e de distintos modos. Por mais que intentassem, era impossível que tais russos pudessem suprimir alguma das duas partes de sua identidade”.
Engenheiro da alma
Serguei Eisenstein era um homem de vasta cultura, que conhecia a literatura de seu país e do exterior. Como diretor de cinema, se funda uma tradição russa, dependente do teatro de um Meyerhold, dialoga com a “tradição” ocidental. Como todo artista, queria ser livre para apresentar suas ideias criativas. Porém, na Rússia de Stálin, não era possível. Poucos países davam tanta importância às artes quanto a União Soviética de Lênin e, sobretudo, de Stálin. “O artista tinha uma papel crucial na construção do homem soviético. Stálin foi o primeiro a usar a famosa frase, em 1932”, que denominava o artista como “o engenheiro da alma humana”. Orlando Figes ressalta que “o conceito de artista como engenheiro era fundamental para toda a vanguarda soviética. Os construtivistas, os futuristas, os artistas alinhados com o Proletkult e a Frente Esquerdista de Arte, Vsevolod Meyerhold no teatro ou o grupo Kinok e Eisenstein no cinema compartilhavam amplamente o ideal comunista. Todos esses artistas lutavam suas próprias revoluções, contra a arte ‘burguesa’, e estavam convencidos de que podiam preparar a mente humana para ver o mundo de uma maneira mais socialista por meio de novas formas de arte”. Os artistas eram engajados, defendiam a Revolução Russa, iniciada em 1917, mas pretendiam que sua arte fosse de alto nível — o que, por vezes, era incompatível com as linhas traçadas pelo Partido Comunista, que queriam que fossem apenas instrumentos de mudança social. O recomendável era o artista militante, não agradavam aos bolcheviques, como Stálin, artistas “independentes”, como Isaac Bábel e Óssip Mandelstam (este ousou comparar os bigodes do ditador com os da barata e morreu no Gulag).
“Para nós, a mais importante de todas as artes é o cinema”, disse Vladimir Lênin, o líder que viabilizou a Revolução Russa. “Ele valorizava os filmes sobretudo por seu valor propagandístico. Num país como a Rússia, no qual em 1920 só dois em cada cinco adultos sabiam ler, a imagem em movimento era uma arma vital na batalha para estender o alcance do Partido às aldeias mais distantes dos camponeses”, conta Orlando Figes. Os bolcheviques improvisaram cinemas nas igrejas e em salões dos povoados. “Trotski sublinhava que o cinema competiria com o boteco e a igreja e atrairia uma sociedade jovem, cuja personalidade se formaria, como a da criança por intermédio do jogo”. O cinema era visto pelos bolcheviques como uma “arte democrática”. E “fiel à realidade”. Um crítico soviético escreveu, em 1927, que “o teatro é um jogo. O cinema é vida”.
Grupo Kinok
Para os bolcheviques e os artistas que defendiam a Revolução, “o realismo da imagem fotográfica era o que convertia o cinema na ‘arte do futuro’ da União Soviética”. O grupo Kinok, criado em 1922 pelo diretor Dziga Vertov (Orlando Figes sustenta que era “brilhante”), pela editora de noticiários cinematográficos Elizaveta Svilova, sua mulher, e pelo cinegrafista Mikhail Kaufman, apostava que “apenas o cinema podia capturar e reorganizar a vida como uma realidade nova”. O cinema de não ficção, de caráter propagandístico, era o caminho e a fé. Eles queriam “captar a vida tal como é”. O objetivo era construir uma sociedade nova e igualitária. Havia ideologia, mas também altruísmo e crença de que a arte tinha um papel decisivo na construção do homem novo.
“Os kinoki organizavam suas imagens realistas de uma maneira simbólica. O filme mais famoso do grupo Kinok, ‘O Homem da Câmara’ (1929), é uma sinfonia de imagens de um dia na metrópole soviética ideal, começando com as cenas matinais de diferentes tipos de ofícios e avançando até os esportes e os entretenimentos vespertinos. Termina com uma visita ao cinema onde se projeta ‘O Homem da Câmara’. O filme está cheio de brincadeiras e truques visuais, com a intenção de desacreditar as fantasias dos filmes de ficção”, anota Orlando Figes. O historiador sugere que, independentemente da ideologia, os integrantes do Kinok eram brilhantes.
Dziga Vertov usou a montagem para inventar ou recriar o cinema na União Soviética. “Intercalando tomadas para criar contrastes e relações surpreendentes, a montagem se propunha manipular a reação da audiência” e tornar as pessoas conscientes das ideias que estavam sendo exibidas. “Liev Kuleshov foi o primeiro diretor a usar a montagem no cinema, muito antes de que a técnica fosse adotada no Ocidente. Segundo Kuleshov, por meio da montagem de ideias contrastantes o cinema poderia criar significado e emoções na audiência”, revela Orlando Figes. “Todos os grandes diretores soviéticos da década de 1920 usaram a montagem: Dziga Vertov, Vsevolod Pudovkin, Boris Barnet e, em sua forma mais intelectualizada, Serguei Eisenstein. A montagem era tão fundamental para o efeito visual do cinema experimental soviético que seus expoentes temiam que a chegada do cinema sonoro destruísse esse meio.”
Massas em Outubro
Filho de um arquiteto modernista, Serguei Eisenstein mudou-se para Petrogrado (São Petersburgo), em 1915, para estudar engenharia civil. Porém, em 1917, entusiasmou-se com as massas nas ruas “comandando” a Revolução. Em julho desse ano, radicalizado, participou de manifestações bolcheviques contra o governo provisório. Viu policiais atirando na multidão, na Avenida Nevsky. As imagens foram usadas pelo diretor no filme “Outubro”, de 1928.
Orlando Figes registra que, “entusiasmado pela tomada do poder por parte dos bolcheviques, Eisenstein se incorporou ao Exército Vermelho como engenheiro, na frente setentrional, nas proximidades de Petrogrado. Participou da guerra civil contra o Exército Branco do general Yudenich, que chegou às portas da cidade no outono de 1919. Ao rememorar tais acontecimentos no cinema, Eisenstein via a revolução como uma luta dos jovens contra os velhos. Seus filmes estão empapados do espírito de um proletariado jovem que alça contra a disciplina patriarcal da ordem capitalista”. O historiador percebe que os personagens burgueses de seus filmes, desde o primeiro, “A Greve”, eram inspirados em seu pai. “Eisenstein escreveu que a razão pela qual havia aderido à revolução ‘tinha pouco a ver com as verdadeiras angústias da injustiça social […], e sim direta e completamente com o que deve ser o protótipo de todas as tiranias sociais: o despotismo do pai dentro de uma família’”.
Mas não era só isso. A visão artística de Serguei Eisenstein conectava com a ideia de uma sociedade nova propugnada pelos bolcheviques. Era a fome com a vontade de comer. Ao voltar para Moscou, em 1920, aderiu ao Proletkult, como diretor teatral, e trabalhou com Kuleshov. Daí tirou a ideia de usar atores não profissionais ou mesmo pessoas das ruas. “Kuleshov usou a técnica em ‘As Extraordinárias Aventuras do Sr. Ocidente na Terra dos Bolcheviques’ (1923), mas Eisenstein a tornou famosa em ‘O Encouraçado Potemkin’ (1925) e em ‘Outubro’. O Proletkult teria uma influência perdurável em Eisenstein, em especial no tratamento das massas nos seus filmes históricos. Mas a influência mais importante foi o diretor Meyerhold, em cuja escola de teatro ingressou em 1921”, discorre Orlando Figes.
Segundo o pesquisador, aderindo ao estilo de Meyerhold, uma estrela do teatro russo, Eisenstein “adotou a ideia do espetáculo de massas, um teatro da vida real. Aprendeu a preparar o ator com um atleta, expressando emoções e ideias mediante movimentos e gestos; e, como Meyerhold, acrescentou a farsa e a pantomima, a ginástica e os truques circenses, os fortes símbolos visuais e a montagem à sua arte. O trabalho de Eisenstein era explicitamente didático e expositivo. A justaposição de imagens tinha a intenção de chegar ao público de maneira consciente, e levá-lo a conclusões ideológicas corretas. Em ‘Outubro’, Eisenstein intercala imagens de um cavalo branco que cai de uma ponte do Rio Neva com cenas das forças cossacas reprimindo as manifestações dos trabalhadores contra o governo provisório em julho de 1917. Se trata de uma metáfora muito complexa. O cavalo era, desde muito tempo, um símbolo do apocalipse na tradição intelectual russa. Na propaganda bolchevique o general montado sobre um cavalo branco era um símbolo típico da contrarrevolução”.
“Outubro” sugere, como queria Lênin, que o ataque ao povo pelo governo era o momento crucial da revolução. Eisenstein usou toda a sua engenhosidade e talento para criar um retrato artístico do momento. Em “Por Deus e Pela Pátria”, o diretor exibe as forças cossacas do general Kornilov avançando sobre Petrogrado. “Eisenstein realiza uma desconstrução visual do conceito de ‘Deus’ bombardeando o espectador com uma cadeia de imagens que questiona cada vez mais a ideia de divindade”, explica Orlando Figes. “Também usava esse recurso para expandir o tempo e incrementar a tensão, como em ‘O Encouraçado Potemkin’, na famosa cena do massacre na escadaria de Odessa, onde a ação se fazia mais lenta mediante a justaposição de primeiros planos dos rostos da multidão com imagens reiteradas da descida dos soldados na escadaria. A cena, cabe esclarecer, era completamente fictícia: não houve nenhum massacre na escadaria de Odessa em 1905. Aquela tampouco foi a única ocasião em que as míticas imagens dos filmes de Eisenstein modificaram a história.”
No filme “Outubro”, Eisenstein reuniu cinco mil veteranos da guerra civil — na verdade, poucos mais de 100 marinheiros e militantes comunistas haviam tomado o palácio do governo, em 1917 — e criou uma história grandiosa. Orlando Figes diz que os “atores” atiraram de verdade e feriram mais pessoas do que em 1917. Um velho porteiro disse para Eisenstein: “Seu pessoal foi muito mais cuidadoso da primeira vez que tomou o palácio”. A arte era, digamos, mais “revolucionária” e “realista”. Apesar disso, não se pode indicar que o “excesso” tenha distorcido, no básico, a história da tomada do poder.
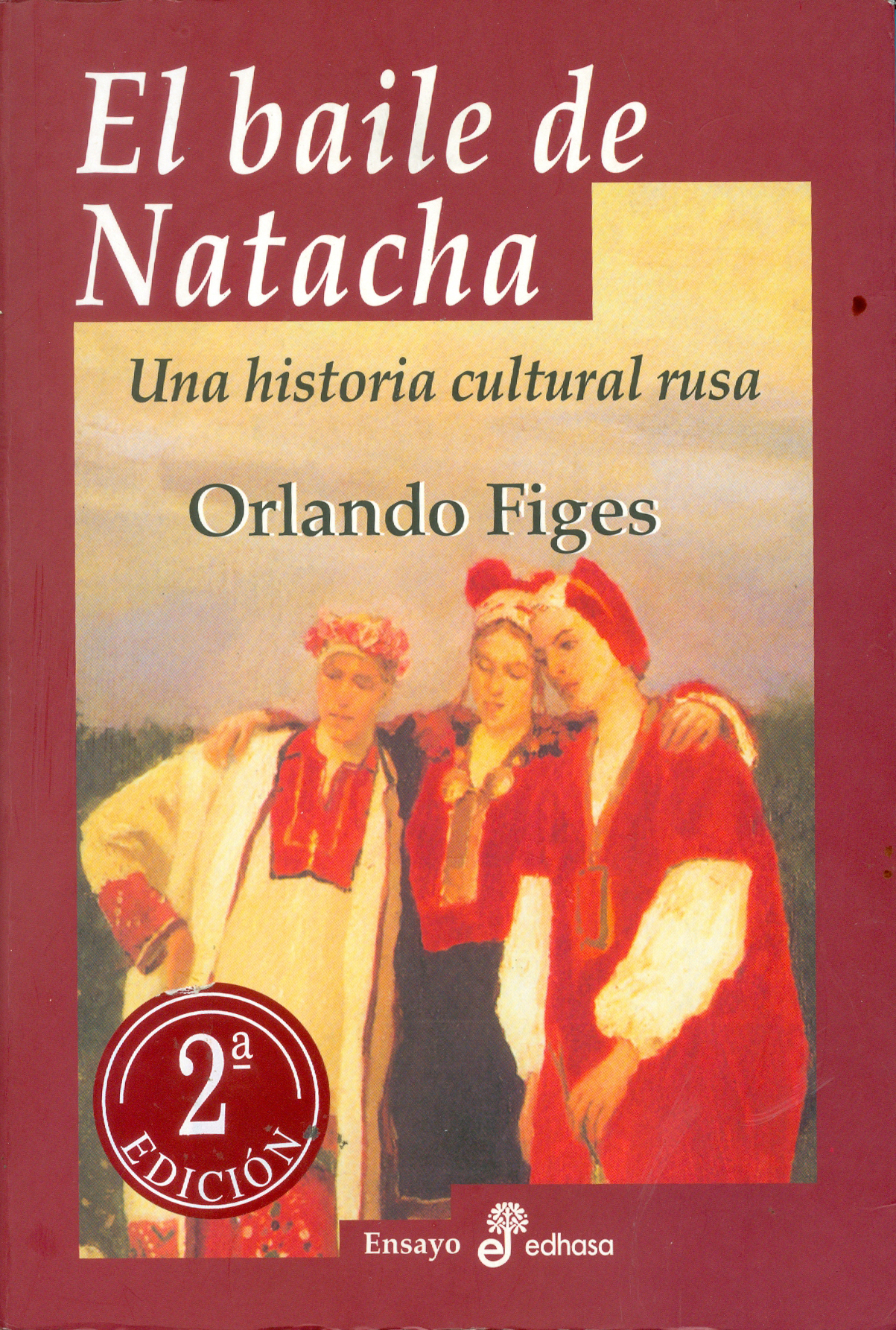
O fator Stálin
O engajamento de Vertov e Eisenstein era camuflado, em parte, pelo rigor de sua arte. Mas o público da União Soviética preferia os filmes estrangeiros — as aventuras de ação e os dramas românticos. A propaganda de seus filmes, possivelmente, era assimilada muito mais pelos militantes bolcheviques. Talvez fossem demasiadamente sofisticados, apesar das pretensões populares.
Em 1928, numa conferência sobre cinema, o governo cobrou um cinema mais popular, mais compreensível para as massas. O cinema tinha de ser usado para influenciar as pessoas, forçá-las a aceitar as decisões comunistas. Vertov, Pudovkin e Kuleshov foram tachados de “formalistas”, mais preocupados com o cinema como arte do que em fazer filmes que pudessem ser “entendidos por milhões”.
Um dos filmes mais atacados foi “Outubro”, de Eisenstein. O ataque tinha a ver com a montagem formalista, que “distanciava” o público, com a falta de heróis individuais com os quais as massas pudessem se identificar, pela indicação de um ator não profissional para o papel de Lênin (representado pelo operário Nikandrov). Stálin viu o filme antes da estreia e mandou cortar a cena em que Trotski, “o líder militar da insurreição de outubro”, aparecia ao lado de Lênin. De algum modo, “remontou” o filme.
Stálin era onipresente e fiscalizava, passo a passo, o trabalho dos cineastas. “Em 1938, durante as últimas etapas da montagem de ‘Alexander Nevsky’, de Eisenstein, Stálin pediu para ver as tomadas básicas. O cineasta correu ao Kremlin com tanta pressa que esqueceu um rolo. Stálin ficou encantado, mas, como ninguém se atrevia a informá-lo que estava incompleto, o filme estreou sem o rolo que faltava”, comenta Orlando Figes.
Bem-sucedido na União Soviética, apesar das pressões dirigistas dos bolcheviques, Eisenstein passou três anos no exterior — na França e nos Estados Unidos. Em Hollywood, aprendeu novas técnicas de som e assinou contratos mas não dirigiu filmes. Orlando Figes frisa que ele “gostava da liberdade do Ocidente e temia voltar” ao país de Stálin. Os cineastas ditos formalistas estavam sob ataque de Boris Shumiatsky, o homem do ditador para o cinema. Stálin acusou o diretor de ter desertado para o Ocidente. O NKVD (antecessora do KGB) obrigou a mãe de Eisenstein a escrever cartas pedindo que voltasse para a URSS. Seria castigada se ele não regressasse.
Eisenstein retornou a União Soviética, mas seus projetos não eram aprovados pelo governo bolchevique. Dedicou-se a lecionar na Escola Estatal de Cinema. Ao contrário do que exigia o dirigismo comunista, não renegou seu trabalho dito formalista. Em 1935, convocaram-no para produzir um filme, baseado no conto “O Prado de Biejin”, mas com a história readaptada à circunstância. Na verdade, Eisenstein tinha de filmar a história de Pavlik Morozov, que se tornara herói por denunciar o próprio pai como um kulak que supostamente era contrário à coletivização das terras pelo regime comunista. Morozov havia sido assassinado pelo NKVD com o objetivo de culpar os kulaks.
Porém, ao retratar a coletivização das terras como algo destrutivo, Eisenstein confrontou o regime. Em 1936, com a maior parte do filme rodada, Boris Shumiatsky obrigou ao diretor a reescrever o roteiro. Com a ajuda de Isaac Bábel, mudou o roteiro, retirou uma cena em que os comunistas destruíam uma igreja para atacar os kulaks e acrescentou um discurso em homenagem a Stálin. Mesmo assim, em 1937, Boris Schumiatsky mandou parar o filme e, no “Pravda”, publicou um artigo no qual dizia que o diretor percebia a coletivização como um conflito entre o bem e o mal. O filme seria “formalista” e continha “religiosidade”. Acuado, o cineasta escreveu uma retratação, ainda que levemente satírica. Os negativos foram queimados. As pequenas partes que foram salvas mostram uma “extraordinária beleza fotográfica”, diz Orlando Figes. A censura ao quase-filme “O Prado de Biejin” resultava de uma campanha sistemática contra a vanguarda artística.
Apesar de inovador, “Alexander Nevsky” (1938), seu primeiro filme sonoro, com música de Serguei Prokofiev, não desagradou os stalinistas. Stálin (que adorava faroestes) ficou encantado com o filme. “Na famosa cena da batalha sobre o gelo”, Eisenstein “chegou a rodar as imagens de maneira que concordassem com a partitura”. O ditador não se preocupou com a forma, e sim com a defesa patriótica assumida pelo filme.
Ivan, o Terrível
Robert Gellately diz que Stálin “nomeou” Eisenstein para dirigir um filme sobre o czar que mais admirava, Ivan, o Terrível. Orlando Figes sugere que as cenas de “Ivan, o Terrível” foram estruturadas como se o filme fosse uma espécie de ópera. “A brilhante partitura de Prokofiev se aproxima muito dessa forma astística.” A forma teatral denota a influência de Meyerhold e, musicalmente, há influência de Richard Wagner.
Em “Ivan, o Terrível”, Eisenstein, comenta Orlando Figes, trocava a montagem por “uma clara exposição sequencial do tema por meio dos efeitos combinados de imagens e sons”. Mas, para além da forma, Stálin queria exaltar Ivan, o Terrível para exaltar a si — os dois eram parecidos. “Stálin via Ivan, o Terrível como o protótipo medieval de sua própria atitude como chefe de Estado.” Em 1941, com a União Soviética em guerra, acossada pela Alemanha, o ditador havia concluído que “a força e a crueldade eram necessárias para manter o Estado unido e expulsar os estrangeiros e traidores”. Daí a percepção de que era o novo Ivan, o Terrível.
“O ditador aprovou pessoalmente a produção do épico em três partes. Comissionou sua feitura, editou o roteiro, exigiu música do renomado Serguei Prokofiev e não se preocupou com os altos custos da empreitada para um ano difícil como 1943. Quando a primeira parte da trilogia foi apresentada, em 1944, o ditador não mostrou muita animação. E seu desapontamento, contudo, tornou-se ainda maior depois da guerra, quando houve a pré-estreia da segunda parte, ocasião em que declarou que o filme era ‘uma espécie de pesadelo!’”, informa Robert Gellately. Orlando Figes sustenta que, concebido como uma tragédia, “Ivan, o Terrível”, era uma “versão soviética” de “Boris Godunov” (de Púchkin). Era uma crítica ao custo humano da tirania.
Mas Stálin não ficou chateado com todo o filme. Na versão de Orlando Figes, que contraria a de Robert Gellately, a primeira parte o agradou. É a que mostra Ivan, o Terrível agindo para manter a Rússia unida e sua luta contra os conspiradores boyardos, sua autoridade incontestável e sua capacidade de dirigir a guerra contra os tártaros de Kazan. Eisenstein chegou a ganhar o Prêmio Stálin.
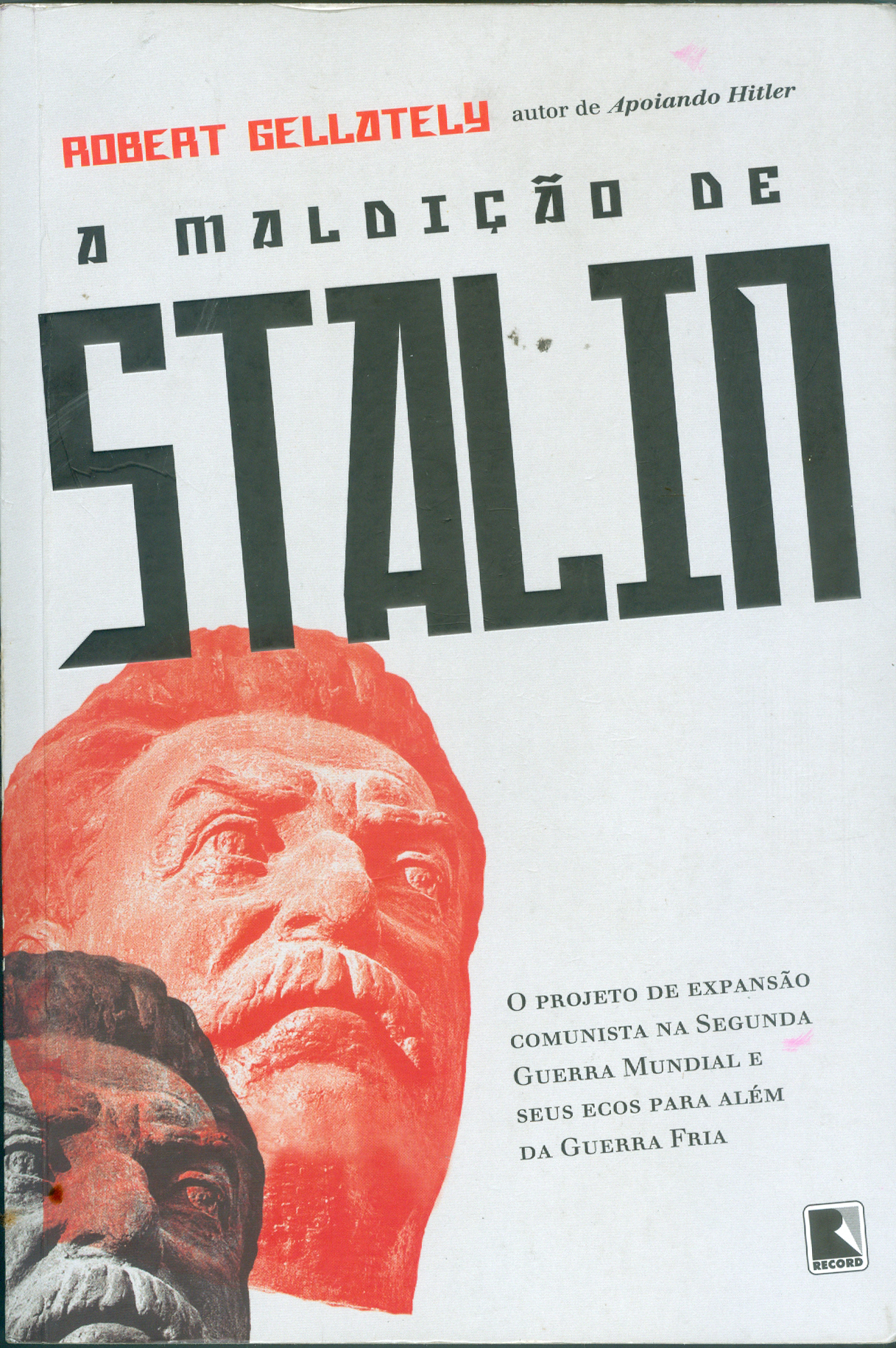
A parte que desagradou Stálin é a segunda. Porque Eisenstein mostra Ivan, o Terrível como um personagem atormentado, acossado pelo terror que o leva à paranoia e a se isolar da sociedade. Os aliados o abandonam e sua mulher é assassinada. Stálin havia mandado executar antigos aliados e sua mulher havia se matado. O filme parecia — e, de algum modo, era — uma biografia do bolchevique. A história, portanto, agradou, mas também desagradou o ditador. Ao expor certa vulnerabilidade de Ivan, o Terrível, o cineasta estava, consciente ou não, expondo as fragilidades de Stálin e, quem sabe, de todos os líderes autocráticos. O homem que mandou matar Trotski, Bukhárin e tantos outros era inteligente e perspicaz e, assim como Eisenstein, percebeu a mensagem só aparentemente soterrada por outras mensagens. O filme era um poço de contradições.
Convocado ao Kremlin, à noite, Eisenstein ouviu críticas pesadas de Stálin. O Ivan, o Terrível do cineasta seria um líder “pusilânime e neurótico”, como Hamlet. O ditador acrescentou que o “verdadeiro” czar era “grandioso” e “sábio” ao proteger a Rússia da influência estrangeira. Stálin admitiu que Ivan havia sido “muito cruel” e que Eisenstein poderia retratá-lo como “cruel”, mas acrescentando “que tinha de ser cruel”. Na conversa, chegou a sugerir que deveria ter matado mais gente.
O “produtor” Stálin decidiu proibir a segunda parte de “Ivan, o Terrível”, mas permitiu ao diretor que fizesse a terceira parte, inclusive com a incorporação das partes permitidas da versão vetada. “Seguindo as instruções de Stálin, Eisenstein inclusive prometeu encurtar a barba de Ivan.” O ditador implicou até com um beijo de Ivan, que julgou “longo demais”. Publicamente, sob pressão, Eisenstein fez autocrítica, sobretudo pelos “desvios formalistas”. A amigos, disse que não mudaria o filme. “Não tenho o direito de distorcer a verdade histórica ou de me afastar de meus ideais criativos”, enfatizou. Orlando Figes assegura que “era evidente que Eisenstein, a quem nunca faltou coragem, estava preparando uma rebelião artística que culminaria com a cena da confissão da última e terceira parte do filme, uma aterradora reflexão sobre a loucura e os pecados de Stálin”.
O ator Mikhail Kuznetsov, durante a filmagem, disse que Ivan, o Terrível havia matado centenas de boyardos. “O czar é ‘terrível’! De que se arrepende?” Eisenstein respondeu: “Stálin matou mais pessoas e não se arrepende. Que veja esta cena, logo se arrependerá”. O diretor não conhecia o suficiente o homem de aço — que não se arrependia de nada que fazia, muito menos das milhões de mortes provocadas diretamente pelo sistema totalitário que criou.
Numa conversa com outro cineasta, que havia percebido a relação do filme “Ivan, o Terrível” com “Boris Godunov”, de Púchkin — indicando a tradição de resistência do humanismo russo presente nas duas obras —, Eisenstein pontuou: “Um homem pode destruir o outro, mas eu, como ser humano, devo sentir que isso é doloroso, porque o homem é o valor supremo. Em minha opinião, essa é a inspiradora tradição de nosso povo, de nossa nação e de nossa literatura”.
Porém, Eisenstein não teve força física para concluir o filme, pois “o infarto o havia deixado inválido”. O diretor morreu em 1948, com apenas 50 anos. Detalhe: o cineasta era judeu e Stálin não apreciava judeus. Stálin chegou a dizer, informa Simon Sebag Montefiore, que o cineasta era “trotskista, senão pior”. Robert Gellately diz que “seu filme sem cortes milagrosamente apareceu nos cinemas soviéticos uma década mais tarde”.
O grande artista, mesmo quando realista, às vezes acredita que é possível criar livremente sob ditaduras. Não é, como prova o caso do genial Eisenstein. Porém, mesmo sob pressão e tentando contribuir com seu cinema para a construção da sociedade e do homem novos — experimento que tende a produzir sistemas totalitários —, o diretor acabou fazendo filmes de primeira linha, que, até hoje, influenciam outros cineastas. Sua arte era engajada, por certo, mas escapou de ser uma arte puramente datada, por não ceder inteiramente ao controle do Partido Comunista. No caso, pode-se concluir que a arte suplantou a ideologia. Tornou-se uma resistência ao regime… e sobrevive bem como arte de primeira linha.


